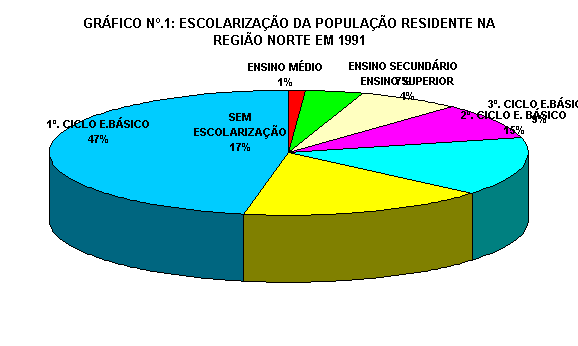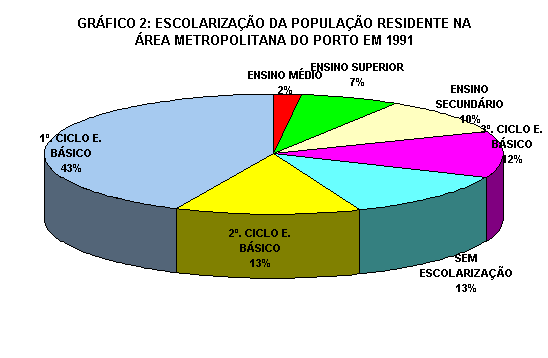Dados mais recentes, patentes no quadro VI, confirmam valores em diminuendo para a taxa de
natalidade, que atinge em 1995 o mínimo de 10.8
por mil (ligeiramente acima da taxa de mortalidade, com 10.4 por mil), o mesmo acontecendo com
a taxa de mortalidade infantil, com 7.4
por mil e a taxa de nupcialidade com 6.6
por mil no mesmo ano. Se, no caso das taxas de natalidade e nupcialidade as
reduções são relativamente “suaves”, limitando‑se a confirmar um
movimento anterior, já no caso da taxa de mortalidade infantil, mesmo pensando
nos fabulosos ganhos que precederam o ano de 1985, os progressos continuam a
ser assinaláveis.
Quadro
VI — Indicadores Demográficos (Portugal)
|
Designação do Indicador |
Valor |
Unidade |
Período |
|
Índice de envelhecimento |
83.5 |
Percentagem |
1995 |
|
Taxa de Mortalidade |
10.4 |
Permilagem |
1995 |
|
Taxa de Natalidade |
10.8 |
Permilagem |
1995 |
|
Taxa de Nupcialidade |
6.6 |
Permilagem |
1995 |
|
Taxa média de mortalidade
infantil no Quinquénio |
8.9 |
Permilagem |
1991/1995 |
|
Saldo migratório |
0.5 |
Permilagem |
1995 |
Fonte: INE, Infoline. Pesquisa por Unidade Territorial.
De qualquer forma, importa distinguir entre períodos
diferentes. Assim, enquanto que a década de 70, no seu conjunto, revela um
forte crescimento efectivo da população[542],
extensível a todo o território, embora de forma não homogénea, já a década de
80 se caracteriza por uma estagnação generalizada. O crescimento anual médio é,
de facto, reduzidíssimo: 0.03%[543].
Como consequência, “a maioria das regiões
do País vê a sua população diminuir, e em certos casos de forma muito intensa”[544].
Entre 1986 e 1991 existiu mesmo, para o conjunto do país, uma perda contínua de
população (Quadro VII).
QUADRO VII — ACRÉSCIMO DE POPULAÇÃO POR NUTS I, II E
III
|
ANO |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
|
PORTUGAL |
64960 |
55170 |
30830 |
38590 |
5770 |
‑ 7250 |
‑ 25690 |
‑ 26310 |
|
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
|
‑ 35360 |
‑ 32210 |
‑ 12597 |
4270 |
22999 |
19980 |
8260 |
13350 |
FONTE: INE, INFOLINE, DEMOGRAFIA E CENSOS
Termina, deste modo, o que Ferrão apelida de fase de “transição demográfica”, acompanhada da “transição epidemiológica”, que acarreta
modificações fundamentais nas causas de morte, num movimento de aproximação aos
países mais desenvolvidos (recuo das doenças infecciosas e parasitárias,
aumento significativo das doenças cérebro‑vasculares e dos tumores
malignos). Finalmente, desenvolve‑se, também, a “transição familiar”: retardar da idade do casamento[545],
diminuição das famílias numerosas, aumento moderado da “família nuclear”,
aumento das taxas de divórcio, em especial a partir da década de 90 (fenómeno
da precarização das uniões) e das uniões de facto, bem como dos nascimentos
fora do casamento (informalização). Neste último caso (proporção de nados‑vivos
fora do casamento), apesar dos valores serem, em 1992, os mais elevados dos
países da Europa do Sul, situam‑se, ainda, em níveis inferiores aos da
média comunitária.
Uma consequência da maior importância desta transição (ou
conjunto de transições) para o Portugal demográfico «moderno» prende‑se
com o processo de duplo envelhecimento da população, visível tanto no topo como
na base da pirâmide etária, arredondando‑a: há cada vez mais idosos e
menos jovens (Quadro VIII).
QUADRO VIII — População por escalões
etários, em 1960, 1971, 1981 e 1991 (Milhares)
|
|
0‑14 anos |
15‑24
anos |
25‑64
anos |
65
ou + anos |
|
1960 |
2592
(29,2) |
1452 (16,3) |
4136 (46,5) |
709 (8,0) |
|
1970 |
2452
(28,4) |
1359 (15,8) |
3968 (46,1) |
833 (9,7) |
|
1981 |
2509
(25,5) |
1628 (16,6) |
4571 (46,5) |
1125 (11,4) |
|
1991 |
1972
(20,6) |
1610 (16,8) |
4718 (49,2) |
1283 (13,4) |
|
1996 |
1716 (17.3) |
1595 (16.1) |
5144 (51.8) |
3105 (14.9) |
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, in
João F. de Almeida, A. Firmino da Costa, F. Luís Machado, op. cit., p. 314 e Infoline.
Estimativas da População Residente, 1996
Os mais novos, no grupo etário dos 0‑14 anos,
representam em 1996 17.3% da
população, contra 25.5 % em 1981.
Por seu lado, os indivíduos com 65 e mais anos constituem neste mesmo ano 14.9% da população, enquanto em 81 se
quedavam pelos 11.4%. “Enquanto que, em 1981, por cada 100 jovens
com menos de 15 anos existiam 44.9 pessoas com 65 e mais anos”[546],
em 1996, o índice de envelhecimento atingia já os 86.1%[547] (Quadro IX).
Quadro IX — Índices de Dependência e Envelhecimento em
1996 (Portugal)
|
NUTS I |
Índices |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dependência Total |
Dependência Jovens |
Dependência Idosos |
Envelheci‑mento |
|
Portugal |
47,4 |
25,5 |
21,9 |
86,1 |
|
Continente |
47,2 |
25,1 |
22,1 |
88,2 |
|
Reg. Aut. dos Açores |
55,4 |
36,6 |
18,8 |
51,4 |
|
Reg. Aut. da Madeira |
48,9 |
31,0 |
17,9 |
57,8 |
|
|
|
|
|
|
Fonte: INE, Estimativas de População Residente, nº25
Por outro lado, tal como se verifica no mesmo quadro, o
índice de dependência de jovens e de idosos tende a aproximar‑se[548].
António F. Costa e Fernando L. Machado salientam que “tanto a natalidade como a fecundidade passaram, em 1991, para metade
dos valores que registavam 30 anos atrás”[549].
Se a estes factores adicionarmos o aumento da esperança média de vida,
compreenderemos melhor todo este processo. Convém referir, no entanto, o
desigual grau de envelhecimento do país: enquanto o Norte e as Regiões
Autónomas são, ainda, zonas relativamente rejuvenescidas, a Região Centro, o
Algarve e particularmente o Alentejo apresentam elevados níveis de
envelhecimento (nestas regiões há já mais idosos do que jovens com menos de 15
anos).
Estas alterações foram acompanhadas de profundas mutações
no ordenamento do território. Antes de mais, verificou‑se um intenso
processo de “desagregação da(s)
ruralidade(s), em duas vertentes: a “dissociação
mundo rural‑agricultura” (deixa de constituir a principal actividade,
mesmo em meio rural) e a “dissociação
ruralidade‑meio urbano”[550]
(as primeiras gerações de origem urbana ou suburbana mantêm vínculos muito mais
ténues com a mundividência rural).
Outras modificações estruturais merecem ser realçadas.
Atente‑se na distribuição da população activa por sectores de actividade.
À acentuada subalternização da agricultura sucede‑se, paralelamente, uma
transferência maciça, e por vezes de forma directa, para o sector dos serviços.
Em Portugal, o sector secundário nunca chegou a ser predominante, o que
constitui, sem dúvida, um dado essencial a reter para se compreender o processo
de industrialização português. Aliás, se atentarmos nos números, constatamos
que o sector terciário representa, em 1992, 55.2% da população activa portuguesa, enquanto o sector secundário
se queda pelos 33.2% e a agricultura
não ocupa mais de 11.6%[551].
Dados mais recentes, do Inquérito ao
Emprego, apontam para um ligeiro aumento da população activa no sector
primário (13.6%), uma estagnação do
secundário (31.6%) e dos serviços (54.8%)[552]. Repare‑se que, em 1960, quase
metade da população trabalhava ainda no sector primário (43.6%) e o sector terciário representava menos de 30%[553].
Consequentemente, diminui drasticamente o peso relativo
dos trabalhadores da agricultura e pesca na estrutura da população activa (43.6% em 1960 e 8.5% em 1992), verificando‑se, igualmente, embora de forma
muito mais paulatina, uma tendência de decréscimo de importância dos
trabalhadores industriais, em particular se considerarmos a última década (de 40.5% em 1981 para 32.4% em 1992). Pelo contrário, aumentam consideravelmente as
profissões intelectuais, científicas e técnicas (aumento constante desde 1960),
os empregados administrativos e, na última década e de forma fulgurante, os
directores e quadros dirigentes (1.6%
em 1981, 11.4% em 1992)[554].
Pode‑se falar, neste âmbito, de um fortalecimento das “novas classes
médias”, profundamente ligado à rápida urbanização e terciarização bem como à
melhoria dos níveis de escolaridade. Aliás, os indicadores de mobilidade social
demonstram que o lugar de classe associado aos profissionais técnicos e de
enquadramento recruta cerca de 30%
dos seus efectivos em outras fracções de classe, nomeadamente junto do
operariado agrícola e industrial e do campesinato. O mesmo acontece com os
empregados executantes (geralmente associados ao terciário inferior) que
recebem 53.3% do seu contigente das
mesmas fracções de classe anteriormente referidas[555].
Outro dado extremamente significativo revela‑nos que cerca de 40% dos empresários e dirigentes são
oriundos do operariado e dos assalariados agrícolas. Este fenómeno de autêntica
“mobilidade social estrutural”
(resultante do “próprio movimento global
da estrutura social”[556])
encontra ainda uma expressiva tradução nos níveis de escolaridade de ego, por
comparação com o grau de ensino do pai e da mãe[557].
De acordo com o Estudo Nacional de Literacia, baseado numa amostra
representativa da população portuguesa, dos inquiridos portadores de um diploma
de ensino superior (5.5%), 53.1% dos pais não possuíam mais do que
o 1º ciclo do ensino básico, sendo que 10.7%
não detinham mesmo qualquer grau. No que se refere às mães, o abismo é ainda
mais acentuado: 62.6% não iam além
do 1º ciclo do básico (18.2% sem
qualquer grau).
Esta(s) classe(s), que protagonizam (hipótese a testar)
um importante papel nas práticas culturais urbanas, caracterizam‑se por
uma grande separação física e simbólica face aos contextos físicos do trabalho
manual, pelo exercício de competências de autoridade e, principalmente, pelo
seu carácter de “grupo distributivo”[558],
ligado a um certo estilo de vida baseado em padrões de consumo similares e, por
conseguinte, a um campo relativamente fechado de relações sociais.
Um estudo mais recente sobre a estrutura de classes
portuguesa e os processos de mobilidade social, aplicando o modelo teórico de
Erik Olin Wright chega a conclusões semelhantes, no que se refere à mobilidade
estrutural, mas acrescenta novos resultados quanto à mobilidade social relativa
e intergeracional[559].
De facto, e no que concerne à análise das taxas de retenção e de recrutamento
das diferentes categorias de classe, constata‑se que “a estrutura apresenta um grau de abertura elevado e, por consequência,
movimentos substanciais entre as localizações de classe que possuem
propriedade, autoridade e qualificações”[560].
As excepções são a “pequena burguesia agrícola” e, em particular, os
“trabalhadores”, o que leva os autores a salientar que “a reprodução social nos mais desfavorecidos é bastante acentuada”[561].
Tal como no estudo anterior, os detentores de capital económico (ou seja, de
propriedade) revelam‑se como uma categoria extremamente permeável à
mobilidade. Assim, estaremos em presença de uma sociedade dual, onde, ao
contrário dos mais favorecidos que possuem possibilidades acrescidas de
mobilidade social, os desfavorecidos encontram barreiras assinaláveis e
oportunidades reduzidas. Entretanto, a análise da mobilidade relativa[562]
permite concluir que os principais obstáculos a trajectórias ascendentes
residem na esfera da Autoridade e, principalmente, na das Qualificações, o que
leva os autores a considerar que “em
Portugal, é a hipótese de Bourdieu (valor das credenciais) que se mostra (...)
como mais plausível”[563].
Por outras palavras, os diplomas escolares apresentam‑se como passaporte
indispensável de mobilidade social, com a agravante de terem sofrido uma
acentuada desvalorização, fruto da massificação escolar iniciada nos anos 60: “para os mesmos lugares na estrutura social,
sobretudo os mais valorizados socialmente, são necessárias mais qualificações”[564].
Daí que se mantenham as distâncias sociais relativas entre as diferentes
categorias de classe.
No entanto, a importância das qualificações afecta,
sobretudo, os mais jovens (indivíduos com menos de 35 anos), já que, devido ao
cariz tardio e limitado da expansão escolar, apenas recentemente os diplomas se
tornaram requisitos obrigatórios de entrada nos segmentos qualificados do
mercado de trabalho. Por outro lado, ainda de acordo com os autores, a aposta
na escolaridade é sobretudo um atributo das categorias sociais que já possuíam
algum capital escolar, visto que a pequena burguesia tradicional continua a
investir na propriedade (aproveitando a agricultura de cariz doméstico e o
trabalho informal para se instalar por conta própria), enquanto que os
trabalhadores são vítimas da função selectiva da instituição escolar. Aliás, um
estudo de Carlos Farinha Rodrigues vem comprovar que as variáveis económicas e
de segmentação educacional são as principais responsáveis (e não as de cariz
regional ou demográfica) pela desigualdade de tipo inter‑grupal durante a
década de 80[565].
Outro factor de primordial importância para a compreensão
da evolução do país nas últimas décadas liga‑se ao aumento substancial da
participação feminina na população activa. De facto, a taxa de actividade
feminina aumentou de 13.0% em 1960,
para 41.3% em 1992[566],
representando a taxa mais elevada da União Europeia, quando medida em horas de
trabalho. Paralelamente, o peso relativo dos homens activos tem vindo a
decrescer. Nos escalões mais jovens esta tendência é ainda mais acentuada: a
taxa de actividade feminina quase se assemelha à masculina. Em 1997, a taxa de
actividade feminina era de 45%[567],
ascendendo a 52.2% no sector dos
serviços.
Desta forma, a forte participação feminina na população
activa foi de forma a substituir a diminuição da taxa de actividade masculina, “sobrecompensando largamente fenómenos
semelhantes de envelhecimento na estrutura etária, aumento da escolarização e
diminuição de inserções precoces no mundo do trabalho”[568].
De referir que este notável incremento da participação feminina tem, segundo A.
Barreto, motivos históricos bem precisos, em particular a penúria de mão‑de‑obra
causada pela fortíssima emigração dos anos 60 e princípios dos anos 70, a par
da guerra colonial. Além do mais, como referem F. Luís Machado e António
Firmino da Costa, apesar da sua indissociável ligação a mudanças estruturais no
papel da mulher na sociedade portuguesa (por exemplo, na generalização do
modelo da família de dupla carreira), este processo articula‑se, também,
com a necessidade de complementar os rendimentos dos agregados domésticos,
exercendo‑se, muitas vezes, em situações qualitativamente
desqualificantes[569].
No entanto, Estanque e Mendes chegam à conclusão de que as probabilidades de
ascensão social são significativamente mais elevadas para as mulheres, em todas
as classes sociais: “o efeito concertado
das qualificações, da autoridade e da propriedade, obriga os homens em Portugal
a travar uma luta significativa para melhorar as suas oportunidades sociais
(...) Para elas, a estrutura social apresenta‑se totalmente permeável”[570].
Estes autores explicam o fenómeno, não só pelo aumento da sua participação na
população activa, mas também pelos seus elevados índices de escolaridade, em
particular nos patamares mais elevados, bem como pelo papel empregador da
Administração Pública (fruto da expansão tardia do Estado‑Providência).
Aliás, o facto já referido da feminização da população activa ser muito mais
nítida no sector terciário (superando a participação masculina), sugere algum
paralelismo entre o incremento deste sector e o aumento daquela taxa.
Finalmente, estes valores colocam Portugal numa posição extremamente singular
no quadro europeu, distanciando‑nos dos países do Sul e aproximando‑nos
das economias mais avançadas[571].
3. Reordenamento do território e
assimetrias regionais: retrato de um país a várias velocidades.
O país, como já salientámos, aumenta consideravelmente a
sua população na década de 70 (em especial na sua segunda metade[572],
devido ao efeito conjugado do retorno das ex‑colónias e de algum retorno
da emigração europeia) e muito timidamente na década seguinte (pode mesmo falar‑se
de estagnação). No entanto, esse crescimento processou‑se de forma
bastante desigual ao longo do território (Quadro
X). Os saldos migratórios, aliás, revelam regiões eminentemente atractivas
e regiões claramente repulsivas.
QUADRO X — População por regiões, em
1960, 1970, 1981 e 1991 (Milhares)
|
|
Norte Litoral |
Porto |
Centro Litoral |
Norte/ Centro Interior |
Lisboa/ Vale do Tejo |
Alentejo |
Algarve |
Madeira |
Açores |
Total do País |
|
1960 |
875 (9,8) |
1193 (13,4) |
1363 (15,3) |
1640 (18,4) |
2222 (25,0) |
685 (7,7) |
314 (3,5) |
269 (3,0) |
328 (3,7) |
8889 (100,0) |
|
1970 |
864 (10,0) |
1319 (15,2) |
1329 (15,3) |
1328 (15,3) |
2483 (28,7) |
532 (6,1) |
269 (3,1) |
253 (2,9) |
287 (3,3) |
8664 (100,0) |
|
1981 |
966 (9,8) |
1562 (15,9) |
1480 (15,1) |
1312 (13,3) |
3182 (32,4) |
512 (5,2) |
324 (3,3) |
253 (2,6) |
243 (2,5) |
9833 (100,0) |
|
1991 |
987 (10,0) |
1635 (16,6) |
1501 (15,2) |
1172 (11,9) |
3220 (32,7) |
474 (4,8) |
368 (3,7) |
264 (2,7) |
241 (2,4) |
9862 (100,0) |
|
1960/91* |
+112 (+12,8) |
+442 (+37,0 |
+138 (+10,1) |
‑468 (‑28,5) |
+998 (+44,9) |
‑211 (‑30,8) |
+54 (+17,2) |
‑5 (‑1,9) |
‑87 (‑26,5) |
+973 (+10,9) |
Nota: * Taxa de Variação. Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População (1960, 1970, 1981 e 1991), in J. Ferreira de Almeida, A. Firmino da Costa, F. Luís Machado, “Recomposição Socioprofissional e Novos Protagonismos”, in op. cit.., p. 309.
De forma geral, pode dizer‑se que as maiores taxas
de crescimento efectivo se verificaram no litoral do Minho ao Sado e Algarve[573].
Merecem especial destaque a Península de Setúbal e as duas áreas
metropolitanas, apesar de valores de crescimento muito elevados em determinadas
regiões do Norte Litoral (Cávado, Ave, EntreDouro, Vouga, etc.).
Concomitantemente, as migrações internas acentuaram um
abandono muito relevante das principais regiões do interior, num movimento de
generalizado êxodo rural que atingiu o seu pico durante o período 1960‑73,
por razões que, segundo João Ferrão, se ligam à saturação “quer do ciclo emigratório intercontinental (EUA e sobretudo Brasil)
(...) quer da ocupação das áreas de charneca do Alentejo e Ribatejo”[574].
Por isso mesmo, “os anos de 1960‑73
correspondem ao período do Portugal contemporâneo em que as clivagens
territoriais atingem a sua expressão máxima”[575].
Durante esse período, a densidade média nacional baixa cerca de 2%. Com excepção do Porto (que mantém a
sua população) e de Lisboa (que a vê aumentar), a situação assemelha‑se a
um cataclismo. Em muitos concelhos rurais verificam‑se perdas na ordem
dos 30%. Em Trás‑os‑Montes,
por exemplo, as densidades populacionais regridem para níveis semelhantes aos
de 1911. Segundo François Guichard, tal conjuntura “é um caso quase único no mundo actual, fora de cataclismo natural ou
de guerra afectando a metrópole”[576].
Em 1981 a situação demográfica portuguesa, apresenta,
então, três características essenciais: litoralização, bipolarização (em Lisboa
e Porto) e aglomeração versus
esvaziamento. Esta última tendência liga‑se, fundamentalmente, à
consolidação do crescimento dos centros populacionais com mais de 10 mil
habitantes, verificando‑se, por contraponto a esta vertente, uma
rarefacção da população nas zonas circundantes. Este factor provoca efeitos
muito especiais no interior do país, promovendo os centros urbanos como as
capitais de distrito ou as sedes de concelho que oferecem uma
quantidade/qualidade mínima de serviços indispensáveis.
Na década de 90, apesar de, no essencial, se manterem
estas tendências, assiste‑se a uma crescente complexificação das
situações‑tipo do mapa português. Longe, bem longe, apesar de apenas três
décadas se terem passado, ficava o Portugal do “bom velho mundo rural”, onde as
marcas de modernidade, de tão confinadas, não conseguiam contrariar a imagem de
um país parado no tempo.
3.1. A
sociedade dualista
Em notável estudo publicado em finais da década de 60,
Adérito Sedas Nunes refere‑se ao nosso país como uma “sociedade dualista em evolução”, dualismo esse com várias
vertentes: sociológico, económico e cultural. Por um lado, temos uma parcela
restrita do território, concentrada nos meios mais privilegiados de Lisboa e
Porto, onde se verifica o aumento de mão‑de‑obra minimamente
qualificada nos sectores da indústria e serviços; áreas que correspondem à
maior concentração do produto interno bruto, dos capitais, dos rendimentos, dos
cuidados de saúde, dos equipamentos, etc., etc. Em suma: “à margem e ao redor de algumas restritas áreas socialmente
privilegiadas, nas quais os diversos elementos utilitários da civilização
moderna atingiram já um grau notável de difusão, perdura e se estende toda uma
zona social muito mais extensa, imersa em condições de vida e formas de
civilização tradicionais”[577].
A esse sector, urbanizado e possuidor dos estilos de vida
ocidentais, contrapunha‑se o resto do país, incipientemente escolarizado[578],
com uma agricultura de subsistência, representando uma sociedade bloqueada, a
que apenas restava uma solução: “a fuga,
o abandono — fuga e abandono numa escala sem precedentes”[579].
De rural, o êxodo adquire com a emigração dimensões nacionais.
Esta sociedade ainda persiste. João Ferrão fala‑nos
da persistência da tradicionalidade na sociedade portuguesa: “(...) a ruralidade dos campos tenderá a
persistir, ainda que assumindo novas configurações”[580].
No entanto, trata‑se agora de uma “ruralidade
urbana”, extremamente associada às migrações internas e que tenderá a
incorporar‑se ou diluir‑se nos novos mapas culturais, à medida que
vão falecendo os “avós da «terra»”.
Nada há de comum com o Portugal dos anos 60, em que apenas 17.8% das habitações possuía cozinha ou onde, por mil habitantes,
não havia mais do que 35.7 telefones particulares[581].
Nesses tempos, “o moderno aparece como um
conjunto de rasgões e de furos abertos na imensa manta tradicional”[582].
Não admira, por isso, que A. Sedas Nunes, apesar de recusar o derrotismo
fatalista, revele poucas esperanças quanto às possibilidades de alastramento do
reduzido “sector moderno” da sociedade portuguesa. Aliás, o autor não afasta a
hipótese de “regressão e degenerescência”,
ou mesmo de bloqueio dos esforços progressistas: “Assim, sob a capa de um crescimento global estatisticamente
comprovado, não pôde ver‑se que só
muito parcialmente, e muito localizadamente, a sociedade portuguesa se ia
desenvolvendo. E mal se começa a
aperceber que um restrito desenvolvimento
até as possibilidades ou perspectivas
futuras do crescimento que se tem verificado pode vir a
comprometer”[583].
3.2. A
complexificação do xadrez territorial
A situação, no entanto, evoluiu de forma
consideravelmente diferente (apesar da permanência, nalguns casos estrutural,
de factores e formas de tradicionalidade, como adiante desenvolveremos). Se
atentarmos apenas às dinâmicas demográficas do presente, podemos detectar,
segundo João Ferrão, “cinco lógicas
autónomas”[584],
que têm subjacentes um suporte de desenvolvimento económico:
– a concentração nas áreas metropolitanas de Lisboa e
Porto, especialmente atractivas nas décadas de 60 e 70, com incremento da
suburbanização e declínio relativo das duas grandes cidades durante os anos 80;
– atractividade do litoral algarvio, onde se verifica, de
1985 a 1991 um saldo migratório positivo semelhante ao de Lisboa e Vale do
Tejo, situação que se encontra sem dúvida ligada ao potencial turístico desta
região;
– crescimento das cidades de média dimensão, em parte
devido às melhorias no sector dos serviços, em especial os da Educação e Saúde,
quer pelo dinamismo do poder local, quer ainda pela desconcentração de serviços
ao nível regional e subregional;
– dinamismo das áreas de industrialização rural difusa, a
par do alargamento das bacias de emprego e da intensificação dos movimentos pendulares;
– concentração de população ao longo dos grandes eixos
viários.
Assim, passa‑se de um modelo baseado em dicotomias
(rural versus urbano; litoral versus interior; Norte versus sul; etc.) para um modelo
multipolar, marcado, não tanto por movimentos inter‑regionais mas sim por
fluxos internos[585],
“traduzindo‑se por configurações
territoriais em arquipélago”[586],
onde se destacam, pelo seu dinamismo, as “ilhas”
já mencionadas, rodeadas por “áreas
submersas”, caracterizadas pela estagnação ou redução demográficas,
colocando‑se em risco, muitas vezes, o limiar mínimo que justifica a
instalação de equipamentos e serviços, factor que reforça, ainda mais, a
concentração nas tais “ilhas”, onde
se consolidam “pontos estratégicos de
densidade relacional mínima entre indivíduos, grupos, instituições e empresas”[587].
Álvaro Domingues vai no mesmo sentido, referindo as
múltiplas metamorfoses do rural e do urbano (traduzidas por conceitos como
“rurbanização”, “urbanização in situ”,
“urbano difuso”, “conurbação”, “área metropolitana”, etc.) e propondo,
igualmente, um modelo territorial do tipo “reticular”, correspondente a um “contexto em que o quadro da mobilidade das
pessoas, dos bens, da informação, dos fluxos financeiros, etc., é cada vez mais
complexo (...) transformando os efeitos geográficos do isolamento ou da
exclusão em efeitos de relação”[588].
Não será, todavia, algo apressado negar operacionalidade
(e actualidade) às “antigas” dicotomias”?
Augusto Santos Silva, por exemplo, referindo‑se à
evolução demográfica da década de 80 fala do reforço das “relações de dominação e dependência”[589]
que reduz à dualidade e competição entre as duas maiores cidades as principais
questões das assimetrias regionais, criando um vasto território ausente,
incapaz de se fazer ouvir e de se afirmar como problema político a resolver.
Desta forma, o país “parece mais pequeno”,
principalmente quando falamos do “mapa
(...) a que nos costumamos referir, quando tomamos ou discutimos opções
políticas estratégicas, nos mais diversos domínios da vida social”[590].
Mário Leston Bandeira, por seu lado, retoma a questão do
dualismo Norte/Sul. Segundo este autor, a especificidade do processo de
transição demográfica português prende‑se à coexistência de dois modelos
diferentes: um, comum às regiões do Sul e semelhante ao conjunto europeu, e
outro, característico das regiões do Norte através do qual se exprime um
processo de “modernização lenta e tardia”[591].
Assim, o desaparecimento progressivo dos sistemas
demográficos regionais processou‑se, no nosso país, de forma extremamente
paulatina. A nupcialidade muito lentamente deixou de desempenhar o seu papel
regulador, tardando a desaparecer as imposições familiares, comunitárias e
clericais ao casamento. Mas, mais importante ainda, o desaparecimento dessas limitações
e o surgimento de padrões sexuais e familiares modernos foi mais rápido no Sul
do que no Norte do país. Melhor se compreende, por isso, que, apesar de no
período anterior à transição demográfica o Norte possuir uma taxa de natalidade
menos elevada (as mulheres casavam mais tardiamente e, por isso, o seu
intervalo de fecundidade era mais curto), ter sido no Sul que esta mais
rapidamente desceu, aproximando‑se dos valores europeus, das práticas
malthusianas modernas e dos novos modelos familiares (marcados, como de resto
já referimos, por um aumento das taxas de divórcio, pela informalização e
precarização das uniões, pelo aumento do número de filhos exteriores ao
casamento, das famílias monoparentais e dos casos de celibato voluntário, em
suma, pela diversificação de situações).
Leston Bandeira afirma, por isso, que o dualismo que
atravessa a sociedade portuguesa não é tanto o do urbano versus rural mas sim o do Norte versus
Sul. Prova dessa tendência estrutural é a existência de duas lógicas urbanas autónomas:
a de Porto e a de Lisboa: “No plano
demográfico, os traços distintivos entre populações urbanas e populações não
urbanas são ténues: o distrito do Porto esteve sempre mais próximo dos
distritos vizinhos do que do distrito de Lisboa, o qual, por sua vez, sempre
manifestou afinidades com os outros distritos do Sul”[592].
João Ferrão, no entanto, aponta claramente para uma
convergência dos dois regimes demográficos. Do mesmo modo, Fernando Luís
Machado e Firmino da Costa, apesar de não negligenciarem algumas importantes
variações regionais (patentes, por exemplo, na enorme dispersão dos valores da
densidade populacional e na desertificação do interior, por comparação com o
litoral onde se concentra 80% da
população) reconhecem o “esbatimento das
tradicionais disparidades” patente no facto “de hoje as taxas de natalidade, fecundidade e mortalidade infantil
das várias regiões se encontrarem mais próximas umas das outras do que alguma
vez estiveram nos últimos 150 anos”[593].
3.3. O
modelo de desenvolvimento português: rupturas e permanências.
António Barreto traça um cenário bastante optimista sobre
a mais recente evolução social portuguesa. Apesar de reconhecer as limitações e
insuficiências deste movimento de progresso (queda real do salário mínimo, distribuição
muito desigual das receitas dos agregados económicos, penalizando,
essencialmente, os activos ligados à agricultura e reflectindo uma “forte desigualdade social estrutural”[594],
etc.), não se cansa de assinalar os saltos quantitativos (mais significativos)
e qualitativos (mais tímidos): “Portugal
fez, em vinte ou trinta anos, o que, noutros países, tinha demorado cinquenta
ou sessenta. Em muitos aspectos, sobretudo os económicos, Portugal não chegou a
ficar a par dos vizinhos europeus, nem chegará tão cedo. Mas, noutros,
sobretudo nos sociais, culturais e demográficos, os Portugueses parecem‑se
hoje, de modo definitivo, com eles”[595].
Admitindo a sua ocorrência, quais foram, então, os
elementos estruturantes dessa acelerada transformação?
Antes de mais, o aumento da coesão nacional, apesar do
reconhecimento da pluralidade cultural, étnica, política, religiosa, económica.
Intimamente relacionado com esta consolidação estrutural, encontra‑se a
redução espacial das assimetrias, que são, cada vez mais, de cariz económico e
social. Desta forma, a sociedade dualista delineada por A. Sedas Nunes, segundo
A. Barreto, “quase não existe mais”[596].
Aliás, expande‑se o Estado‑Providência, apesar das suas
deficiências e limitações, em especial na qualidade dos serviços, protegendo
socialmente os excluídos e ganhando uma cobertura universal. O aumento da
função social do Estado (traduzido pela integração de toda a população,
incluindo os que nunca contribuíram para a segurança social), caminha a par do
incremento do papel da administração pública na economia, o que reforça, em
ambos os casos, o processo anteriormente referido de terciarização.
Na educação, tornada a principal
rubrica da despesa do Estado, as alterações são também fundamentais: eliminação
quase total do analfabetismo juvenil, taxas de quase 100% na frequência do
ensino básico, aumento muito significativo da frequência do ensino secundário
e, em especial, do ensino superior, cuja população “mais do que decuplicou nas três (últimas) décadas”[597]
(Quadro XI).
QUADRO
XI — Evolução
dos Níveis de Ensino Atingidos, de 1960 a 1991 (%)
|
|
1960 |
1970 |
1981 |
1991 |
|
Básico (primário e preparatório) |
32,8 |
52,2 |
56,7 |
64,8 |
|
Secundário (unificado e complementar) |
4,6 |
7,8 |
12,3 |
21,5 |
|
Médio/Superior |
0,8 |
1,6 |
3,6 |
8,0 |
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, in J. Ferreira de Almeida, A. Firmino da Costa, F. Luís Machado, op. cit., p. 315.
F. Luís Machado e António Firmino da Costa realçam que, “em 30 anos (...) a proporção de
universitários na faixa etária dos 20‑24 anos salta de 3.4% em 1960 –
valor que deixa claro que nessa época andar na universidade correspondia a um
estatuto de elite –para perto de 30% em 1991”[598].
Em 1996, essa percentagem eleva‑se para 35.2% (Quadro XII[599]).
QUADRO XII — Percentagem de
Universitários sobre a População de 20‑24 anos
|
|
Homens |
Mulheres |
HM |
|
1960 |
5,0 |
1,9 |
3,4 |
|
1970 |
8,7 |
6,1 |
7,3 |
|
1981 |
12,0 |
9,9 |
11,0 |
|
1989 |
15,3 |
19,3 |
17,3 |
Fonte: INE, Estatísticas da Educação e Recenseamentos Gerais da População, in J. Ferreira de Almeida, A. Firmino da Costa, F. Luís Machado, op. cit., p. 315 e Infoline. Séries Cronológicas. Estimativas da População Residente Segundo o Sexo por Idades.
Simultaneamente, as universitárias tornam‑se maioritárias, se
atendermos à composição sexual da população do ensino superior. “No escalão dos 20 aos 29 anos, a
percentagem de mulheres com um diploma universitário era, em 1992, já
claramente superior à homóloga masculina”[600].
Na saúde, os cuidados médicos essenciais alargaram‑se,
também, a todo o território nacional, factor que encontra uma vez mais
correspondência no aumento intenso da despesa pública neste domínio[601].
Mesmo em factores como a posse de equipamentos ou a
estrutura dos orçamentos familiares é possível notar, apesar da persistência
das desigualdades, “uma relativa
aproximação dos padrões de consumo por parte dos vários grupos sociais”[602].
Em 1995, 99.3% da população possui
fogão, 94.5% frigorífico, 90% aparelho de rádio, cerca de 88% televisão a cores, 72.8% uma máquina de lavar roupa, 72% telefone, 58.4% um aspirador, 52%
automóvel, 18.2% leitor de “compact‑disc”[603].
Quanto ao início deste amplo e variado processo de
transformações, a opinião de A. Barreto coincide com a de José da Silva Lopes:
apesar da expansão dos direitos sociais ser uma consequência directa da sua
consagração no período pós 25 de Abril, a “verdadeira
revolução económico social”[604]
antecedeu a ruptura revolucionária e teve lugar “durante os «anos de ouro» da década de 60 até 1973”. De acordo com
esta tese, as reformas económico‑sociais precederam e de certo modo pressionaram
as transformações políticas imediatamente posteriores.
Outros autores e outros números levantam algumas dúvidas
sobre as análises antecedentes.
Fernando Medeiros, por exemplo, traça uma clara linha de
continuidade na evolução económico‑social das últimas três décadas, com
os efeitos da adesão à União Europeia a compensarem as perdas resultantes da
quebra da emigração. Aliás, no balanço possível, apesar de pesarem
favoravelmente uma melhoria da situação financeira (proporcionada pela redução
do défice do sector público e do endividamento externo), das infraestruturas
físicas e um tímido lançamento do “Estado‑Providência, contam
negativamente o aumento dos desequilíbrios territoriais, a contenção dos
salários reais, a precaridade do emprego, os baixos salários (que penalizam,
principalmente, mulheres e jovens) e as extensas manchas de pobreza[605].
A este respeito, José Pereirinha, que considera a pobreza um fenómeno
multidimensional, cumulativo e estrutural, refere dados de 1990 (Eurostat) que
indicam que o nosso país possuía o PIB per
capita mais baixo da U. E., bem como a média de salários mais reduzida.
Ainda segundo o mesmo autor, a redução da pobreza na década de 80, foi
insignificante nas zonas urbanas e inexistente nas áreas rurais, onde se terá
mesmo verificado um agravamento das condições de vida. Assim, apesar do
crescimento significativo do PIB na década de 80[606],
que atingiu, no discurso oficial, dimensões retóricas assinaláveis, as
melhorias na justiça redistributiva foram extremamente modestas[607].
O próprio processo de modernização acarretou a vulnerabilização de novas
franjas sociais, doravante em situação de inadaptação face às reconversões
tecnológicas (alguns chamam‑lhes mesmo os “novos pobres”[608]).
Alem do mais, persiste um atraso assinalável em relação à média comunitária, no
que respeita à protecção social. As despesas correntes neste domínio, bem como
os montantes per capita são os mais
fracos da comunidade europeia. Como alguns autores sublinham, o Estado‑Providência
português nunca ganhou uma dimensão comparável ao dos países da Europa Central
e do Norte. Fernando Ribeiro Mendes fala mesmo de um “modelo (tardio) de Estado‑Providência”, cobrindo para cima
de 80% da população mas ainda
distanciado dos sistemas de mais longa implementação, em que as despesas em
prestações sociais rondam os 25% do
PIB (contra os 20% do caso
português)[609].
No entanto, ao analisar as repercussões da integração
europeia e do forte crescimento económico da segunda metade da década de 80
(superior à média comunitária) na distribuição do rendimento e da desigualdade,
Carlos Farinha Rodrigues conclui por uma ligeira redução da desigualdade
global, beneficiando, essencialmente, os grupos sociais mais desfavorecidos. De
qualquer forma, os resultados obtidos “atenuam
a tendência registada na década anterior (70) para um forte desagravamento da desigualdade”[610]
que terá beneficiado principalmente as classes médias. Para além de que se
regista um aumento em simultâneo da dimensão “dos agregados excluídos da actividade produtiva por motivos diversos
(idade, desemprego, etc.)[611],
tendo a proporção crescido de 9 para
14%.
Assim, não admira que Fernando Medeiros fale de um
processo paradoxal: o do “crescimento
económico sem modernização” ou, se preferirmos, da “modernização por excesso de tradicionalidade”. A não aplicação dos
fundos comunitários no terciário intermédio e superior, a sua concentração nos
sectores tradicionais não reconvertidos, essencialmente virados para a
exportação e, principalmente, a “descapitalização
humana”, são alguns dos principais indicadores deste modelo de
desenvolvimento muito pouco exemplar. Este último fenómeno, em particular,
atinge proporções alarmantes, na medida em que tende a reproduzir o recurso
intensivo a mão‑de‑obra juvenil barata, pouco escolarizada e com
deficiente acesso à formação profissional que, em muitos casos, não faz mais do
que prolongar a taxa de inocupação: “Há
fortes razões para supor que o actual dispositivo da política activa de emprego
dos jovens é mais da jurisdição da política de baixos salários que assegura o
equilíbrio precário da economia portuguesa do que uma política de educação e de
formação profissional viradas de maneira mais resoluta para os desafios sociais
e culturais que a integração europeia coloca à sociedade”[612].
Aliás, como referem Estanque e Mendes, no proletariado cabem, não só os
operários industriais, mas igualmente um vasto conjunto de indivíduos,
tendencialmente jovens, de baixos níveis de escolaridade e trabalhando em
situação precária nos sectores administrativos (o que se associa, sem dúvida,
ao grande peso do terciário inferior na nossa estrutura produtiva)[613].
Henrique Medina Carreira vai no mesmo sentido, ao
considerar que o nosso atraso educativo é um dos principais obstáculos à
convergência real face aos países mais avançados da União Europeia. Não só o
nosso país revela baixíssimas taxas de escolarização (segundo dados da OCDE de
1993, utilizados pelo autor, enquanto que, na Alemanha, apenas 18% da população possuía um diploma
igual ou inferior ao 1º ciclo do secundário, em Portugal tal percentagem subia,
assustadoramente, para os 93%), como
a qualidade do sistema de ensino, patente quer na “quantidade extraordinária das repetências e dos abandonos”[614],
quer no altíssimo nível de discriminação sócio‑económica, está muito
longe do desejável. Dados recentes indicam que a taxa de analfabetismo
registada nos censos de 1991 (cerca de 11%)
colocam o país ao mesmo nível da Europa do Norte ... há um século atrás[615]!
Apesar das despesas com a educação, segundo um estudo de Medina Carreira, terem
aumentado 17 vezes entre 1961 e 1993, a um ritmo anual de crescimento de 9.2% (aumento que sobe para 22% entre 1971 e 1976 e para 12.6% entre 1986 e 1992)[616];
apesar dos gastos com o funcionamento dos estabelecimentos de ensino terem
quase triplicado; apesar, finalmente, da despesa anual por aluno ter duplicado[617],
continuam a verificar‑se “taxas
médias de reprovação e repetência 20 vezes superiores às médias de países
ocidentais”[618]
e, em 1991, existiam ainda 361 mil jovens fora da escola, representando 45% da faixa etária entre os 12 e os 22
anos. O estudo sobre a Literacia em Portugal apurou 10.3% de inquiridos no nível 0, ou seja, indivíduos que se
revelaram incapazes de realizar qualquer das tarefas propostas. Segundo os
autores, “é possível estimar, no conjunto
da população do Continente dos 15 aos 64, a existência de 600 mil pessoas
nestas condições”[619].
No entanto, ao contrário do que seria de esperar, não são apenas os analfabetos
literais ou aqueles que não possuem qualquer grau de escolaridade completo que
se situam neste nível. Existem, igualmente, perto de 18% que completaram o primeiro ciclo do ensino básico e
aproximadamente 2% que concluíram o
2º ciclo[620]. Fernando
Luís Machado e António Firmino Costa, na mesma linha, consideram que “o baixo nível de qualificações escolares e
profissionais da população portuguesa” é um dos mais “importantes défices de modernização”[621],
com repercussões significativas na qualificação da mão‑de‑obra: 65% dos trabalhadores industriais, por
exemplo, não têm mais do que o 1º ciclo do ensino básico, enquanto que, entre
os empresários e dirigentes, “o nível de
habilitações literárias modal” é, igualmente, o primeiro ciclo do ensino
básico, com a agravante de 16.2% não
possuírem qualquer grau[622].
Também Marçal Grilo defende uma “prioridade acrescida à formação dos recursos humanos”, baseado na
constatação das “fragilidades e
insuficiências”[623]
do sistema educativo português[624].
Reconhecendo embora, tal como A. Barreto, um grande esforço de aumento da
cobertura escolar e do acesso à educação, o autor regista grandes assimetrias
regionais, relacionando os valores mínimos de escolarização com certas regiões
do país (em especial no Norte) onde se verifica “um modelo de desenvolvimento assente em mão‑de‑obra desqualificada
e, consequentemente, no recrutamento de jovens sem qualificação profissional
precocemente atraídos para a vida activa e compelidos a abandonar o sistema
educativo”[625].
Uma das consequências mais visíveis desta situação prende‑se
com o comportamento da variável «produtividade» no cômputo do processo de
crescimento económico. De acordo com Silva Lopes, enquanto que no período 60‑73
se verificou uma importante contribuição da chamada “produtividade global”,
intimamente ligada quer à introdução de novas tecnologias e formas de
organização do trabalho, quer “à elevação
dos níveis de escolaridade e de formação profissional da mão‑de‑obra”[626],
no período posterior tal contribuição diminuiu, entorpeceu e tornou‑se “decepcionante”.
Trata‑se, uma vez mais, da lógica de “descapitalização humana” de que há
pouco nos falava Fernando Medeiros. Intimamente relacionado com esta lógica,
também já o referimos, encontra‑se a aposta nos sectores tradicionais da
economia, pouco exigentes em termos de qualificação profissional e acarretando
um baixo valor acrescentado para a economia e sociedade portuguesas. Neste
modelo, Portugal mais não pode aspirar do que a receber “segmentos truncados do sistema industrial exógeno”, assente em
rígidos e ultrapassados mecanismos de raiz taylorista. Desta forma, tudo se
coaduna para um subdesenvolvimento do terciário superior, a par da conjugação
destes sistemas produtivos com a agricultura de cariz familiar. Neste esquema
de disseminação de pequenas empresas, emaranhadas num sistema de “industrialização difusa” onde as
figuras centrais são o “empresário‑negociante”
e o “camponês‑operário”[627],
os resultados são parcos e o desenvolvimento assegurado (melhor seria falar em
mero crescimento) revela‑se
efémero e ilusório.
Como principal resultado, emerge com particular
intensidade um novo dualismo, que tem na sua base uma profunda fractura social,
e que opõe um Sul urbano‑industrial‑capitalista‑salarial a um
Norte e Centro de industrialização difusa, familiarista e clientelar. Os fundos
comunitários desempenharam uma função “providencial”, tal como a emigração,
autêntica válvula de escape das décadas de 60 e 70, contribuindo para suster os
conflitos, promovendo uma certa coesão social mas, perversamente, impedindo o
país de caminhar para “novas formas de
estruturação social”, próprias de um Estado capitalista moderno, com um
forte desenvolvimento da relação salarial e uma sociedade civil activa e
interveniente. Desta forma, “esses dois
espaços, sócio‑morfologicamente bem diferenciados, têm preenchido,
sucessivamente, importantes funções de adaptação ou de resguardamento da
sociedade portuguesa às mudanças do mundo envolvente”[628].
Boaventura de Sousa Santos utiliza os conceitos de “sociedade semiperiférica de desenvolvimento
intermédio” para caracterizar a singularidade da situação portuguesa. É sua
a já célebre tese da “descoincidência
articulada entre as relações de produção capitalista e as relações de
reprodução social”[629],
ou, se preferirmos, entre os padrões de consumo, mais avançados e semelhantes
aos dos países centrais, e os ritmos e lógicas de produção, mais próximos dos
países periféricos. Assim, acentuam‑se fenómenos como o trabalho infantil
e os salários em atraso, no quadro de uma sociedade onde ainda possuem bastante
peso os mecanismo de “acção não
capitalistas”, compensatórios face às deficiências produtivas e intimamente
relacionados com a persistência da economia agrícola, geradora de rendimentos
complementares e/ou substitutivos (próprio do camponês‑proletário,
duplamente activo e com uma dupla pertença de classe) que “alimentam adicionalmente as práticas de consumo, permitindo que o
nível de reprodução social seja mais elevado que o nível de produção
capitalista”[630].
Não é de admirar, por isso, que a sociedade civil
portuguesa, fraca quando se trata de exercer ou gerir pressões, consensos e
conflitos próprios das sociedades de capitalismo avançado, seja, igualmente,
uma forte “sociedade‑providência”
que substitui e/ou complementa os défices do Estado‑Providência nacional[631].
Daí que Fernando Medeiros fale de um “dilema imemorial na sociedade portuguesa”, intimamente ligado ao “paradoxo da modernização por excesso de
tradicionalidade”. Se, por um lado, no que respeita aos comportamentos
demográficos, Portugal se encontra ao mesmo nível das sociedades mais avançadas
(como de resto já tivemos ocasião de realçar), por outro, do ponto de vista
sócio‑económico, verifica‑se, ainda, um grande atraso (baixa
produtividade, padrões tradicionais de especialização, atraso tecnológico,
baixos salários, etc.). Como realça Augusto Mateus, para que se registem
transformações estruturais ao nível sócio‑económico torna‑se
necessário promover “uma nova
especialização produtiva mais aberta à qualidade das actividades económicas”[632],
bem como uma estratégia de diversificação produtiva[633].
Esta ausência de convergência com as economias mais modernas, a par do reforço
das indústrias tradicionais no período 1982‑92[634],
acentua o peso da industrialização difusa na propagação dos modelos
malthusianos (devido ao aumento da taxa de actividade e à crescente feminização
da mão‑de‑obra, patente no aumento das famílias de dupla carreira),
cujos efeitos podem ser comparáveis aos da emigração, da qual será, segundo
Medeiros, um substituto funcional.
Em suma, aos problemas dos países periféricos (baixos
salários, precaridade dos vínculos laborais, trabalho infantil, etc.), juntam‑se
os que resultam do ritmo inesperado com que Portugal completou o seu processo
de transição demográfica e que se assemelham aos dos países centrais (duplo envelhecimento,
dificuldades do Estado‑Providência, retrocessos nas políticas sociais,
etc.).
Em síntese, enquanto António Barreto inclui Portugal no
centro, apesar de ser a “periferia do
centro”[635],
Boaventura de Sousa Santos e Fernando Medeiros excluem essa tese, preferindo
abordar as singularidades da posição portuguesa no processo de globalização. De
acordo com B. de S. Santos, “o fim da
função de intermediação de base colonial fez com que o carácter intermédio que
nela em parte se apoiava ficasse de algum modo suspenso à espera de uma base
alternativa”. Desta forma, assistiu‑se e assiste‑se ainda a um “processo de renegociação” da posição de
Portugal no sistema mundial[636],
situação que ocorre quando, findo o ciclo colonial, se consumou o “regresso à nossa territorialidade”.
Regresso efémero, no entanto, pois desde logo se projectaram os anseios de
inserção num “novo desterritório, a
Europa da UE e do Acto Único Europeu”[637].
Outros autores, como Mário Leston Bandeira, optam ainda
pela tese do dualismo, acrescentando novos contornos à tese pioneira de A.
Sedas Nunes, apesar de acabarem por reconhecer uma certa tendência para a
uniformização, demonstrada, aliás, pela evolução demográfica (e os valores,
atitudes e comportamentos que lhe estão associados) da última década.
Parece‑nos, no entanto, que será porventura mais
fecundo do ponto de vista heurístico, se considerarmos a situação portuguesa
como uma coexistência particular de
assincronismos, numa tensão
permanente entre rupturas e continuidades, traduzida por diferentes ritmos
e tempos de desenvolvimento, espacialmente distribuídos de forma assimétrica: a
“velha” pobreza coexiste com a “nova”; o rural e o urbano oferecem‑nos
múltiplos exemplos de combinações e metamorfoses; moderno e tradicional
entrelaçam‑se constantemente, e por vezes lado a lado, originando uma
matriz simbólica, também ela eclética e heterogénea, de várias facetas e
dimensões. Tudo depende, afinal, do quadro teórico com que abordamos e
questionamos a realidade. Se ele for fechado, então descobrir‑se‑á
o moderno ou o rural onde de antemão se esperava que estivessem. Pelo
contrário, se ele se revelar flexível, alargado e imaginativo, encontraremos
abertas as portas para a apreensão da complexidade. Idalina Conde, nesta mesma
linha, rejeita cenários exclusivos e avança com a ideia de uma “modernidade biface ou de várias faces (...)
com nexos exclusivos, hiatos ou desregulações entre heranças e mudanças,
ruralidade e urbanidade, universalismo e localismo”[638],
recuperando o conceito de “sociedades múltiplas”
de Fernando Medeiros.
Esta atitude epistemológica revela‑se
particularmente acutilante quando encaramos a questão das mudanças simbólico‑normativas
no Portugal moderno.
Boaventura de Sousa Santos, já o dissemos, defende a tese
da permanência de valores de matriz rural no quotidiano português. No entanto,
admite a reprodução activa (isto é, sob novas formas) dessas constelações
normativas nos meios urbanos, bem como “a
coexistência a muitos (...) níveis, da modernidade, da pré‑modernidade e
da pós‑modernidade”[639].
João Ferreira de Almeida aponta para assinaláveis
mudanças normativas, associadas ao recrudescer dos individualismos, próprio dos
processos de “desruralização”, com
tudo o que isso implica de valorização no presente das estratégias e projectos
vincadamente pessoais, sem que tal signifique, no entanto, o fim da
solidariedade[640]. Segundo o
mesmo autor, tornam‑se frequentes as “combinatórias
diversificadas de opções” que dificultam as classificações tradicionais,
mais distintas e lineares. Desta forma, o “feito
por medida” substitui‑se ao “pronto
a pensar”, substituindo‑se a crença em valores sistémicos mutuamente
exclusivos por um “novo artesanato das
ideias”[641].
Finalmente, um dado a reter é o grau de participação de
Portugal no amplo movimento de globalização das economias. Num futuro próximo,
a sobrevivência da singularidade portuguesa em muito dependerá, enquanto
pequena economia aberta, da profundidade e das modalidades de interrelação não
só económicas, mas também políticas e culturais, entre o local e o global,
entidades que, embora distintas, se encontram hoje indissociavelmente ligadas.
A globalização, ao contrário do discurso de senso comum que dela se apropriou à medida de um estafado chavão, não conduz necessariamente à homogeneização. É um processo dinâmico e contraditório, onde se geram indiscutíveis hegemonias, mas onde existe também lugar para a associação de forças contradominantes. Existem, ao contrário do que é propagado por visões essencialistas, vários centros e várias periferias. E as relações que entre eles se estabelecem, são de teor complexo e pluridireccional. Há centros que são margens e margens que são centros. Portugal desempenhou, historicamente, um papel de “transporte” e de “ponte” entre uns e outros. Por isso, a sua constituição de país duplamente plural poderá incentivar esse papel dialogante e servir, algo paradoxalmente, de vantagem comparativa: pluralidade interna de um país a várias velocidades, habituado à inclusão de uma diferença endógena; pluralidade no plano exterior, dada a “obrigação” histórica de jogar em vários tabuleiros.
CAPÍTULO VII
O PORTO DOS ANOS 90
1.
O Norte no conjunto do país.
As assimetrias entre as regiões portuguesas, como de
resto se afirmou no capítulo precedente, estão longe de ter desaparecido. O
“Portugal europeu” é um país que avança a várias velocidades, retalhando o
território em regiões com desiguais níveis de desenvolvimento. Vejamos, desde
já, algumas das dimensões deste problema, bem patente no quadro XIII, referente ao índice
sintético de evolução das assimetrias regionais, e que integra 25 variáveis
“relacionadas com as características do
sistema produtivo e com as condições estruturais (ensino, transportes,
qualidade de vida, etc.)”[642].
Se tivermos em conta que o grau de assimetria se mede
pela diferença entre o valor de cada índice regional e a média nacional (100),
concluímos que tanto a região Norte como a região Centro se encontram a 9
unidades de distância dessa média, enquanto que Lisboa e Vale do Tejo se
apresenta como a única região que se distancia, pela positiva, da mesma.
Aliás, no período entre 1986 e 1991, em que se investiram
3.500 milhões de contos no âmbito do Plano de Desenvolvimento Regional, o Norte
apresenta uma pequena regressão, afastando‑se ainda mais uma unidade da
média nacional e apresentando um índice igual ao de 1981. Por outras palavras,
no espaço de uma década a região Norte manteve intacta a distância que a separa
da média nacional, ao contrário da região Centro, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira
que registam no mesmo período ganhos positivos.
|
Quadro XIII : Índice Sintético de Evolução das |
|
|||
|
Assimetrias Regionais (*) |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Região |
1981 |
1986 |
1991 |
|
|
Norte |
91 |
92 |
91 |
|
|
Centro |
88 |
90 |
91 |
|
|
Lisboa e Vale do Tejo |
123 |
119 |
120 |
|
|
Alentejo |
78 |
86 |
83 |
|
|
Algarve |
90 |
97 |
99 |
|
|
Açores |
80 |
79 |
83 |
|
|
Madeira |
76 |
80 |
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(*) O grau de assimetria mede‑se pela diferença
entre o valor de cada |
||||
|
índice e a média nacional de 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonte: Ministério da Administração do Território
e Planeamento. |
|
|||
|
Direcção
Geral do Desenvolvimento. Estudo da análise e |
||||
|
Perspectivas de
desenvolvimento regional in Leonor Coutinho, art. cit., p. 125 |
||||
|
|
|
|
|
|
Um estudo de 1997, referente à análise das contas
regionais de 1992, chama a atenção para os baixos padrões de produtividade e
qualificação da região Norte, que a colocam abaixo da média nacional no que se
refere ao Valor Acrescentado Bruto (VAB) per
capita. Apesar de ser a Região que mais contribui para o emprego nos
sectores primário e secundário, o Norte é prejudicado pela predominância das
especializações industriais de tipo intensivo, “com consequentes impactos pouco favoráveis em termos de produtividade
e remunerações médias”[643].
Aliás, verifica‑se um fortíssimo
peso dos sectores tradicionais”[644]
e da construção, com valores de produtividade inferiores à média nacional
(importante presença das industrias têxteis e do vestuário[645]).
A situação prolonga‑se para o sector terciário. Este, apesar de ser o que
mais contribui para o VAB regional, não concentra a maior parte do emprego (que
se encontra localizado no secundário). Aliás, “o Norte pertence ao grupo de regiões onde a contribuição do terciário
era inferior à média nacional”[646],
o mesmo acontecendo com a produtividade específica deste sector.
No que se refere às remunerações médias, o Norte situa‑se
igualmente abaixo da média nacional, existindo apenas duas regiões (Centro e
Algarve) com prestação pior. Avaliando o nível de vida das famílias, a situação
afigura‑se ainda mais preocupante. Com efeito, a região “onde reside 35.25 da população do país,
concentra apenas cerca de 30% do rendimento primário nacional, proporção
idêntica à do seu contributo para a riqueza nacional medida pelo Valor
Acrescentado Bruto”[647].
Se tomarmos apenas como indicador o rendimento disponível bruto per capita, sem tem em conta os
processos de redistribuição, associados às transferências privadas
internacionais (remessas de emigrantes), o Norte ocupa a pior posição no
cômputo nacional.
O estudo sobre o poder de compra concelhio é, igualmente,
extremamente elucidativo. O Norte é a terceira região do país ao nível do poder
de compra per capita (81.87, em 1995 e 83.17 em 1997) logo abaixo do Algarve (que se situa sensivelmente
na média nacional) e de Lisboa e Vale do Tejo, a região mais favorecida (Quadro XIV), representando
aproximadamente 4/5 do poder de compra per
capita do país. Repare‑se, no entanto, nas profundas assimetrias
internas da região Norte, diluidoras de qualquer ilusão de homogeneidade. Em
1995, “O Grande Porto beneficia de um
poder de compra per capita que
ultrapassa em um pouco mais de um terço o valor médio nacional. Em todo o país
apenas a sub‑região da Grande Lisboa supera esta performance (...) por
outro lado, quatro das seis sub‑regiões que registam menores níveis de
poder de compra per capita localizam‑se
no Norte”[648]. De facto,
em 1997, o Grande Porto possui um poder de compra per capita de 131.18,
enquanto que o Tâmega atinge apenas 47.15.
Aliás, é notória a situação privilegiada dos centros urbanos. Quase sempre,
possuem valores superiores à média da sub‑região onde estão enquadrados.
É o caso de Braga (102.97, para 71.21 da sub‑região do Cávado);
Guimarães (67.74, para 62.40 do Ave); Viana do Castelo (75.08, para 58.04 do Minho‑Lima); S. João da Madeira (158.18 — o segundo concelho da região
Norte neste indicador, logo a seguir ao concelho do Porto — para 69.96 de EntreDouro e Vouga); Vila Real
(76.16, para 50.87 do Douro) e Bragança (82.50,
para 54.82 de Alto Trás‑os‑Montes)[649].
QUADRO
XIV — INDICADOR PER CAPITA DO PODER
DE COMPRA CONCELHIO EM 1995 E 1997
|
|
1995 |
1997 |
|
PORTUGAL |
100,00 |
100,00 |
|
CONTINENTE |
102,00 |
101,98 |
|
NORTE |
81,87 |
83,17 |
|
CENTRO |
71,63 |
71,07 |
|
LISBOA E VALE DO TEJO |
144,60 |
142,94 |
|
ALENTEJO |
69,62 |
68,03 |
|
ALGARVE |
100,43 |
106,47 |
|
AÇORES |
64,47 |
60,59 |
|
MADEIRA |
59,74 |
64,35 |
|
GRANDE LISBOA |
188,30 |
185,63 |
|
GRANDE PORTO |
134,43 |
131,18 |
Fonte: INE — Infoline, Estudo sobre o Poder de Compra Concelhio, Número II e III, 1995 e
1997.
Impõe‑se salientar o facto de, fora do Grande
Porto, apenas Braga e S. João da Madeira possuírem valores acima da média
nacional. Contudo, o dinamismo das cidades de média dimensão parece conferir
credibilidade à tese de uma maior complexificação do xadrez territorial,
defendida por João Ferrão e referida no anterior capítulo. Em termos de
percentagem de poder de compra, a Região Norte, com 29.6% fica, uma vez mais, a considerável distância face a Lisboa e
Vale do Tejo, com aproximadamente metade do poder de compra nacional[650].
No entanto, de novo constatamos que a região Norte, claramente periférica a
nível do país, divide‑se também ela internamente em centro e periferias.
A sub‑região mais privilegiada é o Grande Porto (15.7% do poder de compra nacional). Das restantes sub‑regiões,
apenas o Ave atinge valores na ordem dos 3%.
Persistindo na análise das condições de vida das
populações e observando a posse de determinados bens e equipamentos,
detectamos, uma vez mais, fortes desigualdades inter‑regionais. Tomando
em linha de conta apenas os que, desses bens e equipamentos, possuem
pertinência enquanto suporte ou veículo de práticas culturais, verifica‑se
uma sistemática descoincidência entre os valores da Região Norte e de Lisboa e
Vale do Tejo, com prejuízo nítido da primeira. Se, no que respeita à televisão
a cores, a diferença é pouco relevante (no Norte, 88.71% dos agregados possuem esse aparelho, em Lisboa e Vale do
Tejo o valor eleva‑se para 92.54%),
para outros equipamentos a distância é já considerável, traduzindo desiguais
possibilidades de prática cultural[651].
Uma outra dimensão de extrema relevância para a
contextualização estrutural do Norte do país, prende‑se com os níveis de
escolaridade. Apesar de uma nítida melhoria nas taxas de escolarização e de uma
redução das disparidades nacionais desde 1987, a região Norte permanece
distante face às médias do continente nacional. Assim, enquanto que esta região
representa, no ano lectivo 1994/95, 40.1%
do total nacional de frequência do ensino básico, no que respeita ao ensino
secundário o valor desce para 30.3%,
o que indicia uma lógica de acentuada selecção escolar[652].
Já no que se refere ao ensino superior, a frequência mantém‑se
praticamente idêntica à registada no secundário (30.2%[653]),
o que nos leva a supor que o grosso do abandono escolar se processa após o
completar da escolaridade obrigatória. Por outro lado, o nível de frequência
escolar regional é claramente inferior ao peso dos grupos etários
correspondentes, o que comprova, uma vez mais, níveis significativos de
abandono escolar.
Se analisarmos, agora, a composição sócioprofissional da
região Norte por comparação com as restantes regiões (quadro XV), chegamos à conclusão de que existe uma predominância
relativa dos seguintes grupos: trabalhadores da agricultura e pesca;
trabalhadores da produção industrial e artesãos; operadores de instalações
industriais e máquinas fixas, condutores e montadores.
|
Quadro XV : Distribuição por Regiões
dos Empregados por Grupo Profissional |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Região |
Grupo 1 |
Grupo 2 |
Grupo 3 |
Grupo 4 |
Grupo 5 |
Grupo 6 |
Grupo 7 |
Grupo 8 |
Grupo 9 |
Total |
|
Norte |
38,65% |
28,45% |
30,92% |
30,61% |
30,56% |
42,67% |
49,04% |
47,23% |
33,22% |
38,06% |
|
Centro |
15,46% |
14,26% |
14,76% |
12,63% |
15,26% |
31,02% |
16,13% |
18,93% |
18,20% |
17,17% |
|
Lisboa e Vale do Tejo |
39,09% |
51,02% |
47,15% |
49,37% |
42,54% |
15,14% |
28,18% |
26,72% |
37,07% |
36,13% |
|
Alentejo |
2,99% |
3,64% |
4,03% |
3,93% |
5,85% |
6,27% |
3,89% |
5,13% |
7,82% |
5,08% |
|
Algarve |
3,81% |
2,62% |
3,14% |
3,46% |
5,80% |
4,90% |
2,76% |
2,00% |
3,69% |
3,55% |
|
Continente |
169 702 |
222 100 |
293 959 |
421 440 |
527 156 |
322 321 |
943 714 |
353 157 |
651 544 |
3 945 520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonte: INE, Censos
de 1991 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Pelo contrário, a região de Lisboa e Vale do Tejo revela
uma supremacia relativa nos restantes grupos profissionais: membros de corpos
legislativos, quadros dirigentes da função pública e das empresas; profissões
intelectuais e científicas; profissões técnicas intermédias; empregados
administrativos e pessoal dos serviços de protecção e segurança e dos serviços
pessoais e domésticos[654].
Contudo, importa relativizar estes números através da utilização de um índice
de especialização profissional a nível regional (“que nos permite confrontar o peso do emprego numa dada profissão em
cada região com o verificado a nível nacional”[655]),
já que a região Norte concentra cerca de 1/3 da população nacional. Assim, a
especialização da região Norte encontra‑se patente em quatro grupos
profissionais: membros de corpos legislativos, quadros dirigentes da função
pública, directores e quadros dirigentes de empresas; trabalhadores da
agricultura e pesca; trabalhadores da produção industrial e artesãos;
operadores de instalações industriais e máquinas fixas, condutores e
montadores.
Se pretendermos caracterizar socioprofissionalmente os
grupos de profissões, chegamos às seguintes constatações:
– os membros de corpos legislativos e dirigentes da
função pública e das empresas constituem um grupo onde predominam os dirigentes
de pequenas empresas que são simultaneamente patrões; no geral – e apesar de
alguns núcleos altamente escolarizados e qualificados, ligados às grandes
empresas – possuem um baixo nível de instrução (59% não ultrapassam o ciclo preparatório)[656]
e uma forte masculinização (as mulheres encontram‑se, por isso,
fortemente subrepresentadas nos lugares de chefia), o que confirma, aliás,
estudos efectuados a nível nacional[657];
– as profissões intelectuais e científicas, por seu lado,
caracterizam‑se por um alto nível de escolarização (cerca de 90% possuem um diploma de ensino
superior), por uma forte feminização, em especial no sub‑grupo docente, e
ainda por serem, na sua maioria, trabalhadores por conta de outrem;
– as profissões técnicas intermédias, mais instruídas que
a média da população, possuem, no entanto, níveis inferiores aos do grupo
anterior (43% lograram atingir o
ensino secundário e 37% o ensino
superior), sendo constituídas, em grande parte, por trabalhadores por conta de
outrem e marcadas por uma alta taxa de feminização;
– os empregados administrativos, extremamente ligados aos
serviços financeiros e de contabilidade, bem como ao comércio, têm um nível de
escolaridade inferior ao do grupo anterior, se bem que 63% possuam o ensino secundário, e revelam uma participação
feminina muito desigual (3/4 em alguns sectores, extremamente reduzida
noutros);
– o restante pessoal dos serviços revela, pelo contrário,
baixos níveis de escolarização (70%
possuem, no máximo, o ciclo preparatório) e a inserção profissional feminina é,
também, muito desigual;
– os trabalhadores qualificados da agricultura e pesca
formam um grupo com fortes lacunas em termos de instrução, factor que se
reflecte nos baixos rendimentos e na alta duração média diária da jornada de
trabalho, concentrando grande número de trabalhadores por conta própria, em
especial na agricultura, sector que conta com uma tradicional forte participação
feminina (39%);
– os trabalhadores da indústria e dos transportes[658]
revelam‑se um grupo desqualificado, com reduzidos níveis de instrução
(cerca de 90% têm no máximo o ciclo
preparatório), com horários laborais superiores à média e baixas remunerações,
em tudo demonstrando níveis medíocres de investimento tecnológico, próprios de
um modelo de utilização intensiva de mão‑de‑obra barata[659].
A participação feminina é extremamente desigual, sendo muito significativa na
indústria têxtil e no calçado e escassa na construção civil;
– finalmente, os trabalhadores não qualificados dos
diferentes sectores (que constituem, não o esqueçamos, o segundo grupo
profissional mais numeroso na região Norte) agrupam, essencialmente,
trabalhadores do terciário, embora também exista uma componente significativa
de operários da indústria transformadora. Fracamente escolarizados, têm no seu
seio um importante peso de jovens e mulheres[660].
Em síntese, a composição socioprofissional da região
Norte indica uma forte preponderância do chamado terciário inferior, ligado aos
empregos de execução, desqualificado e precário, a par de um significativo peso
dos trabalhadores da indústria e dos transportes que constitui, aliás, o grupo
em que a região revela uma maior especialização. De notar, igualmente, um
grande número de trabalhadores não qualificados e a persistência de
trabalhadores por conta própria na agricultura e pesca, em especial nas sub‑regiões
do Minho‑Lima e Alto Trás‑os‑Montes[661].
O aumento do nível de actividade feminina é uma realidade quase transversal
(cresceu 25% entre 1981 e 1991, o
que corresponde, em termos absolutos, a mais 131 mil trabalhadoras e a um salto
na taxa bruta de actividade de 30%
para 36.8%). Pelo contrário, a taxa
de actividade masculina desceu ligeiramente (de 55.7% para 54%). Desta
forma, o aumento da população activa no período em causa cifrou‑se em 9.3% (cerca de 135 mil trabalhadores),
devido quer ao efeito demográfico, quer à acentuada subida da participação
feminina[662].
Comparando este panorama com a situação nacional,
verifica‑se, em ambos os casos, um acentuado processo de terciarização,
patente no aumento dos empregados administrativos e dos empregados do comércio
e dos serviços pessoais. Estes, a respeito dos níveis de escolaridade, e apesar
de uma situação mais favorável nos primeiros, não ultrapassam, na sua maioria,
o ensino básico – factor que se revela da maior importância para se compreender
o processo de expansão do terciário em Portugal e na região Norte. No entanto,
como se constata pelo Quadro XVI, o
sector terciário ocupa, ainda, no conjunto da região Norte, uma posição
subalterna em relação ao sector secundário, em grande parte devido à
importância da indústria têxtil e da construção[663].
Desta forma, os trabalhadores da indústria e dos transportes têm um peso
relativo elevado na região (claramente acima dos 40%, enquanto que a média nacional, em 1992, se quedava em 32.4%[664]).
|
QUADRO XVI — DISTRIBUIÇÃO
SECTORIAL DO EMPREGO NA REGIÃO NORTE |
|
|
SECTOR PRIMÁRIO 11,1% |
|
|
|
|
|
— agricultura,
produção animal, caça e silvicultura — restante sector primário |
10,3% 0,8% |
|
SECTOR
SECUNDÁRIO 49,0% |
|
|
|
|
|
— indústria têxtil — construção — indústrias do couro e o dos produtos do couro — indústrias metalúrgicas de base e produtos metálicos — indústrias transformadoras não extractivas — indústrias da madeira e da cortiça e suas obras — restante sector secundário |
17,9% 10,6% 4,6% 3,4% 2,5% 2,2% 7,9% |
|
SECTOR TERCIÁRIO 39,9% |
|
|
|
|
|
— comércio a retalho (excepto automóveis e motociclos); reparações; bens pessoais e domésticos — administração pública, defesa e segurança social obrigatória — outras actividades de serviços colectivos sociais e pessoais; famílias com empregos domésticos; organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais — educação — transportes, armazenagem e comunicações — saúde e acção social — alojamento e restauração (restaurantes e similares) — comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos; comércio a retalho de combustíveis para veículos — actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas — restante sector terciário |
9,5% 4,7% 4,6% 4,6% 3,2% 2,8% 2,7% 2,4% 2,2% 3,5% |
Fonte: INE, Censos de 1991
O aumento da taxa de actividade feminina, por seu lado, é
também um fenómeno de âmbito nacional[665],
embora de contornos ainda mais expressivos, como de resto mencionámos no
capítulo anterior. De qualquer forma, não podemos esquecer que a inserção da
mulher no mercado de trabalho se faz, muitas vezes, em segmentos precários,
desqualificados e desqualificantes. Na região Norte, e atendendo aos grupos
socioeconómicos, a inserção feminina é insignificante no conjunto dos
empresários e dos directores/dirigentes. Pelo contrário, os trabalhadores
independentes e, em especial, os não qualificados revelam uma predominância
feminina. A excepção a esta lógica será, porventura, a elevada feminização
existente no grupo dos quadros, fruto, em grande parte, do peso relativo da
profissão docente[666]
e da expansão dos serviços públicos. Convém não esquecer, além do mais, que nos
deparamos, nesta Região, com uma persistência do campesinato parcial,
articulado com a industrialização rural difusa, fenómeno que se encontra
indissociavelmente ligado a uma sobrecarga de tarefas que prejudica a mulher,
já que esta, frequentemente, desempenha funções produtivas na economia agrícola
de cariz doméstico.
Quanto aos níveis de desemprego, é de notar que, apesar
de um decréscimo generalizado patente em todas as regiões, o Norte, com 6.6% de taxa de desemprego no segundo
trimestre de 1997, apresenta um valor praticamente idêntico ao de há um ano
atrás (2º trimestre de 1996 – 6.7%),
com a agravante de, agora, se situar uma décima percentual acima da média
nacional que se cifra em 6.5%.
Finalmente, e no que respeita às variáveis demográficas
(que nunca são estritamente demográficas,
incluindo‑se no âmbito mais vasto dos fenómenos sociais totais), apesar
da tendência, anteriormente referida, de uma relativa uniformização dos
comportamentos, com o esbatimento dos sistemas demográficos regionais, notam‑se,
ainda assim, algumas diferenças do panorama regional face à situação nacional (Quadro XVII). De facto, a natalidade
continua a ser superior, ao mesmo tempo que a nupcialidade. Concomitantemente,
o índice de envelhecimento é significativamente inferior.
Quadro XVII —
Indicadores Demográficos da Região Norte
|
Designação
do indicador |
Valor |
Unidade |
Período |
|
Taxa de Natalidade |
12.2 |
Permilagem |
1995 |
|
Taxa de Mortalidade |
9.1 |
Permilagem |
1995 |
|
Excedente de vidas |
3.1 |
Permilagem |
1995 |
|
Taxa de Nupcialidade |
7.5 |
Permilagem |
1995 |
|
Taxa de divórcio |
0.9 |
Permilagem |
1995 |
|
Índice de Envelhecimento |
65.7 |
Percentagem |
1995 |
Fonte: INE, Infoline. Retratos Territoriais. Indicadores Demográficos
No entanto, e
apesar de a Região Norte ser responsável por mais de 40% dos casamentos celebrados no Continente nacional, a taxa de
nupcialidade sofre uma quebra acentuada (14%)
entre 1990/91 e 1994/95. Paralelamente, aumenta a idade média em que as
mulheres têm o primeiro filho (27.16
anos em 1990‑91)[667].
Como salientam demógrafos e sociólogos, estas alterações demográficas estão
longe de ser independentes de profundas transformações nas sociedades globais,
sendo estímulo e efeito de novos comportamentos conjugais: “nível de instrução, em particular das mulheres, independência
económica, participação da mulher no mercado de trabalho, prática religiosa,
experiência familiar, etc.[668].
No que se refere ao envelhecimento, dados de 1996, já
apresentados no capítulo anterior[669],
mostram que, com excepção das Regiões Autónomas, o Norte é a Região menos
envelhecida do país, já que sofre ainda os efeitos de uma queda mais tardia da
natalidade, tradicionalmente elevada. Aquando do Recenseamento de 1991, “a população idosa da Região Norte situava‑se
(...) em 11.4% (...) significa isto que à ideia de relativa juvenilização da
Região Norte, tão frequentemente invocada, deve associar‑se também a de
um envelhecimento menos acentuado do que o verificado à escala nacional e muito
inferior ao de outras unidades territoriais homólogas do País”[670].
No entanto, observando a série cronológica 1990‑96, verifica‑se um
gradual duplo envelhecimento, enquadrado, aliás, na evolução nacional: em 1990
o índice de dependência de idosos era de 17.2%;
seis anos mais tarde aumentara 1%.
Simultaneamente, o índice de dependência de jovens descia significativamente de
33.2% em 1990 para 27.7% em 1996[671].
2. A Área Metropolitana do Porto no
Conjunto do Norte.
A área metropolitana do Porto (AMP) representa um papel
predominante no seio da região Norte. Desde logo, pelo seu volume demográfico
(1.167.800 indivíduos), correspondente a 1/3 da população da referida região[672]
e a mais de 1/3 dos empregados.
No entanto, é nítida uma tendência recente de
desaceleração do crescimento demográfico: enquanto que na década de 70 se
verificou um aumento de 20%, os anos
80 registam, apenas, um acréscimo de 5%.
Esta tendência enquadra‑se num processo mais amplo de atenuação do
processo de bipolarização que engloba as duas áreas metropolitanas.
O crescimento natural, por seu lado, revela um movimento
de abrandamento, em tudo semelhante ao da Região Norte e mesmo do conjunto
nacional, cifrando‑se nos 6%.
Este abrandamento corresponde a um “abatimento
progressivo da natalidade”, a par da “estabilização
das taxas de mortalidade”[673].
No entanto, o saldo migratório é negativo (‑2%),
“o que significa que, globalmente, o
volume daqueles que deixaram este território foi superior ao dos que para aqui
foram atraídos”[674].
Esta situação encontra‑se certamente relacionada com os tipos de uso do
solo e com o mercado de habitação. Por outro lado, e tal como na Região Norte,
é nítido o processo de duplo envelhecimento: no Grande Porto, no período 1990‑96,
o índice de dependência dos idosos aumentou de 15.2% para 16.9%, o que,
continuando a ser um valor inferior ao da Região Norte no seu conjunto, revela
um ritmo de envelhecimento no topo superior. No que se refere ao índice de
dependência de jovens, uma vez mais a evolução é semelhante, no sentido de uma
quebra: de 28.8% em 1990 para 25.1% em 1996[675].
Se atentarmos, agora, numa série de indicadores de
qualidade de vida ligados à habitação, facilmente constatamos (quadro XVIII) que as condições de
alojamento da AMP são significativamente superiores às verificadas na região
Norte, embora, comparando com o continente, os números sejam muito semelhantes.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quadro XVIII : Aspectos Qualitativos
dos Alojamentos (1991) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
alojamentos de residência habitual |
||||||
|
|
|
|
|
ligados a redes públicas de |
|||
|
Concelhos |
Total |
Equipados |
Água |
Esgotos |
|||
|
Espinho |
10 124 |
8 549 |
84,4 |
6 343 |
62,7 |
5 755 |
56,8 |
|
Gondomar |
40 863 |
33 104 |
81,0 |
34 089 |
83,4 |
7 849 |
19,2 |
|
Maia |
26 320 |
20 361 |
77,4 |
13 099 |
49,8 |
8 425 |
32,0 |
|
Matosinhos |
45 179 |
36 380 |
80,5 |
28 286 |
62,6 |
18 947 |
41,9 |
|
Porto |
95 453 |
85 304 |
89,4 |
89 430 |
93,7 |
77 648 |
81,3 |
|
Póvoa de Varzim |
14 011 |
11 747 |
83,8 |
9 261 |
66,1 |
6 480 |
46,2 |
|
Valongo |
20 176 |
15 722 |
77,9 |
13 180 |
65,3 |
6 838 |
33,9 |
|
Vila do Conde |
16 251 |
12 311 |
75,8 |
4 965 |
30,6 |
4 476 |
27,5 |
|
Vila Nova de Gaia |
72 486 |
55 634 |
76,8 |
37 155 |
51,3 |
17 074 |
23,6 |
|
A.M.P. |
340 863 |
279 112 |
81,9 |
235 808 |
69,2 |
153 492 |
45,0 |
|
A.M.L. |
847 004 |
781 542 |
92,3 |
782 864 |
92,4 |
729 584 |
86,1 |
|
Norte |
984 154 |
715 891 |
72,7 |
479 912 |
48,8 |
266 570 |
27,1 |
|
Continente |
2 968 239 |
2 322 876 |
78,3 |
2 014 030 |
67,9 |
1 455 193 |
49,0 |
Fonte: INE, Census 91
alojamentos equipados = alojamentos com
electricidade, retrete, água e banho
Contudo, face à área metropolitana de Lisboa (AML) a
situação afigura‑se bastante mais desfavorável. Os alojamentos equipados
(isto é, possuindo electricidade, retrete, água e banho) representam 81.9%, para um valor de 72.7% na Região Norte, de 78.3% no continente e 92.3% na AML[676].
No que se refere a alojamentos ligados a redes públicas de água, os números
mostram, de novo, o lugar cimeiro da AML (92.3%),
seguida, de longe, pela AMP (69.2%)
e, em valores muito próximos desta, pela média do continente (67.9%). Na posição menos privilegiada,
o Norte tem menos de metade dos seus alojamentos ligados a redes públicas de
água. Finalmente, no que se refere aos esgotos a situação mantém‑se,
embora com uma significativa alteração: os níveis de cobertura da AMP (45%) são mesmo inferiores à média do
continente (49%).
Outras dimensões contribuem, decisivamente, para o
retrato de cariz estatístico que pretendemos fazer sobre a AMP. Desde logo, as
que se referem à caracterização da população activa.
Um dado a guardar prende‑se com a relevância da AMP
no conjunto da região Norte em termos da população empregada, já que representa
mais de 1/3 do total de empregados desta região[677].
Por outro lado, é patente o seu grau de autosuficiência
no que se refere à relação entre a população empregada e o local de trabalho.
Assim, constata‑se que cerca de 96%
dos movimentos pendulares se limitam ao espaço metropolitano, o que, sem
dúvida, contribui para conferir uma identidade real a este espaço
administrativo, caracterizado por uma complexa rede de interdependências. Outro
aspecto significativo é o elevado nível de atracção que a AMP,
independentemente dos seus processos de distribuição e reorganização internas,
exerce, sobretudo face à região Norte (4.6 milhares de indivíduos num total de
5.3 milhares respeitante ao país e estrangeiro).
No que respeita à distribuição dos grupos profissionais,
constata‑se que predominam, em termos relativos, os empregados
administrativos (em resultado do processo de terciarização em curso), embora na
maior parte dos concelhos tenham ainda preponderância os trabalhadores da
indústria e dos transportes, escasseando os quadros dirigentes e as profissões
intelectuais e científicas. Além do mais, mantém‑se muito significativo o
peso absoluto e relativo do grupo dos trabalhadores não qualificados, o que
prolonga, no geral, o panorama regional mais amplo.
Este quadro indica ainda, segundo Emília Saleiro e Sónia
Torres, um baixo nível de instrução e de qualificação, associado ao “grau de exigência requerido na execução de
tarefas neste contexto produtivo”[678],
em grande parte dominado por um alto nível de especialização em indústrias
tradicionais de base local.
No que se refere ao peso relativo da população a
trabalhar por conta de outrem, é de notar que na AMP tal conjunto representa 83% da população activa, enquanto que
na região Norte a percentagem desce para 77%,
o que revela, sem dúvida, que existe na AMP um menor peso da população a
trabalhar por conta própria, em geral intimamente associada aos sectores da
agricultura e do comércio tradicional.
Por outro lado, não podemos deixar de referir um aspecto
extremamente relevante: a AMP concentra 46%
dos desempregados da região Norte, sendo os jovens e as mulheres os mais
prejudicados. Esta situação reflecte‑se, desde logo, numa taxa de
desemprego que é a mais elevada da região Norte[679]
e pelo facto de “concentrar
proporcionalmente mais desempregados do que empregados”[680].
Aliás, “mais de 2/3 do acréscimo que também
ocorreu no desemprego do Norte era proveniente daquela sub‑região”[681].
Preocupante e grave, ainda, é a circunstância de um valor superior a 2/3 dos
desempregados serem provenientes dos grupos dos trabalhadores administrativos e
operários das indústrias têxtil, metalúrgica e da construção, o que revela
grandes dificuldades de adaptação e reconversão do terciário inferior e das
indústrias tradicionais. Aliás, 78%
da população desempregada tem o ensino básico como patamar de escolarização
mais elevado.
No caso da AMP, estes dados poderão constituir
indicadores de um mais rápido processo de modernização económica, no sentido
“corrente” do termo: aceleração do crescimento do terciário médio e superior,
declínio dos sectores que revelam pouca competitividade num contexto de
abertura da economia regional, aumento da qualificação da população
assalariada. Mas também o lado negro dessa modernização: aumento do desemprego,
da intermitência, da desregulamentação, flexibilização e precarização do
emprego.
Torna‑se imperioso, por isso, conhecer os níveis de
escolarização da população da AMP[682],
já que continua a verificar‑se que a obtenção dos graus de ensino mais
elevados é o melhor antídoto contra a vulnerabilização social, a exclusão e o
desemprego. Ao fazê‑lo, destaca‑se, desde logo, uma percentagem de
população analfabeta claramente inferior à do conjunto da região Norte: 5.9% contra 9.9% em 1991. No que diz respeito aos níveis de escolarização da
população residente, salienta‑se um aumento de 7.7% no número de indivíduos que possuem o ensino básico, com um
assinalável salto na população feminina (+11.7%)
e uma progressão modesta no sexo masculino (+3.9%)[683].
No entanto, o aumento mais expressivo situa‑se ao nível do ensino
secundário: +45% no espaço de uma
década, com as mulheres a assumirem, de novo, uma variação positiva
espectacular (+66.9% contra “apenas”
+28% no caso dos homens). Ainda
assim, importa moderar a apreciação altamente positiva destes valores, já que
os níveis de partida são extremamente medíocres. Finalmente, a “taxa específica da escolarização superior/pós‑graduação,
confirma uma tendência transversal aos diversos níveis de escolarização: “a Área Metropolitana detém uma situação
relativamente privilegiada do ponto de vista educativo em confronto com o
contexto regional em que se insere”[684]:
4.2% para a região Norte e 7.2% para a AMP. Num sentido lato, ou
seja, agregando a população que possui o ensino secundário e superior, a
diferença é ainda mais visível: 11%
no caso da região Norte, 17% na AMP
(ver gráficos nº 1 e 2).
Dados mais recentes, de 1993/94, indicam que a população
a frequentar o ensino superior na região Norte representa 7.7% dos alunos matriculados nesse ano lectivo, percentagem que
sobe para 11.6% na AMP[685].
|
|
Fonte: António Joaquim Esteves, op.
cit., p. 41
|
|
Fonte: António Joaquim Esteves
op. cit., p. 41
Em jeito de síntese, podemos dizer que, apesar de prolongar, no essencial, os
traços distintivos da região Norte (grande peso do terciário inferior, das
indústrias tradicionais, da pouca qualificação da população activa, etc.), a
AMP revela um maior protagonismo sócio‑económico, representando, apesar
das suas limitações endógenas, um dos pólos mais significativos de
desenvolvimento no conjunto nacional.
Esta afirmação é reforçada por Paulo Gomes, Sérgio
Bacelar e Emília Saleiro[686],
ao considerarem que, em termos comparativos, a AMP é “um espaço relativamente homogéneo cuja competitividade face a outros
territórios é manifesta” com “um
posicionamento único no contexto regional e supraregional que, apesar da perda
de dinamismo demográfico, não encontra ainda verdadeiramente concorrentes no
interior da região Norte”[687].
3. O
Porto no conjunto da área metropolitana.
Uma das melhores provas da indesmentível centralidade
exercida pela cidade do Porto encontra‑se, uma vez mais, na análise dos
movimentos pendulares. Para além de constituir o maior pólo de emprego da
região Norte, este concelho fixa no seu interior a maior parte da população
activa que nele reside, ao mesmo tempo que atrai cerca de 114 mil activos. Por
outro lado, é ainda relevante o facto de cerca de 2/3 da mão‑de‑obra
importada pelo Porto exercerem a sua actividade no sector terciário, que
representa perto de 3/4 da população activa que reside e trabalha no Porto.
No entanto, do ponto de vista demográfico, a cidade do
Porto não demonstra o mesmo dinamismo. Com efeito, entre 1981 e 1991, o
concelho perdeu cerca de 7.6% da sua
população, acelerando‑se o processo de suburbanização (quadro XIX), com particular incidência
em Valongo, Maia, Matosinhos e Vila Nova de Gaia. Assim, a “concentração urbana ultrapassou os limites administrativos da cidade
do Porto, conquistando o espaço de adjacência e estruturando o que alguns
autores designam por «Cidade‑Aglomeração»”[688].
|
Quadro XIX : Evolução da População da
A.M.P. no Intervalo 1991‑994 |
|||
|
|
|
|
|
|
Concelhos |
População |
Variação |
Variação |
|
|
1994* |
média anual |
Média anual |
|
|
|
1991‑1994 |
1981‑1991 |
|
Espinho |
35 620 |
179 |
255 |
|
Gondomar |
148 550 |
1 177 |
1 243 |
|
Maia |
97 480 |
1 165 |
1 147 |
|
Matosinhos |
158 110 |
1 730 |
1 518 |
|
Porto |
288 380 |
‑3 793 |
‑2 490 |
|
Póvoa de Varzim |
56 410 |
437 |
54 |
|
Valongo |
77 500 |
896 |
994 |
|
Vila do Conde |
66 010 |
316 |
43 |
|
Vila Nova de Gaia |
257 200 |
2 324 |
2 223 |
|
A.M.P. |
1 184 260 |
4 431 |
4 988 |
*
valores estimados
Fonte: Isabel
Martins, art. cit., p. 7
.
Na mesma linha, nota‑se uma acentuada desaceleração
na componente natural do crescimento demográfico, com indícios de uma não
renovação das gerações, patente no facto de os óbitos superarem os nascimentos,
devido, em grande parte, ao abrandamento da taxa de natalidade: em 1995, a taxa
de mortalidade era de 11.6 por mil,
enquanto que a taxa de natalidade se quedava pelos 10.2 por mil[689]
Assiste‑se, assim, a um fenómeno de duplo envelhecimento — na base, com
diminuição do peso relativo dos mais jovens e no topo, com um aumento da
proporção de idosos. O Porto detinha, em 1996, o mais baixo índice de
dependência de jovens dos concelhos AMP (Porto: 22.2%; média da AMP: 25.1%)
e o mais alto índice de dependência de idosos (Porto: 24.2%; média da AMP: 16.9%).
O índice de envelhecimento, então, é significativamente mais elevado (Porto: 108.9%, média da AMP: 67.3%), mesmo em relação ao valor médio
nacional que ascendia, recorde‑se, a 86.1%[690]. Outro dado relevante indica que são, precisamente,
os concelhos contíguos ao Porto aqueles onde a proporção de idosos é menor, o
que dá bem conta de um processo de suburbanização baseado no êxodo de população
mais jovem[691]. A nível
intraconcelhio, constata‑se que é nas freguesias do núcleo histórico que
se verificam os índices de envelhecimento mais acentuados. A. J. Esteves E J.
Madureira Pinto elaboram a esse respeito duas considerações: por um lado, o
facto de que “o já referido processo de
suburbanização foi alimentado, em parte, pelo êxodo de populações
tendencialmente jovens destas freguesias”; por outro, os inevitáveis
fenómenos de “degradação física,
desvitalização e estigmatização sociais” associados a áreas profundamente
envelhecidas[692]. O que não
deixa de ter pesadas consequências na desertificação do centro da cidade, em
especial à noite, interpelando as políticas de animação cultural para uma
atenção redobrada a esta situação, potenciadora de um abandono do núcleo antigo
da cidade.
Em termos de escolarização, o Porto é o concelho da AMP
com um panorama mais favorável. Desde logo, ao possuir a menor taxa de
analfabetismo, mas prolongando‑se, igualmente, pelos diversos níveis de
ensino. Se atentarmos na taxa de variação (entre 1981 e 1991) da população
residente com o ensino básico completo, constatamos que assume valores
negativos (‑11.3%). Tal
situação pode todavia ser explicada, de acordo com A. Joaquim Esteves[693],
pelo facto de a população do concelho obter níveis de escolarização superiores.
Da mesma forma, os tímidos acréscimos na população residente que possui o
ensino secundário completo (+1.4%),
em especial quando comparados quer com a média da AMP (+45%), quer, sobretudo, com a variação de alguns concelhos
(superior a 100% em Gondomar, Maia e
Valongo) significam, antes de mais, um peso cada vez maior do ensino superior.
Nos restantes concelhos, as expressivas variações positivas da população com o
ensino básico e com o ensino superior representam, na realidade, uma etapa que
o Porto já ultrapassou. Aliás, a população deste concelho que possui o ensino
superior significa 43% do total de
indíviduos da AMP a frequentar o ensino superior. De notar, ainda, a
predominância das mulheres (53.7%
contra 46.3% dos homens). Em termos
da taxa de escolarização, a população com instrução superior atinge 13.2% no Porto, enquanto que na AMP se
fica pelos 7.4% e na região Norte
apenas pelos 4.2%.
Estes dados relativos à escolarização são de fundamental
importância para se concluir do grau de qualificação da população activa. De
facto, o Porto possui apenas 1.5% de
não escolarizados (a percentagem mais baixa da AMP, juntamente com Valongo).
Pelo contrário, ascende a 19.3% e a 17.9% o conjunto de indivíduos que
possuem, respectivamente, o ensino secundário e a instrução superior (contra
apenas 15.2% e 9.8% na AMP). Por grupos etários, verifica‑se que os jovens
adultos (20‑24, 25‑34 e 35‑44 anos) constituem o segmento
mais escolarizado, não só porque apresentam um número meramente residual de não
escolarizados (0.4%, 0.5% e 0.6% respectivamente), como atingem, em número acima da média do
concelho, a instrução secundária e superior, fruto dos progressos relativamente
recentes na expansão dos níveis mais elevados de escolarização[694].
Por outro lado, o Porto beneficia, em termos da
composição socioprofissional da sua população, da tendência de uma maior
concentração de grupos como os directores/dirigentes e os quadros em lugares
populosos[695].
Desta forma, encontram‑se criadas
as condições para uma grande visibilidade simbólica destes conjuntos
juvenilizados e económica e culturalmente privilegiados que alimentam e se
alimentam de consumos mais ou menos demarcados e distintivos. É deles que
amiúde se fala, quando se utilizam expressões como as “novas classes médias
urbanas”, as “elites urbanas”, “a concentração de «massa crítica» nas grandes
aglomerações” ou os processos de “gentrificação”.
De facto, é notório na AMP e em particular no concelho do
Porto uma reestruturação vasta do espaço urbano, ligado, em grande parte, ao
afastamento das famílias menos favorecidas em relação às áreas residenciais
centrais (apesar de continuarem, na sua maioria, a trabalhar no concelho do
Porto), mas também ao declínio das facilidades concedidas à instalação de
indústrias, numa reorientação que favorece a expansão dos serviços. Tornam‑se
patentes, por isso, profundas modificações na estrutura social, com as camadas
mais favorecidas a experimentarem novos modos de vida, a que não são alheias as
transformações demográficas e a alterações das estruturas familiares e das
atitudes face à família, encontrando tradução adequada em novos estilos de
vida, em que o consumo aparece com uma certa primazia (há autores que falam
mesmo da “soberania do consumo”[696]),
demarcando espaços sociais e territoriais. Aliás, os dados disponíveis sobre os
comportamentos familiares indicam que, na AMP, o Porto é um dos concelhos onde
menos se casa (o que se enquadra num movimento mais geral de quebra da taxa de
nupcialidade); é igualmente o concelho onde a taxa de divórcio é mais elevada[697]
(o que se traduz na maior percentagem de recasamentos da AMP), sendo
responsável por mais de 22% dos
divórcios da Região Norte; possui um baixo índice sintético de fecundidade
(apenas em Gondomar e na Maia é menor) e a mais tardia idade média em que se
tem o primeiro filho (a taxa de fecundidade aos 30 anos é superior à dos 20),
indiciando um crescente intervalo entre a idade do casamento e a idade da
fecundidade. O Porto é ainda o concelho onde se regista um maior peso relativo
de famílias monoparentais (11.66%)[698].
Todos estes indicadores traduzem a
disseminação e a diversidade de novos modelos familiares, baseados num papel
mais activo da mulher (por uma constelação de motivos já mencionados em
capítulos anteriores e que passam por um acentuado aumento do seu nível de
instrução e por uma fortíssima participação no mercado de trabalho), numa maior
fragilidade e flexibilidade conjugal, num outro valor dado à criança, num alto
número de nascimentos fora do casamento (o mais elevado índice da AMP) enfim,
numa intensa “«mobilidade matrimonial —
união livre, casamento, divórcio, recasamento, separados por períodos de
celibato mais ou menos longos”[699].
Interessará, agora, verificar em que medida estes fenómenos de recomposição
social e familiar se associam à matriz de consumos e práticas culturais,
designadamente no que se refere a uma maior disponibilidade face à “cultura de
saídas” (favorecida, eventualmente, pelo retardar do “envelhecimento cultural”
muitas vezes iniciado com o casamento, por processos de retorno à “condição
juvenil” proporcionado pela dissolução da conjugalidade, pelo menor número de
filhos, etc.).
Não é de admirar, por tudo o que anteriormente foi
referido, que o Porto apareça posicionado em primeiro lugar, no conjunto do
Grande Porto, face à dimensão “excelência” de uma tipologia socioeconómica[700]
elaborada para caracterizar os concelhos da região Norte. Esta dimensão
pretende destacar “os concelhos onde
predominam o sector terciário, os níveis de qualificação secundário e
médio/superior, as profissões tipo 1 e 2 (membros de corpos legislativos,
quadros dirigentes da função pública, directores e quadros dirigentes de
empresas e profissões intelectuais e científicas) e os Quadros”[701].
Da mesma forma, o concelho do Porto surge em segundo lugar a nível nacional no
que se refere ao poder de compra per
capita, com 257 pontos (para uma média nacional de 100), apenas abaixo da
cidade de Lisboa[702].
Não podemos, no entanto, esquecer o reverso da situação.
Se é verdade que o concelho do Porto concentra cerca de 41% do emprego da AMP, não é menos certo que nele residem um número
muito significativo de desempregados. A taxa de desemprego, segundo dados de
1991, é a segunda mais elevada da AMP (6.0%,
seguindo‑se a Matosinhos com 6.2%),
sendo mais significativa nos indivíduos que apenas possuem o ensino básico (6.7%)[703].
Por outro lado, contrastando com a visibilidade, muitas
vezes opulenta e ostentatória dos grupos sociais mais favorecidos, existem, nas
grandes cidades, numerosas situações de vulnerabilidade social e de exclusão.
Com efeito, o lado sombrio da atracção que as duas maiores urbes do país
exercem, enquanto ponto de chegada de grande parte dos movimentos migratórios,
reside nas franjas muito significativas e igualmente visíveis de pobreza
urbana, intimamente relacionadas a situações de analfabetismo funcional, de
envelhecimento cultural, de desvalorização dos diplomas, de inadaptação face às
novas tecnologias e ao endurecimento das exigências de qualificação
profissional[704].
Assim, a grande cidade é palco de profundas clivagens sociais, associadas ao “encadeamento de mecanismos de produção de
segmentos sociais sujeitos a novas modalidades de vulnerabilização à pobreza, a
par da tendencial melhoria dos níveis de vida e das condições de reprodução
social dos segmentos incluídos no sistema de garantias estatal e nas zonas de
regulação institucional da gestão de mão‑de‑obra”[705].
Cria‑se, por isso, uma sociedade dual, em que os grupos socialmente
vulneráveis engrossam uma underclass
caracterizada pela destituição e precaridade, sem a ajuda dos tradicionais
instrumentos e instituições de integração social, entretanto dissolvidos[706].
Finalmente, um breve olhar sobre os equipamentos e
serviços de cultura e lazer leva‑nos a realçar a indiscutível
centralidade do Porto, tão esmagadora que não será exagerado considerá‑la
uma autêntica metrópole cultural regional.
De facto, e face à AMP, o Porto concentra 60.7% das bibliotecas existentes; 87.3% das sessões de espectáculos
públicos e 89.6% dos espectadores; 88.5% das sessões e 88.1% dos espectadores de cinema; 63.6% das publicações periódicas e 96.5% da tiragem anual. Quanto à região
Norte, o Porto representa 62.1% das
sessões de espectáculos públicos e 57.9%
dos espectadores; 62.1% das sessões
de cinema e 53.9% dos espectadores;
a 69.9% da tiragem anual das
publicações periódicas[707].
Razões acrescidas, assim o pensamos, para localizar no
espaço social portuense (encarado de forma lata e não nas estritas fronteiras
administrativas do concelho) este estudo sobre práticas culturais.
4. Novo
ponto de partida
A caracterização precedente, bem como todo o capítulo
anterior, constituem passos indispensáveis para a compreensão das condições
objectivas de existência da população portuguesa, com um especial enfoque no
Porto e na sua área metropolitana.
Desta forma, julgamos ter obtido um primeiro esboço da
sociedade portuense (e, indissociavelmente, da sociedade portuguesa – é
impossível retratar o Porto sem retratar o país e viceversa), da sua
exemplaridade e singularidade, enquanto quadro
de vida específico onde se desenvolve um leque finito de práticas sociais.
Um retrato fundamental, embora necessariamente parcial.
Fundamental, porque as práticas sociais são, por definição, localizadas e
territorialmente enquadradas. Parcial, já que o enfoque desenvolvido privilegia
os grandes enquadramentos, as quantificações, as análises e comparações
genéricas. Retrato, em suma, que exige novos contornos, desta feita de maior
minúcia e proximidade face ao “vivido”. Sinal, enfim, de que o insubstituível
processo do trabalho de campo se avizinha.
CAPÍTULO VIII
DO PORTO ROMÂNTICO À CIDADE
DOS CENTROS COMERCIAIS
BREVE VIAGEM PELO TEMPO
“A destruição do passado – ou melhor, dos
mecanismos sociais que vinculam a nossa experiência pessoal à das gerações
passadas – é um dos fenómenos mais característicos e lúgubres do final do
século XX”
Eric Hobsbawn, A Era dos Extremos
“...esse tempo sobrecarregado de
acontecimentos que enchem o presente e o passado próximo...”
Marc Augé, Não‑Lugares – Introdução a uma Antropologia da Sobremodernidade
É impossível desprezar o tempo quando se pretende fazer
ciência social. Enquadrar os objectos no seu contexto histórico, restituí‑los
à duração, revela‑se um exercício de extrema utilidade analítica. Permite
a comparação e a recusa dos absolutos essencialistas.
Na análise da vida cultural, de forma ainda mais visível,
é impossível destruir o passado. Ele surge, repentinamente, quando menos se
espera, tornando‑se presente, porque reapropriado no tempo actual. A
contemporaneidade é uma visão sincrética de assincronismos; uma coexistência de
ritmos sociais justapostos mas com temporalidades distintas. Além do mais, como
refere Augé, a história acelera‑se, persegue‑nos, torna‑se
iminente, carregada de acontecimentos não previstos que nos exigem, cada vez
mais, uma busca de sentido e de inteligibilidade, de forma a não ficarmos
submersos na “superabundância de
acontecimentos”, no “excesso” de tempo, de espaço e de imagens que
caracterizam as nossas sociedades[708].
Lembremos ainda Wright Mills, quando alude à fonte primeira da imaginação sociológica: o cruzamento das
histórias com a História, das biografias com os seus contextos, exercício cada
vez mais plausível num cenário demográfico marcado pelo aumento da longevidade
e da coexistência de três ou quatro gerações, com todas as suas implicações ao
nível do aumento da “memória colectiva,
genealógica e histórica”[709].
Inútil estudar as práticas culturais no Porto
contemporâneo sem esse regresso ao passado mais recente. Fazê‑lo, seria
como que reincidir numa espécie de miopia
analítica, incapaz de descortinar para além do imediato, do que ainda
fervilha. Amnésia que ignora a constituição das sociedades como um processo
onde indissociavelmente se articulam, como as duas faces de uma moeda, a
diacronia e a sincronia, o vertical e o transversal.
O Porto finissecular de Oitocentos
faz tão parte de nós como o Porto dos anos noventa, às portas do terceiro
milénio.
I – O Porto de Oitocentos
1. A
burguesia triunfante.
Falar da vida cultural do Porto do século XIX implica,
necessariamente, abordar os modos de vida da burguesia triunfante e da
superestrutura de valores e estilos de vida que a ela se associam, em
particular depois da vitória definitiva da causa liberal.
Por burguês entende E. J. Hobsbawn, “um «capitalista» (ou seja, um possuidor de capital, ou o recebedor de
um rendimento derivado do capital, ou um empresário votado à obtenção de
lucros, ou as três coisas ao mesmo tempo)”[710].
Apoiados na força conquistadora do lucro, os burgueses afirmaram‑se, um pouco
por toda a Europa (embora a ritmos diferentes), como o grupo hegemónico do
século, abanando, com poderosa determinação, uma sociedade baseada nos
privilégios do nascimento. Enquanto classe, a burguesia liga‑se, de forma
indissociável, à meritocracia e à crença de que qualquer indivíduo,
independentemente da sua origem social, pode ascender ao estatuto que a sua
capacidade de iniciativa lhe permitir.
Por esta mesma razão, no início do século a burguesia era
ainda uma classe insegura, profundamente necessitada de impor como universal a
sua própria ideologia (ou, como diria Bourdieu, de impor arbitrariamente um arbitrário cultural), carecendo, por
isso, de todos os meios de legitimação e de reconhecimento. O mundo da cultura
constituía, então, para utilizar uma expressão de Hobsbawn, a “quinta‑essência” do universo
emergente. E quem diz o mundo da cultura, refere‑se, obrigatoriamente, às
suas múltiplas dimensões, desde o vestuário, à decoração interior e exterior
das casas, às formas de apresentação no espaço público, até às instituições
especialmente criadas para a mise‑en‑scène
de uma nova constelação de valores e comportamentos. Como refere ainda
Hobsbawn, o “espírito da época” colocava “muita
gente na situação historicamente nova de ter de desempenhar papéis sociais
novos (e superiores)”[711].
Digamos que, como acontece nos ritmos de aceleração mais ou menos brusca da
história, as novas condições sociais objectivas necessitavam de um “espelho”
correspondente no mundo “imaterial” e simbólico, mais resistente à mudança e
caracterizado pelo peso da tradição.
Maria de Lourdes Lima dos Santos, ao estudar os manuais
de civilidade correntes no século XIX, chega precisamente à conclusão de que
tais cartilhas consubstanciavam o essencial da ordem social emergente: “O manual de civilidade terá o seu momento
privilegiado como contributo para a legitimação dos que se orientam para um
novo destino de classe”[712],
fornecendo inúmeros conselhos de savoir
faire e savoir vivre, de forma a
colmatar as lacunas de aprendizagem dos que, não tendo nascido em berço de
ouro, ascenderam a posições cimeiras na sociedade, necessitando, por isso, de
uma reconversão mais ou menos brutal do seu sistema de disposições ou habitus. Tal como refere a mesma autora,
trata‑se, afinal, de consagrar a nobreza
adquirida como mais meritória do que a nobreza
herdada. A “educação pelo mundo”,
substitui, paulatinamente, a educação pelo nascimento.
De qualquer forma, a nova classe dominante não
necessitava, apenas, de legitimar a sua ascensão social. Simultaneamente,
impunha‑se‑lhe restringir a mobilidade às classes populares, cada
vez mais representadas e sentidas como “perigosas”.
Daí a ênfase nos procedimentos distintivos, garante e comprovativo da sua
“superioridade”: “neste instável
equilíbrio entre democratização e elitismo se estribava a burguesia ascendente
para legitimar a sua escalada ao Poder – pela aquisição de várias formas de
saber‑fazer, de competência, ela valorizava‑se face à antiga classe
dominante ao mesmo tempo que se demarcava das classes populares”[713].
Assim, se o século XIX é inseparável do triunfo da
burguesia “conquistadora”, ele é, também, a outra face da moeda: a derrota das
tentativas revolucionárias de impor, nos países mais desenvolvidos, uma ordem
social tendencialmente igualitária. Neste sentido, o século XIX representa o
drama, como assinala Hobsbawn, de muitos milhões de pessoas à escala
planetária: a vitória da burguesia trazia benefícios apenas para uma ínfima
minoria e as cedências que a custo foi fazendo, como a instauração do sufrágio
directo e universal, apesar de incómodas, eram “politicamente inócuas”.
O Porto de Oitocentos não é excepção. Como adiante
veremos, a descontinuidade do tecido social urbano era uma realidade
incontornável, bem como a segregação sócio‑espacial que lhe está
subjacente e que se traduz, de forma extremamente visível, nas manifestações de
sociabilidade e na organização do espaço público. O conceito burguês de
cidadania fica desde logo patente, após a vitória liberal, no proliferar de
medidas de proibição da mendicidade e de encarceramento dos pedintes, “vadios”
e “vagabundos” em instituições totais, de tipo asilar.
Como caracterizar, no Porto do século XIX, esta nova
classe dominante, considerada ainda, poucas décadas atrás, como o 3º Estado?
A literatura naturalista fornece‑nos alguns
excelentes retratos, assumindo‑se os seus autores como atentos
observadores do quotidiano burguês, ora identificados com os seus quadros de
vida, ora distanciados em críticos e desencantados comentários[714].
A burguesia portuense surge‑nos, antes de mais,
caracterizada pela sua diversidade interna. Afinal, os novos critérios de
hierarquização social originavam ascensões sociais demasiado rápidas para a
“boa sociedade” que se mantém fiel a um certo conceito de “bom gosto” e de
“cultura”.
Como Maria Antonieta Cruz teve o cuidado de verificar, os
dicionários da época não cristalizavam, ainda, o domínio da nova classe
emergente. O burguês surge como sinónimo de “indivíduo pouco delicado, de modos e gestos grosseiros” podendo
significar, enquanto adjectivo, “vulgar;
trivial; ordinário; chato; grosseiro; sem arte; sem gosto; sem distinção;
acanhado”[715].
Aliás, a falta de instrução da burguesia portuense,
sobretudo por comparação com outras realidades, marcará irreversivelmente o
discurso de muitos personagens dos romances naturalistas, como o Valdez de O Bastardo, de Júlio Lourenço Pinto: “...não há quem saiba conversar, quem se
interesse por duas ideias de arte ou literatura. Há apenas a vida de
escritório, do Banco, da alfândega, a vida do boi sorumbático (...) depois,
feito o negócio, tudo se amorrinha no pesadume crasso e bilioso da digestão
flatulenta”[716].
Segundo os Censos de 1874, a percentagem de analfabetos
rondava os 84.4%, descendo nas
grandes cidades para 64%. O ensino
primário obrigatório apenas surge, no Porto, em 1844, data em que, nesta
cidade, somente se conta um liceu (existindo outros quatro em Lisboa, Coimbra,
Braga e Évora), exclusivamente direccionado para a população masculina[717].
Tardiamente os burgueses portuenses se aperceberão da importância do diploma
como garante social de classe, exceptuando as profissões liberais
(representadas em reduzido número nos recenseamentos eleitorais). Nos
inventários de bens relatados pelos falecidos de elevados rendimentos, os
livros raramente aparecem, tirando, uma vez mais, alguns médicos, juizes e
proprietários. Na fracção de classe dos negociantes, onde se concentrava uma
fatia significativa da burguesia portuense, apenas 9% faziam constar a posse de livros[718].
Aliás, a especificidade da burguesia no nosso país liga‑se
ao seu tardio e incipiente processo de industrialização, que levava Oliveira
Martins a definir o Portugal de Oitocentos como “uma Granja e um Banco”. Essencialmente ligada ao comércio, à
especulação financeira e à posse de terras (sinal duradouro de prestígio e
riqueza), demorará a constituir‑se uma elite burguesa de pendor
industrial, preocupada com o progresso da tecnologia, da ciência e das formas
de gestão. Gaspar Martins Pereira refere, a esse respeito, a persistência da
articulação do factory system com o domestic system, permitindo uma durável
imbricação entre os factores de mudança e os elementos tradicionais: “A mesma geração que vê circular os primeiros
carros eléctricos e que se habitua a saber as horas pelo silvo dos comboios
continua a acordar ao toque das avé‑marias, indiferente à chiadeira dos
carros de bois que quotidianamente cruzam as ruas da cidade (...) persistem
extensas zonas rurais, «trechos de aldeia autêntica»”[719].
Mais importante do que o progresso económico e os ganhos
em produtividade, parecia ser a obsessão mimética face à nobreza, através da
permanente procura de nobilitação, em especial os negociantes e banqueiros
(entre os quais muitos “brasileiros”) recém‑chegados à esfera do poder.
Neste contexto, o que se pode esperar da vida cultural no
Porto de Oitocentos? A resposta faz‑nos distinguir duas fases. Uma
primeira, em que dominava uma ética do trabalho, assente em padrões rígidos de
conduta associados à procura da rentabilidade económica. Uma segunda fase, de
clara visibilidade do capital simbólico e um paralelo esmorecimento da ética
laboral[720], assente
em consumos públicos e privados de cariz ostentatório, na proliferação da
figura do “burguês que vive de rendimentos” e no dispêndio descomplexado.
2.
Vida cultural, sociabilidades e estilos de vida da «boa sociedade».
É, pois, na segunda metade do século XIX, que
assistiremos a um notável fervilhar da cidade em termos culturais. Aliás, é
toda a imagem da cidade que, aos poucos, se vai modificando, com a introdução
de uma série de melhorias infraestruturais: a iluminação a gás (substituindo os
“mortiços lampiões de «azeite de
purgueira»”[721])
a macdamização[722]
e os transportes, através do surgimento do americano
em 1872 (primeiramente movido a tracção animal, posteriormente a vapor e,
finalmente, a electricidade – 1895), favorecendo as ligações a uma cidade em
franco crescimento[723].
Multiplicam‑se, antes de mais, os pontos de
encontro da burguesia mais ou menos diletante, proliferando, nas ruas de Santo
António, Clérigos e Almada, os cafés e botequins, como o Portuense, o Suiço,
o Lisbonense, o Águia d'Ouro e o Guichard, este último o café da moda: “Estava longe de ser um café elegante,
arejado e espaçoso. Mesmo assim, como espaço social, era para o Porto o que o
Marrare era para Lisboa. Para além do botequim, onde se jogava o dominó, o
Guichard dispunha ainda de outras salas de jogo nos andares superiores”[724]
(monte, voltarete, quino e dominó). No entanto, como refere Gaspar
Pereira, os jovens burgueses não se coibiam de frequentar tascos e tavernas,
procurando as suas delícias gastronómicas[725],
o que também pode ser interpretado como uma certa persistência dos contactos
interclassistas do Antigo Regime, apesar dos crescentes intuitos segregacionistas
da burguesia. Camilo Castelo Branco dá conta da atmosfera de um desses
botequins: “Homens de grandes cabelos,
sem bigodes, com fraques coçados no fio e cadeias vistosas de latão a
tremeluzir nas calças brancas espipadas nos joelhos e vincadas de surro, bebiam
cerveja da pipa com os queixos espumosos (...) a um canto estava um velho de
semblante lívido, muito desgraçado, com um chapéu enorme de seda dum azulado
decrépito (...) Ao lado, sobre um mocho, via‑se uma guitarra com manchas
gordurosas de suor que punham brilho, e aos pés um cão de água com o felpo
encarvoado”[726].
Uma das distracções mais frequentes, em especial depois
dos progressos na iluminação nocturna, eram os Passeios Públicos: alamedas, parques e jardins. Locais de
apresentação pública da burguesia e suportes da “cultura de aparência”, cedo estes espaços se tornaram de acesso
reservado, como aconteceu logo após a inauguração do jardim da Cordoaria, em
1867[727]:
“Aos Domingos e dias festivos, e às
Quintas‑feiras à noite, o alegre recinto era tomado de assalto pela
burguesia tripeira, que se apossava da avenida fronteira ao coreto. Os
arruamentos abertos em volta do lago ficavam à disposição das costureiras, das
criadas de servir, dos soldados da municipal”[728].
Atente‑se na seguinte descrição do cenário humano
que invadia esse jardim, em especial em tardes de música, e repare‑se
como o vestuário servia os intuitos de distinção dos actores em presença: “burgueses
espanejavam ao sol a sua obesidade preguiçosa, dandys com camélias na botoeira, damas todas encolhidas no regalo quente das
suas peles, cocottes com vestidos
mirabolantes, estudantes de medicina pondo uma vaidade espectaculosa nas suas
pastas amarelas, de fitas vermelhas flutuando, militares alisando as fardas com
luvas de camurça, todo um público pacato, passeando com um método ordeiro na
grande álea, acotovelando os mirones que
paravam em frente do coreto, para não perderem o gesto largo da batuta do
regente”[729].
Na rua central do jardim da Cordoaria, desenhado por um
engenheiro paisagista alemão, no jardim de S. Lázaro, ou ainda no Passeio
Alegre, a passerelle romântica
multiplicava a exibição de signos da “cultura de aparência”. Gaspar Martins
Pereira encontra factores explicativos para esta explosão dos sinais
ostentatórios: por um lado, a já referida necessidade de distinção, capaz de
afirmar a “nova aristocracia”, ainda insegura, no papel cimeiro de imposição
das modas; por outro lado, o desejo tão próprio do romantismo, de afirmação
individual patente nas nuances
interpretativas desses padrões estéticos dominantes, mas também numa
redescoberta do corpo, dos cuidados pessoais e de higiene (patente, por
exemplo, na “difusão do espelho, dos
produtos de toilette, do banho e das
roupas interiores[730]).
Manifesta‑se, uma vez mais, a dupla acção da moda, segundo Simmel: a
satisfação simultânea da aspiração ao geral (desejo de integração e
reconhecimento) e da necessidade do singular (particularização)[731].
Neste âmbito, surge, igualmente, uma “cultura do bizarro” e da excentricidade
(dentro, evidentemente, de certos padrões sociais e morais): “Camilo usava botas e calças à hussardo,
colete e casaca ou sobrecasaca apertada, laço de gravata à byron e capa à
espanhola. Era vulgar andarem sempre de esporas e com bengalas de cana‑da‑India,
badines, «chicotinhos» ou casse‑têtes que serviam muitas vezes de arma nas zaragatas. Adereços indispensáveis
eram ainda os colarinhos altos («velas latinas»), as luvas brancas ou de cor
(...), os chapéus (...) e o lenço branco, elemento simbólico fundamental nos
jogos de sedução”[732].
Por outro lado, como refere E. J. Hobsbawm, um duplo padrão moral (ou uma
tensão entre a “moral oficial” e a moral de um capitalismo hedonista) estava
omnipresente na moda burguesa, “uma
combinação extravagante de tentação e proibição”[733]:
se, por um lado, imperava o recato e a ocultação da sensualidade e da
sexualidade (“até os objectos que faziam
lembrar o corpo (as pernas das mesas) eram por vezes escondidos”[734]),
por outro, proliferavam as alusões e os estímulos ao mundo dos sentidos e das
sensações: “Simultaneamente, e sobretudo
nas décadas de 1860 e 1870, as características sexuais secundárias eram
grostecamente acentuadas: o cabelo e as barbas dos homens, o cabelo, o peito,
as ancas e as nádegas das mulheres, que atingiam um tamanho exagerado devido ao
uso de postiços”[735].
Importante era, sobretudo, gerir cautelosamente o equilíbrio: nas aparências
impunha-se não exagerar nem por defeito, nem por excesso, demonstrando a
postura exacta dos que se movem, com à vontade e familiariedade, no “bom mundo burguês”.
Cautelas redobradas num tempo em que os estatutos adquiridos, como já
referimos, suplantavam os herdados: “—
Que, diga‑se a verdade, chegámos a um tempo em que já se não sabe o que é
a primeira sociedade, a sociedade elegante, distinguée. Tudo confundido, submergido sob esse aluvião de brasileiros
enobrecidos, de burgueses opulentados”[736].
Mas tempos houve, em pleno ultra‑romantismo, de
consagração do exagero, em que o mundo espiritual, cada vez mais inacessível ao
comum dos mortais, exigia duros sacrifícios. Morrer de amor era, então, a
suprema glória. Sofrer, sinónimo de caminhada para o paraíso. As mulheres,
pálidas à custa de vinagre e de frequentes jejuns “desmedravam a olhos vistos e amolgavam as costelas entre as compressas
d'aço do colete. Estas não são já as mulheres que eu vi, sadias e frescas, como
se saíssem do paraíso terreal”[737].
Os homens, em especial os mais jovens, cultivavam também a tez pálida “e tossia‑se diante da mulher amada com
a dispneia dos últimos tubérculos”[738].
Os encontros românticos proporcionavam‑se nos cemitérios, elevados à
categoria de passeios públicos.
Neste novo espírito, eram patentes algumas das
contradições da família burguesa. Apesar da repressão, em particular sobre as
mulheres (que representavam a unidade da família, da propriedade e da empresa,
sendo igualmente veículo de trocas e estratégias matrimoniais), os impulsos
individuais e a ascese espiritual, forçavam os apertados limites do ethos burguês.
Simultaneamente, verifica‑se um retraimento na
esfera doméstica e uma mais nítida separação entre o público e o privado.
Impunha‑se a criação de espaços de sociabilidade selectiva e de acesso
controlado. Desta forma, os salões e
os saraus vão sendo paulatinamente
transferidos para instituições com uma indelével marca de classe[739].
Nestas, desenvolvem‑se actividades propícias ao
“convívio entre iguais”. Merecem especial destaque os bailes, extremamente associados à prática da dança, actividade que
permitia um interconhecimento rigorosamente vigiado entre elementos de sexo
oposto, bem como a concretização de desejos e rituais de sedução
reprimidos/estimulados pela “boa sociedade”: “Adelina estava radiosa neste ambiente todo rescendente a emanações
palacianas; a sua pessoa atraía as atenções, a toillette era notada (...) como era bom vestir‑se
de cetim e rendas! Como dá realce à beleza um vestido de baile! (...) O
visconde Odivelos (...) vinha na comitiva real (...) Relanceava a vista
inquiridora pela sala com a repousada confiança de quem se sente à vontade, e o
seu olhar, plácido e firme, percorria com uma insistência apeciadora as formas
de Adelina”[740].
Desenvolvia‑se, pois, toda uma panóplia de pequenos
pormenores que obrigavam os mais leigos e desconhecedores a um esforço
desmedido de descodificação. Frequentar a vida mundana, crescentemente
sofisticada, exigia verdadeiros requintes de aprendizagem. Os manuais de
civilidade são, a esse respeito, bastante elucidativos. A sua primeira
preocupação, no que se refere aos bailes, é a de evitar, a todo o custo, os
locais públicos não consagrados e destituídos da aura de classe. Aliás, nestas
ocasiões festivas, todos os cuidados são poucos: “É nos bailes onde se acende o sangue e se estimulam as paixões em razão
da música, luzes, etc., e por isso é mister sabê‑las reprimir”[741].
Aliás, o verdadeiro cavalheiro deverá “ter
todo o receio (enquanto dança) de chegar aos vestidos ou ao corpo da dama”,
enquanto que esta “evitará, quanto puder,
pedir alguma coisa, para que o cavalheiro não tenha motivo de voltar ao pé
d'ella”[742]. É toda a
apologia de uma moral da contenção e da distanciação/aproximação contida entre
os sexos[743]. Aconselha‑se,
por isso, o uso de luvas e de leques: “Se
desejais que vos não notem a direcção de um olhar, o leque presta‑vos
gentilmente os interstícios das varetas rendilhadas (...) abafa os suspiros,
encobre o rubor, o riso (...) salva as aparências”[744].
“Salvar as aparências” e ter “boas maneiras”, eis a pedra de toque da burguesia
finissecular. O que, diga‑se em abono da verdade, nem sempre se
conseguia: “À medida que as senhoras
saíam, a mesa era invadida sofregamente pelos homens (...) Os convivas
apertavam‑se muito ocupados em ingerir abundantemente; outros, de fora da
mesa, estendiam mãos rapaces por cima dos ombros, e invadiam os bufetes dando
pábulo provisório às impaciências do estômago (...) sentia‑se um sussurro
forte de conversas entre mastigações, tinidos batalhadores dos talheres sobre
os pratos, e o ruído alegre da animalidade contente que se expande em risos
(...) Neste momento a mesa tinha o aspecto de um esplendor orgíaco e
descomposto, como uma bela mulher em desalinho, desbotada e murcha, depois de
uma noitada lasciva”[745].
De facto, pelas descrições dos escritores naturalistas, a
burguesia portuense estava longe de poder exibir os “bons costumes” de uma socialização
adequada. As suas posturas, a linguagem utilizada, os conhecimentos culturais
exteriorizados denotavam uma série de défices ainda não superados. Apesar dos
progressos técnicos, do crescimento urbano e dos novos equipamentos culturais,
grande parte da média e alta burguesia ostentava ainda os sinais visíveis de
uma promoção recente. Por isso, os manuais de civilidade estão repletos de
advertências sobre as regras de comportamento nos locais públicos e
semipúblicos, ocasiões em que era possível aferir da educação de cada um e em
que os processos distintivos mais necessários se tornavam.
E no entanto, como referimos, a cidade estava
irreconhecível, nesta segunda metade do século XIX. Com frequência apareciam
novas escolas de música e de canto;
na Rua do Almada proliferavam as lojas de fotografia onde se podia “tirar retrato daguerreotipado, em tom de
ouro e azul, ao gosto inglês”[746];
surgiam os primeiros jornais, como o
Comércio do Porto, onde se torna
habitual a publicação de romances e novelas em fascículos, lidos ao serão para
toda a família; multiplicavam‑se as festas
particulares com ou sem fins caritativos, mas quase sempre de feição
mundana; os concertos de bandas; os espectáculos de fogos de artifício nas
comemorações mais significativas; os famosos bailes de máscara no Carnaval; etc. A Foz torna‑se local de
eleição, em especial no Verão e em particular após a entrada em funcionamento
do Americano, que em muito
possibilitou a compressão das distâncias. Aqui, foi‑se desenvolvendo uma
cultura cosmopolita com o seu passeio público (Passeio Alegre), os seus cafés
da moda, os seus hotéis e mesmo o seu casino.
Os públicos alargam‑se e diversificam‑se,
embora em pequena escala. Joel Serrão, em estudo sobre os livros publicados em
Portugal por volta de 1870, conclui pela existência de centenas de títulos, de
autores em via de consagração, embora com tiragens muito reduzidas[747].
E, novidade que indicia o breve surgimento de uma indústria cultural, surge um
grande número de edições populares, em especial de autores estrangeiros (Zola,
Victor Hugo, Eugène Sue, La Fontaine, Goethe, Júlio Verne, Chateaubriand, etc.)[748].
Os equipamentos culturais sucedem‑se a um ritmo
quase vertiginoso, vontade de uma burguesia que pretende “modernizar” a cidade
e fazer concorrência à capital. No final do século, o Porto orgulhava‑se
do seu Palácio de Cristal (cuja
construção data da década de 60), palco de numerosas exposições industriais e
hortícolas, das quais se destaca a Exposição Internacional de 1865; dos seus museus (o Portuense – do Ateneu D. Pedro – o Municipal e o Industrial e
Comercial); das suas bibliotecas (em
que se inclui uma biblioteca pública); da sua Academia de Música; dos seus teatros
(o S. João – o mais antigo,
inaugurado em 1798, o Príncipe Real,
antes designado por Teatro Circo, o Gil Vicente, no Palácio de Cristal, o Baquet, que foi totalmente destruído por
um incêndio em 1888 e o Teatro dos
Recreios, essencialmente destinado à ópera). No entanto, de todos estes
equipamentos, apenas o S. João e o Baquet possuíam as condições mínimas
para o teatro declamado e lírico[749].
Não admira, por isso, que ironicamente A. Menezes considerasse “que só havia o Variedades, irrisoriamente denominado Teatro
Camões, próximo da «Feira dos Carneiros»
de resto...”. Camilo Castelo Branco apelidava sugestivamente este teatro de
a “barraca de Liceiras”[750].
Aliás, ao analisarmos, por exemplo, a programação do Baquet rapidamente constatamos da sua falta de coerência e de
qualidade: “Altas comédias, tragédias,
zarzuelas, dramas, óperas, operetas, vaudevilles, sucediam‑se, muitas vezes alternando com espectáculos de
equilibrismo, como o do japonês All Right, domadores de Leões, o homem‑cascável, prestigitadores, mágicos
e meras curiosidades”[751].
No entanto, nada supera o gosto da burguesia portuense
pela música e pelas artes cénicas, em especial a ópera e o teatro lírico. Cria‑se,
inclusivamente, a figura dos Concertos
Populares que, no entanto, de popular têm apenas o nome. De facto, o preço
da entrada (300 réis) “era uma
extravagância para qualquer operário, cuja diária não excedia o rendimento de
400‑500 réis, mas que explica bem a ideia da burguesia sobre quem era o
povo”[752].
Maria do Carmo Serén e Gaspar Martins Pereira referem
mesmo que o Porto do ultra‑romantismo “está na iminência de se tornar uma cidade amante da música e um dos
públicos mais conhecidos da Europa”[753].
No entanto, os autores não explicitam as fontes ou os argumentos que lhes
permitem sustentar essa opinião. Pelo contrário, as idas ao teatro musicado e à
ópera aparecem abundantemente descritas nas obras dos naturalistas em tons
pouco abonatórios. O panorama não é de forma alguma coincidente... Aliás, os
comportamentos de grande parte dos frequentadores das grandes ocasiões
culturais parece pautar‑se, preferencialmente, pela lógica do
reconhecimento social:
“Senhoras entravam para os camarotes,
acomodando‑se na frente, uma grande ostentação de toillette para recompensar a incompreensão da ópera. –
Pouca gente conhecida – e assestava o binóculo, movendo‑o em diferentes
direcções (...) – Aí o comendador, o padrinho! – Aonde? – Ali na superior, olha...”[754].
Muitas vezes, a mise‑en‑scène
dos espectadores suplantava largamente a apresentação dos actores...: “Os coros desafinavam o mais possível, num
compromisso funesto de enterrar a partitura. Via‑se o regente gesticular,
numa agitação febril, a batuta num voltear vertiginoso; um rumor surdo saía das
torrinhas, prenúncios de tempestade na plateia (...) A pateada rebentou
furiosa, uma grande tempestade; cadeiras rangiam e viam‑se dândis numa tarefa inglória, tentando quebrar os
bancos, assobiando, gesticulando com veemência. Falava‑se alto, disputas,
questões com os vizinhos, uma balbúrdia, pano descido (...) a Polícia
interveio, desmaios nos camarotes, as famílias burguesas retiravam‑se”[755].
Em suma, fica‑nos a ideia de um campo cultural
fracamente estruturado, tanto ao nível da oferta (actores com fraca formação,
repertórios de duvidosa qualidade) como da procura, existindo aqui, por isso,
um efeito de homologia: apesar da assinalável homogeneidade cultural do público
(aqui o singular impõe‑se, dada a falta de diversidade), os seus
conhecimentos culturais e artísticos apenas permitiam a viabilidade de uma
oferta de medíocre qualidade, tanto mais que a fruição cultural assentava numa
lógica essencialmente instrumental – meio de apresentação pública, ocasião de
consumo sumptuário, reafirmação simbólica das posições sociais, palco de redes
sociais[756]. Tal não é
de admirar, num contexto de profunda mutação social, em que a elite recém‑empossada
não possuía ainda um discurso e uma representação definidas sobre o seu papel
na ordem cultural e simbólica. Além do mais, os fraquíssimos níveis de
instrução não eram de molde a permitir uma familiarização objectiva com códigos
culturalmente exigentes.
O assinalável sucesso do teatro lírico encontra‑se
ligado, não tanto a um progresso nos hábitos culturais, mas muito mais à
necessidade de espaços estratégicos de convivialidade e de encontro: “reunia os ultra‑românticos e
irreverentes filhos‑família, esperando encontros com as meninas elegantes
ou seguindo as actrizes da ópera”[757].
A formação de claques, geralmente intervenientes activas
nas pateadas e nos confrontos verbais e físicos que se lhes seguiam, tinham
muitas vezes a ver com lógicas absolutamente exteriores ao campo cultural: “... os grupos rivais tinham também
conotações políticas, dividindo‑se entre patuleias e cabralistas”[758].
O conteúdo do repertório indicia ainda uma fraca
autonomia da criação cultural (longe ainda do modelo da arte pela arte). Os dramas
sociais (ou “drama da actualidade,
comédia de costumes, comédia‑drama, drama realista”[759])
correspondiam às necessidades de educação e socialização da burguesia em
ascensão, capaz de criar um novo modelo de herói, emancipado face à tradição e
premiado pelo seu esforço de auto‑valorização, assente em valores como o
progresso e o trabalho. Mas o drama
social fornecia ainda, embora ficcionalmente, a ideia de harmonia social.
Ideia que, conforme se caminha para o final do século e se abandonam, tardiamente,
os modos de produção do Antigo Regime, encontra cada vez menos correspondência
na realidade.
3. O
reverso da “boa sociedade”.
O Porto de finais de Oitocentos está longe de se confinar
ao universo burguês. Nele existem as “ilhas”
(que albergavam cerca de 1/3 dos habitantes da cidade e onde se desenvolviam
intrincadas relações de parentesco), as “colmeias”
e as “casas da malta”[760]
que abrigavam em condições miseráveis os que abandonavam as aldeias em busca do
sonho citadino. O mundo iluminado da burguesia “contrasta com a ausência de iluminação pública nos arrabaldes rurais e
com a presença das velas e dos candeeiros de petróleo nas casas mais pobres ou
nos lugares mais afastados”[761].
Em 1905, o abastecimento de água ao domicílio é de apenas
32%; a rede de esgotos cobre somente
27% das habitações; a canalização a
gás não ultrapassa os 47% das ruas
da cidade. Não são de admirar, por isso, a alta taxa de mortalidade e as
epidemias que até tarde fustigam a população socialmente mais desprotegida do
Porto – em 1889 é a última cidade europeia a ser atingida pela peste bubónica.
O crescimento da relação salarial é também visível no
significativo aumento das associações operárias de carácter mutualista. As
classes laboriosas tornam‑se, progressivamente, classes perigosas,
influenciadas pelo surto de associativismo operário, pela difusão dos ideais
socialistas e instigadas pelas suas miseráveis condições de existência. Na
década de 70 surgem as primeiras greves e a comemoração do dia do trabalhador
torna‑se uma realidade a partir de 1890, reunindo cerca de doze mil
pessoas. João Grave, um dos raros escritores naturalistas a retratar a vida das
classes populares, oferece‑nos um expressivo retrato de uma greve: “Os homens, esfarrapados, com os casacos
remendados ao ombro, mostravam os pulsos deformados pelas brutalidades do
trabalho áspero e constante. Nas suas faces lívidas, os malares rompiam
agressivamente e os dentes branquejavam na cor escura dos lábios (...) rugidos
surdos rebentavam, explodiam (...) como pragas fulgurantes (...)
– A greve!
– Viva a greve!
– Abaixo o capital!
– Viva o operariado!
– Morram os exploradores do povo!
– Morram! Morram!
– Peguemos fogo às oficinas,
camaradas! (...)
– Ao fogo, ao fogo, ao fogo!...”[762].
Não admira, assim, a crescente segregação espacial que a
burguesia impõe, limitando a cidadania a vastas camadas sociais, escondendo a
sua insegurança através de uma “moral da
rejeição” que atinge as prostitutas, os pedintes, os “rapazes garotos”, os aguadeiros, o pequeno comércio de rua, as
actividades artesãs...
Nas práticas culturais e na ocupação dos (raros) tempos
livres reproduziam‑se, igualmente, distâncias e (im)possibilidades. O
Domingo dos pobres, segundo João Grave, passava‑se na rua, ao ar livre,
cobiçando as mercadorias das lojas de moda. Mas existiam ainda os passeios ao
campo ou ao rio, onde se improvisavam “grupos
de tocadores de «ramaldeiras» em bailaricos e descantes”[763].
A música e a dança, aliás, tornam‑se o passatempo favorito, ao mesmo
tempo que as associações operárias reservam nas suas sedes espaços para essas
actividades. A pequena burguesia, com o crescimento do terciário, inicia também
os seus processos de distinção social, em grande parte miméticos face à grande
burguesia, organizando sociedades recreativas, frequentando os passeios
públicos onde são toleradas e alugando “camarotes
de terceira” no teatro lírico, num movimento que principia o alargamento de
públicos.
Os mais desfavorecidos fazem da rua o seu local de
eleição, prolongando, muitas vezes, o espaço doméstico. É na rua, também que se
concentram as novidades e os espectáculos: desde os “artistas populares, saltimbancos e vagabundos”, até aos exóticos “cães malabaristas, ursos que fazem vénias, o
canário que toca pífaro, a mulher gigante, a mulher anã, as vistas
estereoscópicas das cidades estrangeiras ou da vida de Cristo”[764],
sem esquecer o circo, os parques de diversões e as sessões de hipnotismo.
O quotidiano, de resto, continua a marcar‑se por
cadências ruralizantes, mantendo‑se uma fortíssima influência do
calendário religioso, com as suas procissões e as festas sacro‑profanas
dos santos populares. Excepcionalmente, a monarquia concedia ao povo ocasiões
festivas para “aclamação dos monarcas ou
por ocasião do nascimento de um príncipe ou da vinda da família real ao Porto”[765].
Outras vezes, contudo, as preocupações deixavam pouca disponibilidade para os
festejos:
“ (...) Na taberna da srª Madalena, tão
concorrida aos domingos, dois soldados tocavam guitarra, sentados entre uma
jovial assembleia de vagabundos. O cortejo atravessou vagarosamente toda esta
onda de miséria e de infortúnio, despertando uma compadecida emoção. Manuel ia
exausto, abandonado às mãos amigas que o acarinhavam (...)
– Veio da fábrica escoadinho em
sangue!
– Foi apanhado por uma trave que
caiu do tecto.
– Parece que já morreu!...”[766].
II – O Novo Século.
1. As
novidades.
Aos poucos, as novidades iam chegando ao Porto. Entre
1909 e 1911 funcionou um original cinema, o Metropolitano,
que tinha a aparência de uma carruagem de comboio: “«a carruagem tremelicava, como se avançasse sobre a linha, e pela
janela viam‑se correr as paisagens projectadas no écran, de viagens a
Paris, Londres, Berlim, etc.» O espectáculo era total: tocavam campainhas e
apitos com ruídos de fundo iguais aos de um comboio autêntico”[767].
Os primeiros anos do século traziam a magia das imagens
em movimento. O cinema, como Walter Benjamim tão agudamente observou, marca
como nenhuma outra forma de arte a divulgação em massa e a associação à
indústria, ao mesmo tempo que permite a “recepção
na diversão”[768],
dimensões indissociáveis do novo “espírito do tempo”.
A cidade do Porto mergulhou nesse desígnio, como o
demontram os seus numerosos cinemas. O Águia
d'Ouro, inaugurado como teatro em 1899 projecta sessões de cinematógrafo,
importando a tecnologia directamente dos estúdios Lumière. O salão High‑Life,
situado no local onde hoje se encontra o cinema Batalha, era bastante frequentado pelas camadas populares: “Pelas sua pantalha passaram as mais
espantosas fitas de aventuras, de pancadaria e os Western. Era um edifício sem grandes condições,
rodeado por um gradeamento dando a volta à esquina da Praça, que subsistiu até
aos anos 40”[769].
O seu maior sucesso concretizou‑se na exibição da película A Vida e a Morte de Jesus, “colorida e com 1200 metros”[770].
Posteriormente, o cinema Batalha será
objecto de admiração pela ousadia estética da sua configuração arquitectónica.
Merecem ainda referência, nas primeiras décadas do século, o Sá da Bandeira, o Passos Manuel, o Salão Pathé,
o Trindade, o Eden Teatro e o Metropolitan‑Cinematour
e o Olympia.
O Rivoli, por
seu lado, foi inaugurado em 1932, substituindo o antigo Teatro Nacional. Era seu proprietário o empresário Pires Fernandes,
considerado pelos seus mais próximos colaboradores como “um homem dinâmico, meticuloso e de grande tacto administrativo”[771].
O seu projecto para a sala de espectáculos assentava numa programação virada
para o “grande público”, sem descurar, no entanto, a preocupação com a
qualidade. Nessa linha, a estreia ficou a cargo da Companhia Amélia Rey Colaço – Robles Monteiro, que apresentou a
comédia em três actos de Marcelino Mesquita “Peraltas e Sécias”. Como actores principais destacam‑se
alguns nomes bem conhecidos: para além da própria Amélia Rey Colaço e Robles
Monteiro, salientamos Raúl de Carvalho, António Vilar e João Villaret.
Oscilavam os preços entre os 60 escudos dos Camarotes e Frisas e os 4 escudos
da geral, o que dá bem conta da diversidade de públicos abrangidos. Segundo
relatos de jornais, na noite de estreia “o
Rivoli mobiliza as atenções de grande parte da cidade”, ”Todo iluminado, portas e janelas amplas, o
novo teatro do Porto chama a atenção de quem passa”[772].
Sucedem‑se, entretanto, uma vasta galeria de espectáculos: teatro de “tipo romântico”, comédias, dramas
históricos, revistas, opereta e mesmo companhias de circo, logrando‑se
obter assinaláveis êxitos e muitas lotações esgotadas. No final de 1932, o
Rivoli entra também na moda do cinema, fechando para instalação do sistema
sonoro.
De qualquer forma, um olhar de conjunto
sobre a programação teatral e musical das principais salas portuenses faz com
que nos apercebamos de um défice fundamental: não existe notícia de nenhum
espectáculo produzido no Porto – os grandes sucessos eram importados de Lisboa
o que representa, sem dúvida, “um
retrocesso em relação a épocas anteriores da história teatral portuense”[773],
em particular se pensarmos no orgulho e vontade da burguesia oitocentista em
rivalizar com a capital.
2. Uma nova realidade: a metrópole.
Durante as primeiras décadas do século, e com especial
aceleração a partir dos anos sessenta, o Porto reforça o seu poder de atracção
de pessoas, mercadorias e informação, assistindo‑se a uma inédita
concentração de funções (cultura, administração, educação, saúde, etc.). A
única solução para evitar uma ruptura passou pela integração dos espaços
municipais limítrofes, através da reanimação de vários pólos urbanos e da
delegação de funções e competências. Assim,
o Porto vê reforçado o seu papel orientador, embora no quadro de um “sistema urbano multipolar” mediante a “conversão progressiva do centro de área
produtora e mercantil em espaço gestor e comercial”[774].
O centro da cidade desdobra‑se em dois, com a importância crescente da
Boavista. O centro clássico, esse, diminui: “de 1900 para 1991 o centro antigo desceu de 21% para 6%”, embora a
tendência se estenda ao próprio centro moderno que recua de 45% para 27%. Pelo contrário, “a área
pericentral passou de 13 para 20% e a periferia de 21% para 47%. No início do
século, dois terços dos portuenses viviam no centro da cidade. Noventa anos
mais tarde, a mesma proporção de pessoas reside fora dele”[775].
Progressivamente, a cidade especializa‑se nas grandes estruturas de
enquadramento e na concentração de direcções regionais e sedes de empresa. De dia, os bairros residenciais desertificam‑se
e o centro fervilha. De noite, o panorama é o oposto. Cresce a tendência para o
esvaziamento dos lugares públicos e, apesar da importante concentração de
oferta cultural na cidade, a cultura de saídas ressente‑se.
3. Um período de discrição e semiclandestinidade.
Com o avançar do século, conjugam‑se dois factores
determinantes na estruturação da vida cultural portuense. Por um lado, as
pesadas imposições do regime ditatorial vigente, muito pouco dado a
manifestações públicas e espectaculares ou mesmo ao incentivo da cultura e da
criatividade, enquanto inevitáveis expressões de liberdade, criavam
dificuldades acrescidas. Por outro lado, a especificidade de uma burguesia
utilitária e pragmática leva a que se reserve “o brilho para a intimidade. Tal como tinha escondido atrás de fachadas
austeras a talha dourada, o salão árabe e os lustres dos seus clubes, o Porto
escondeu a Arte Nova no interior das suas novas residências”[776]
(com duas importantes excepções, não por mero acaso cafés: a Brasileira – 1903 – e o Majestic – 1921).
Os curtos anos da 1ª República conheceram ainda uma
notável vitalidade, em especial nos restritos círculos da intelectualidade e no
domínio da expansão escolar. Criou‑se, em 1911, a Universidade do Porto
que contava, em 1926, com mil alunos. Em 1917 nasce o Conservatório de Música e
em 1923 o primeiro cineclube português. Multiplicam‑se, por esta altura,
os cursos livres (em grande parte devido à acção dinamizadora da Universidade
Popular e da Universidade Livre), os debates e as tertúlias, bem como
publicações (jornais e revistas) de cariz académico, das quais se destaca a Águia, fundada em 1911.
Mas os sinais de um Estado que se pretendeu Novo, cedo se
fizeram sentir, cortando cerce os ímpetos emancipatórios da Primeira República.
Logo em 1928 é encerrada a Faculdade de Letras (fundada em 1919). Desde essa
altura, a tradição democrática e cívica do Porto vê‑se rodeada de
suspeitas, denúncias e censuras. A discrição impunha‑se como estratégia
de sobrevivência, enfraquecendo‑se a esfera pública: “A partir daí o debate só podia limitar‑se
à intimidade ou adoptar modos de circulação tão disfarçados que escapavam à
percepção da maioria”[777].
Exemplo desse espírito é a actuação multifacetada do
liberal Ateneu Comercial do Porto,
com as suas “manhãs literárias”, o
incentivo dos seus prémios, os seus revigorantes concertos e recitais de canto
e, acima de tudo, as suas conferências e debates por onde passaram alguns vultos
do maior prestígio da intelectualidade portuguesa do presente século. A título
de exemplo, refiram‑se os nomes de Miguel Torga, Vitorino Magalhães
Godinho, Hernâni Cidade, Lopes Graça, João Villaret, Aquilino Ribeiro,
Agostinho da Silva, António Gedeão, Vasco da Gama Fernandes e tantos, tantos
outros[778]. As
homenagens a Antero de Quental (1942) e a Almeida Garrett (1956) suscitaram a
mobilização das energias liberais da velha burguesia, adormecida mas não
aniquilada.
Discretamente, mas de forma indelével, a cidade continua
a marcar a sua presença na vida cultural portuguesa, embora sem conseguir
aproximar‑se do fulgor da capital, agora confiante do seu papel de
metrópole colonial, e apoiada de forma notável pela actividade insubstituível
da Fundação Calouste Gulbenkian.
De facto, alguns nomes dos novos intelectuais e artistas
portugueses são do Porto: Sophia de Mello Breyner Andresen, Ruben A., Eugénio
de Andrade, Agustina Bessa‑Luís, Óscar Lopes, Manoel de Oliveira,
Fernando Lopes‑Graça, António Cruz... No entanto, falta a animação
colectiva, a vitalidade das instituições e dos equipamentos. Antes dos anos
sessenta, com a notável excepção da criação do TEP (em 1951), a sensaboria
parece imperar.
Com a nova década um renovado dinamismo faz surgir alguns
importantes movimentos: na arquitectura consolida‑se o prestígio da
“Escola do Porto”, através de nomes como Fernando Távora e Siza Vieira; criam‑se
novos grupos de música e de teatro; emerge o ensino artístico cooperativo (Cooperativa Artística Árvore, inaugurada
em 1963); implanta‑se a Fundação
Engenheiro António D'Almeida (1969). Entretanto, de forma difusa e
semiclandestina, florescem os pequenos grupos anti‑regime, muitas vezes
organizados (?) em forma de tertúlia e extremamente diversos quanto à sua composição,
indo desde os católicos progressistas inspirados na figura do Bispo D. António
Ferreira Gomes, até à emergente extrema‑esquerda, de várias matizes.
Anuncia‑se um novo ciclo.
4.
Uma nova fase: a aplicação de uma
política cultural autárquica.
Com a “explosão” revolucionária, o Porto vê surgir
inúmeros embriões de associações e grupos culturais, animados do intuito de
fazer do quotidiano uma mescla indissociável de cultura e política, na esteira
de alguns movimentos sociais, mais ou menos estruturados. Alexandre Alves Costa
definiu da seguinte forma o espírito que lhes estava subjacente: “Foi um puro início, como tempo novo, sem
mancha nem vício”[779].
No entanto, muitos deles revelaram‑se luzes fugazes, em especial após a
consolidação do chamado período de “normalização democrática” iniciado com o 25
de Novembro e marcado por uma “institucionalização” dos consumos culturais, com
a crescente intervenção do poder político, na definição dos critérios e
domínios de financiamento e enquanto poderoso agente de consagração de certos
nomes no panorama cultural[780].
As manifestações culturais acantonaram‑se, progressivamente, nos locais
especificamente destinados à cultura.
Faltava à cidade uma perspectiva estratégica do seu papel
de metrópole cultural regional. Com um conjunto de equipamentos degradados e a
necessitar de urgente reciclagem; padecendo de um localismo paroquial; sentindo
a ausência de um quadro de suporte ao movimento associativo; excessivamente
centrada na rentabilização inerte do seu património histórico e artístico, o
Porto foi, durante décadas, uma cidade onde as iniciativas, esparsas, não eram
enquadradas em qualquer exercício de planeamento sistemático e onde os agentes
sócio‑culturais sentiam a falta de redes e de interlocutores. Uma
intervenção cultural implica, já o dissemos, um quadro de referências e
prioridades, bem como meios de acção pública especializados.
Na nossa opinião, a cidade só começou a usufruir de uma
verdadeira política cultural (conjuntos articulados de iniciativas coerentemente
planeadas e avaliadas; objectivos claros e operacionalizáveis; mecanismos
eficazes de produção e divulgação; diversificação das actividades; diálogo com
os potenciais públicos; recuperação de infraestruturas; etc.) a partir de 1989,
com a criação do Pelouro de Animação da
Cidade. Relembramos alguns dos eixos estruturadores desse projecto
pioneiro: “apoio às associações
recreativas e culturais da cidade, visando a sua revitalização”; “apoio à criação artística em sentido lato”;
“diálogo permanente com as instituições
públicas e privadas da cidade”; “promoção
e/ou apoio à realização de acções de prestígio no campo cultural”; “apoio à inclusão do Porto nas digressões de
artistas e companhias nacionais e estrangeiras de alta qualidade”; “desenvolvimento da cooperação com outros
municípios”; etc.[781].
Em termos mais concretos, podemos assinalar duas faces
complementares dessa política cultural de cidade: uma visível e espectacular;
outra mais recôndita e de longo prazo. Na primeira é possível incluir uma série
de festivais (produzidos ou apoiados pela autarquia), de cariz sazonal e que
vêm marcando, desde há vários anos, a vida cultural da cidade. De tendência
claramente cosmopolita, proporcionam o cruzamento de artistas e de formas de
expressão provenientes de várias partes do globo: é o caso de Ritmos (festival de formas musicais
emergentes no espaço afro‑latino); Intercéltico
(projecto que procura reconstruir afinidades no seio de uma matriz cultural que
engloba países e regiões como o Norte de Portugal, a Galiza, a Irlanda, o País
de Gales, etc.); o Festival de Jazz;
o Festival Internacional de Marionetas;
o Salão Internacional de Banda Desenhada
do Porto; as Jornadas de Arte
Contemporânea; as Noites Ritual Rock;
o Fazer a Festa — Festival Internacional
de Teatro para a Infância e a Juventude; etc.[782].
Nesta vertente podem ainda considerar‑se as iniciativas de cariz mais
espontâneo e convivial (com uma forte componente de animação de rua) como as Festas da Cidade e Do Natal aos Reis. A diversificação da oferta, patente nesta
pluralidade de eventos, articula‑se com o princípio de alargamento dos
públicos, também eles heterogéneos. Faltarão ainda, no entanto, programas que
propiciem o cruzamento de formas de cultura, criando dinâmicas transversais que
contribuam para superar velhas hierarquias e classificações (como acontece, por
exemplo, em certas peças musicais que tentam associar música popular e música
erudita[783]), apesar
do tenso equilíbrio a que tais propostas obrigam. A outra face, mais discreta,
mas nem por isso menos significativa, centra‑se em três aspectos
fundamentais: a recuperação permanente de equipamentos (salas de espectáculo;
museus; bibliotecas; arquivos; parques de recreio); a relação com as
associações (apoio à melhoria de instalações; formação profissional; suporte de
acções voltadas para a comunidade; etc.) e a ligação às escolas, mediante
projectos de formação de novos públicos[784],
de onde se destaca o programa Descobrir[785],
direccionado para as artes, ciência e tecnologia.
Como suporte desta política estimulou‑se um
alargamento da rede municipal de equipamentos, de cariz estruturante. Na
transição do último para o actual mandato, para além da renovação do Rivoli
(cujo orçamento ascendeu a dois milhões de contos[786]),
destacam‑se a construção do teatro do Campo Alegre, que servirá de sede
da companhia Seiva Trupe, bem como a
renovação das casas‑museu de Guerra Junqueiro e de Marta Ortigão Sampaio.
Importa referir, também, o esforço de outras entidades
neste domínio, indicador de que houve uma aceleração global no desenvolvimento
cultural da cidade. Antes de mais, o Estado, destacando‑se a recuperação
do teatro S. João e a sua elevação à
categoria de Teatro Nacional, com a
lei orgânica publicada em 1997, bem como a consagração da Orquestra Nacional do Porto (ainda não sinfónica...) e a
instalação, no Porto, do Centro Português de Fotografia. Salienta‑se,
igualmente, a acção da sociedade civil organizada, apoiada pelo Estado e pela
autarquia. Sublinham‑se, neste âmbito, o FITEI (Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica) e o Fantasporto (festival de cinema
fantástico).
Desta forma, aumenta a necessidade de parceria entre os
vários agentes culturais locais, proliferando os equipamentos geridos em comum,
as co‑produções e as iniciativas conjuntas.
A Fundação de
Serralves, por exemplo, criada com o objectivo de instalar o Museu de Arte
Contemporânea, conta com o apoio de fundos públicos e da iniciativa privada. A Fundação Ciência e Desenvolvimento
resulta da colaboração entre a autarquia e a Universidade do Porto. O Coliseu do Porto que, juntamente com o Rivoli e o Teatro Nacional S. João, constituem o “núcleo‑duro” das salas
de espectáculo portuenses, é actualmente gerido (depois de uma movimentação
popular contra a possibilidade de o imóvel ser adquirido por uma organização
religiosa) através de fundos municipais e da iniciativa privada, tendo
igualmente recebido apoio do Estado para a sua recuperação após o incêndio de
Setembro de 1996. As co‑produções começam igualmente a ganhar algum
relevo, apesar de estarem longe de ser uma prática generalizada.
Segundo cálculos da autarquia, nos últimos dez anos o
investimento cultural total na cidade do Porto superou os 26 milhões de contos.
Ainda de acordo com a mesma fonte, num domínio sensível, como é o caso do
teatro, em dez anos os grupos e companhias passaram de três a dezoito. Em 1997
foram dez os projectos teatrais portuenses apoiados pelo Ministério da Cultura,
tendo outros tantos ficado de fora. Por outro lado, existem três instituições
de formação artística nesta área[787].
No que se refere a cinemas, o Grande Porto (incluindo
Porto‑cidade e Vila Nova de Gaia) possuía, a 1 de Outubro de 1997, 46
salas (representando um acréscimo, nos últimos 7 anos, de 32 espaços de
exibição)[788]. Quanto a
editoras, a grande concentração verifica‑se na região de Lisboa. Ainda
assim, a revista Hei! identifica sete
editoras activas, três delas de carácter quase artesanal, definida por um dos
proprietários como “editora de autor”[789].
A nível de galerias e de espaços de exposição, o inventário da Comissão de
Coordenação da Região Norte dava conta de 40 unidades, sendo que 25 são
especificamente galerias[790].
Finalmente, o tecido associativo da cidade apresenta, segundo dados municipais,
um conjunto de mais de seiscentas associações e colectividades, dinamismo que,
no entanto, pode ser contrariado se atentarmos no gráfico nº 3, respeitante a uma proposta de tipologia das
associações.
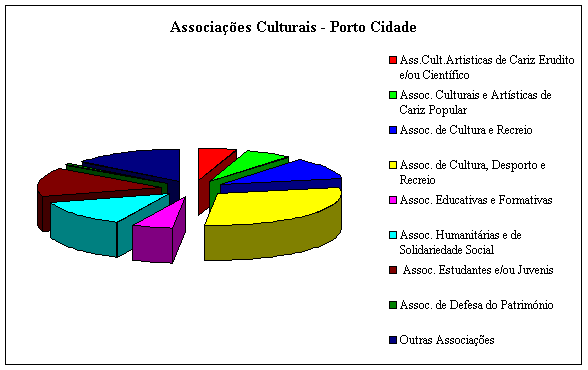
De facto, a grande
concentração nas categorias “Associação
de cariz popular” e “Cultura,
desporto e recreio” revela, numa análise mais superficial, um tecido
potencialmente envelhecido, acantonado à gestão corrente do subsídio, muitas
vezes enquistado numa noção fixista de tradição e especialmente vocacionado
para a ocupação convivial dos tempos livres dos seus associados, o que, sendo
meritório, não fornece o “salto” qualitativo desejável para uma nova ligação às
comunidades, em mais ou menos rápida recomposição, nem tão‑pouco aos
novos padrões comportamentais emergentes, muitas vezes articulados com determinadas
culturas juvenis.
Existe, no entanto, um risco. Todo o pluralismo
subjacente à estruturação de uma política cultural municipal encontra a sua
génese, segundo Phlippe Le Moigne[791],
num processo de institucionalização e regulação do campo cultural local por
esferas exteriores ao próprio campo (patente, por exemplo, na elaboração ao
nível nacional de critérios político‑administrativos para o apoio à
criação, ou para a consagração artística) e na apropriação dos valores das
“classes médias”, que “conferem à acção
cultural uma missão de promoção identitária”[792],
necessária para a legitimação da sua trajectória social. Esta heterogeneização
das iniciativas desemboca, paradoxalmente, num efeito de homogeneização: no seu
sincretismo, na sua retórica de conciliação de interesses e de promoção de
equilíbrios, as políticas culturais urbanas tendem a assemelhar‑se cada
vez mais, enfraquecendo as ligações à sua base sócio‑espacial (com tudo o
que isso implica de diluição de efeitos de posicionamento na estrutura social e
territorial) e tornando‑se um foco secundário de luta política, ou mesmo
o terreno de uma certa despolitização. Corre‑se então o risco de, imbuída
desta “polivalência simbólica”, a
política cultural municipal perder a noção das prioridades e cingir‑se a
uma lógica de “acumulação de iniciativas”
sem orientação estratégica ou fio condutor, visando um pluralismo assente numa
certa “exaustividade cultural”,
pluridireccional e visando estabelecer compromissos e mediações entre os vários
actores em presença.
Não nos parece que isso aconteça com a nova política
cultural municipal.
A
primeira política cultural de cidade do século XX tem vindo a distinguir‑se
publicamente por resultados positivos em várias frentes (criação de uma rede de
equipamentos, cruzamento de localismo e cosmopolitismo, articulação entre a
oferta e a procura, etc.) e com uma definição estratégica de prioridades, como
anteriormente referimos.
No entanto, os resultados são mais modestos (apesar dos
esforços de revitalização do tecido associativo e de contacto interactivo com o
sistema formal de ensino) no alargamento da participação cultural e no
contrariar das “tendências de evasão e
demissão cívicas”[793].
Joga‑se, nesta dimensão, uma luta desigual entre uma lógica de acção
local, com uma ancoragem territorial, contra uma lógica global, de cariz a‑espacial,
deslocalizada e onde se enquadram as tecnologias da comunicação e as indústrias
culturais.
Por mais que se estruture a oferta cultural não são de
esperar, como de resto mencionámos no capítulo V, efeitos automáticos de
arrastamento da procura. O Porto deixou de ser a cidade provinciana de que nos
falam grande parte dos escritores que sobre ela meditaram (“O Porto é província, e província do Douro
(...) O Porto é a última cidade de Trás‑os‑Montes, de gleba
transmontana”[794])
e, por isso, não mais é imune às grandes (e transnacionais) recomposições no
domínio das sociabilidades e do espaço público.
5. As
novas faces da cidade.
Não nos parece errado afirmar, como de resto está patente
nas páginas anteriores, que a história cultural do Porto sofreu profundas
metamorfoses nos últimos dez anos. À lentidão da evolução anterior, à aparência
mesmo de estagnação durante os longos anos do Estado Novo, surge uma década breve, para utilizarmos de
empréstimo a metáfora de Hobsbawn a propósito do nosso século (um século breve). O efeito que sobre nós
provoca essa aceleração é mais visível quando nos damos conta da inadequação de
comentários ainda recentes. François Guichard, por exemplo (1992!), fala‑nos
de um Porto centrado nas tertúlias de cafés e pastelarias, símbolo do traço
pretensamente mais distintivo da urbe (a sociabilidade, ou uma certa sociabilidade); uma cidade
cristalizada num espírito semelhante ao que “animava os grandes cafés franceses de antes da guerra”[795];
uma aglomeração onde os tascos traduzem um típico “mundo fechado de homens”[796],
em ambiente de quente cumplicidade. O tasco seria “o verdadeiro símbolo da sociedade do Porto (...) fechada mas calorosa,
conservadora, tradicionalista, ainda muito masculina”. Os outros lazeres
resumem‑se a uns passeios à Foz e Matosinhos, em busca da praia ou de
bons ares, ou ainda à pesca à linha e piqueniques junto ao rio, hábitos
bucólicos preferidos pelos mais antigos. Ainda mais recentemente, a propósito
da rede de cruzamentos proporcionada pelo festival Ritmos, alguém afirmava: “Ritmos,
outros ritmos, cruzamentos múltiplos, mestiçagens várias (...) no Porto. Cidade
improvável, até há algum tempo pouco dada a estas miscelâneas”[797].
Não chegaremos ao exagero de dizer que este Porto, tradicional e ritualizado,
morreu. Ele permanece, decerto, em franjas etariamente idosas, ou em alguns
segmentos profissionais com particulares enraizamentos territoriais, mas vão
noutro sentido as grandes transformações sócio‑culturais que atravessaram
a sociedade portuguesa no seu conjunto e de que demos conta em anterior
capítulo. Tais símbolos já não são, seguramente, elementos estruturantes da
imagem dominante da cidade. Tão‑pouco esta outra representação de uma “cidade do trabalho e em certos aspectos
pacatamente provinciana, e orgulhosa de sê‑lo (...) urbe densa cujas ruas
em geral adormecem cedo e se animam cedo”[798].
De facto, importa particularizar. Se há ruas sossegadas e
hábitos domésticos fortemente sedimentados, noutras zonas da cidade as noites
são longas e servem de suporte a múltiplos usos, simbologias, representações,
papéis e actores: a noite dos comportamentos desviantes, a noite distinta e
elegante, a noite juvenil e estudantil, a noite mundana... Na própria Internet,
mito e veículo ultracontemporâneo da sociedade digital, encontrámos um site com comentários extremamente
personalizados a propósito de mais de duas dezenas de bares e discotecas do
Porto e arredores mais próximos[799].
Nele, fala‑se de uma constelação imensa de ambientes musicais (metal, punk/hardcore, música antiga,
música alternativa, acid, etc., etc.). Existem também
referências aos melhores dias da semana; à hora de início da maior animação
(por vezes a partir das cinco da madrugada...); ao tipo de clientela (“selecta”, “gay”, “pirosa”, etc.) e
surgem curiosas importações linguísticas (por exemplo, movida), bem como sugestivos recursos de estilo (portagens refere‑se ao “filtro”
exercido à entrada de muitos estabelecimentos nocturnos por empregados ou
“seguranças”). Alguns vêem em toda esta diversidade de espaços, estilos e
linguagens o entusiasmante caleidoscópio pós‑moderno. Outros, avisam
prudentemente que a pluralidade de opções é mais de fachada e as margens de
real alternativa apresentam uma reduzida flexibilidade.
Mas um outro tipo de consumos culturais invade o
quotidiano portuense. Referimo‑nos à rápida aparição das modernas
catedrais de consumo, os shopping centers,
onde milhares de cidadãos passam fatias cada vez mais significativas do seu
tempo livre[800]. E se
delas falamos é porque configuram uma radical reestruturação das formas
tradicionais da esfera pública. Não é por acaso que, a propósito de dois
megacentros comerciais de Lisboa se criaram os seguintes slogans: “O mundo”; “A cidade dentro da cidade”; “O centro da cidade”. Porque de cidades
se tratam. Cidades sem geografia, abstraídas do espaço e do tempo exteriores;
muitas vezes em ruptura com a configuração urbana onde se localizam; com as
suas próprias ruas, praças e fontes; cidades onde as formas urbanas perdem
legibilidade e as hierarquias se despacializam embora saiam reforçadas pela
ordem do consumo[801].
Edifícios que poderiam estar – e estão – em qualquer local, seguindo o
princípio de que “tudo se combina com o
que quer que seja”. Cidades que têm mais a ver com a racionalidade do fax,
do modem, dos computadores e dos cartões de crédito do que com a “velha” lógica
dos cenários físicos das urbes modernas. Cidades‑televisão, onde, perante
a aparente diversidade de lojas e produtos, o nosso olhar se assemelha ao zapping televisivo, talvez com uma
diferença: temos todos os canais num só[802].
O mais curioso nesta nova arquitectura urbana é o colapso
da história e do clima. Nestas catedrais encontram‑se pastiches de todos os estilos arquitectónicos,
misturando‑se pormenores barrocos com requintes neoclássicos e pós‑modernos.
Num certo sentido, o “excesso de tempo”
de que nos fala Marc Augé a propósito das dimensões constitutivas da “sobremodernidade”, está aqui presente[803].
No Via Catarina, na baixa comercial
da cidade, podemos caminhar entre miniaturas de casas típicas do Porto,
remetendo‑nos para várias épocas. A temperatura é artificialmente mantida
a um nível constante. No Cidade do Porto
é‑nos dada a possibilidade de patinar num lago gelado sem sofrermos os
rigores da Invernia[804].
No extremo, as vinte e quatro horas do dia poderiam ser passadas num centro
comercial. Nada nos faltaria: das lojas de múltiplos artigos (embora a
diversidade seja mais aparente do que real, dada a duplicação de estabelecimentos
iguais ou extremamente semelhantes) às praças
da alimentação (onde se experimentam tanto o standard do fast food como as delícias das cozinhas
mais exóticas, israelitas ou mexicanas), passando pelos centros de lazer,
alguns especialmente vocacionados para as crianças; outros mais dirigidos aos
adultos, como as grandes cadeias de cinema. Os centros comerciais tornam‑se
mesmo locais de encontro social; oportunidade para conhecer caras novas ou
ocasião de passear com o(a) namorado(a). Entretanto, o centro histórico da
cidade perde vitalidade e desertifica‑se às primeiras horas da noite. Daí
os slogans de que há pouco falámos:
os centros comerciais são de facto, cada vez mais (e não num sentido meramente
metafórico), o centro da cidade. Ao
mesmo tempo, este “urbanismo de fantasia”[805]
dissemina uma nova atitude segregacionista. Se, de facto, a ruptura face ao
exterior é quase total (ausência de ruídos, de oscilações de temperatura,
música ambiente) todos os aspectos negativos da cidade tendem a ser eliminados:
sujidade, toxicodependência, trânsito, pobreza. Além do mais, o invisível olho
electrónico dos modernos sistemas de vigilância substitui a presença por vezes
incómoda da autoridade (como aponta M. Crawford, existe uma ténue fronteira
entre convite e exclusão). Um paraíso artificial – dirão alguns. Mas também uma
encenação, um despertar simultâneo de estímulos contraditórios, que tanto
passam pela excitação e ansiedade como pela sedação. Uma “viciante droga ambiental”, no dizer de Joan Didion[806].
Espaços de trânsito e de passagem que colocam a nossa
identidade entre parênteses, dado o seu cariz fracamente relacional. Espaços
que, ao contrário dos “lugares antropológicos” (identitários, relacionais e
históricos, delimitáveis num tempo e num espaço onde se produzem “formas
sociais orgânicas”) se fixam numa “contratualidade
solitária”. Não‑lugares, no dizer de Marc Augé[807].
O que leva tantas pessoas a frequentar estes espaços? A
resposta é complexa e articula, certamente, para além de outros factores,
défices de formação cultural com a reduzida exposição a uma oferta lúdica
alternativa. Mas também o curioso sentimento de um certo anonimato que se
refugia numa identidade provisória (apenas quebrada, aqui e além, pela
apresentação de um documento, um cartão de crédito...), também ela em trânsito,
geradora de representações ambíguas. Por um lado, a “multidão solitária”, a
pouca riqueza interactiva, o sentir‑se espectador, inclusivamente de si
próprio[808]. Por outro
lado, a sensação de libertação face aos constrangimentos habituais (“a
obrigação de...”), a leveza de um novo papel (passageiro, cliente...): “Objecto de uma doce posse, à qual se
abandona com maior ou menor talento ou convicção, goza, momentaneamente, como
qualquer possuído, as alegrias passivas da desidentificação e o prazer mais
activo da representação de um papel”[809].
Qual a resposta de uma política cultural de cidade face à
proliferação de não‑lugares? O centro da cidade desertifica‑se ao
cair da noite e durante o fim de semana. Paralelamente, centros comerciais e
grandes superfícies comerciais fervilham de gente. Possuem estes espaços algum
potencial de revitalização de uma “cultura de saídas”? A resposta deve ser
prudente. Não podemos esquecer que, em grande medida, representam um
prolongamento da exposição à sociedade de consumo patente nos tempos doméstico‑receptivos.
Do mesmo modo, o seu cariz socializador afigura‑se fraco. Os não‑lugares
só lidam “com indivíduos (...) mas estes
não são identificados, socializados e localizados (...)É à maneira de um imenso
parêntese que os não‑lugares acolhem um número cada vez maior de
indivíduos (...) O não‑lugar é o contrário da utopia: existe e não
alberga nenhuma sociedade orgânica”[810].
Mas estes espaços podem conter, em si mesmos, sementes de um “espaço praticado”
(para utilizar a terminologia de Certeau). Iniciativas de animação (concertos,
exposições, performances) têm vindo a
proliferar nestes cenários. Sabemos que elas constituem, antes de mais, uma
tentativa de reforço do ethos
consumista (que talvez se possa definir pela máxima de Augé: “fazer como os outros para ser ele próprio”[811]),
através do poder da “atracção adjacente”[812]
que direcciona os olhares e os estímulos para as mercadorias circundantes e
omnipresentes. Ao abranger a esfera do lazer, mais necessidades são satisfeitas
e mais motivos as pessoas encontram para frequentar estes locais. Mas demitirmo‑nos
de uma acção cultural organizada, equivaleria a legitimar a fuga da cidade,
dentro da cidade, que eles também (e tão bem) representam. E, quem sabe, se em
vez de se oferecerem como objecto de uma “etnologia
da solidão” de que Marc Augé reivindica a emergência, não poderão
constituir novos cenários de encontro, “agir
comunicacional” e sociabilidade. Neles circulam cidadãos, ainda que
adormecidos, públicos virtuais a serem conquistados.
CAPÍTULO IX
ESTRATÉGIAS DE PESQUISA
“Il n'y a pas de raison de penser que soient inconciliables l'étude (que l'on veut certainement qualifier d'«objectiviste» si elle menée de manière unidirectionnelle) des structures de vie en commun et celle (que l'on peut certainement qualifier de «subjectiviste», si elle est menée de manière unidirectionnelle) du sens en fonction duquel les participants à une existence commune font l'experience des divers avatars de celle‑ci.”
Norbert Elias, “Sur le concept de vie quotidienne”[813]
1.
Elogio do ecletismo
metodológico.
Hoje
começa a ser predominante a perspectiva dos que consideram que as
reconfigurações do social exigem um acompanhamento permanente por parte da
construção teórica e da reflexão metodológica, com importantes consequências
sobre o aparato tecnológico das ciências sociais. Se os fenómenos sociais se
transformam, deverá igualmente modificar‑se a forma de os apreender
através de instrumentos conceptuais adequados. A proliferação de teorias auxiliares de pesquisa[814], permite vislumbrar
o princípio de que a investigação empírica é ela própria conduzida por
hipóteses sobre o carácter social das relações de observação, explicitando os “processos simbólico‑ideológicos
envolvidos na elaboração (recolha e tratamento) da informação empírica
sociologicamente relevante”[815]. Assim, somos
levados a reflectir sobre a necessidade de conjugarmos procedimentos
metodológicos diversos.
Se é
legítimo desconfiar das concepções positivistas que encontram nas estatísticas
o alfa e omega da cientificidade, também nos parece inadequado resvalar para um
“anti‑cientismo” totalmente
confiante na veracidade da expressividade do ponto de vista do agente. Aliás,
esta dupla desconfiança é o desafio exigido pelas novas condições sociais e
teóricas da prática científica. Se, como refere António Teixeira Fernandes, a
concepção determinista dos fenómenos sociais (associado à crença “cientista” do
positivismo) se prende a um mundo de referências seguras e estáveis, próprio de
um modelo integrado de cultura, da mesma forma as metodologias compreensivas
tendem a impor‑se num cenário em que os sistemas sociais perdem
normatividade e coerência, fragmentando‑se e flexibilizando‑se, o
que leva ao centramento da análise nas condutas individuais e interindividuais
e no sentido que produzem[816]. No primeiro caso,
favorece‑se a “entificação da
sociedade como um todo”, bem como a “reificação
da realidade social”[817], de maneira a
prever a evolução dos fenómenos, captados através de regularidades e leis. No
segundo, emergem “paradigmas de
indeterminismo”[818] para apreender as
lógicas dos micro‑sistemas culturais em que se baseiam as identidades
plurais. Os fenómenos sociais são apresentados como “fluidos, multiformes, pulverizados e em constante mudança”[819].
No
entanto, como o mesmo autor refere, a dissolução aparente do social esconde,
afinal, processos de recomposição e movimentos cíclicos de reestruturação. Se é
verdade que as realidades sociais se apresentam sob novas formas, certamente
menos coerentes e previsíveis de acordo com paradigmas teóricos
desactualizados, nada nos aconselha a aceitarmos a acção social como actuando
num campo infinito de liberdade e indeterminismo, condição, aliás, que
contraria não só a possibilidade de existência de um discurso e prática
sociológicos autónomos, como os próprios conceitos de sociedade e relação
social.
Assim,
parece‑nos mais adequado multiplicar as formas de abordagem do objecto de
estudo, negando modelos metodológicos unidimensionais e privilegiando a
complementaridade, exercício de “compatibilização
deliberada entre extensividade e intensividade, centrifugação e centripetação
da pesquisa”[820].
Desta
forma, conciliámos técnicas como um inquérito por questionário aos públicos de
três organizações culturais, a análise documental de fontes estatísticas (elas
mesmas produtos institucionais normalizadores que requerem exame crítico
permanente, em particular no que se refere ao estado pela luta de
classificações legítimas que de alguma forma reflectem: nomear e categorizar,
como já tivemos ocasião de afirmar, é também criar, seleccionar, incluir,
excluir[821]), a análise de
conteúdo de entrevistas, por número de ocorrências e por definição de
categorias temáticas (abordagem qualitativa) e a observação directa metódica e
sistemática. É o próprio carácter relacional do objecto de estudo que assim o
exige.
Em todos
os momentos do trabalho de campo deparámos com operações quantitativas e
qualitativas. As primeiras nunca o são inteiramente, já que é necessário
seleccionar e definir o que vai ser medido e posteriormente interpretado. Do
mesmo modo, as metodologias qualitativas não prescindem hoje de uma
contabilização estatística mínima da frequência dos fenómenos que observam.
Finalmente,
importa salientar a omnipresença da teoria (embora em “doses” distintas) ao
longo da pesquisa. De facto, esta unifica os momentos de investigação,
impedindo divisões artificiais entre concepção e execução, estando presente
quer na definição de modelos de análise, quer no próprio trabalho de campo, o
qual, ao requerer uma presença muito activa do investigador, faz redobrar a
necessidade de uma atenta vigilância epistemológica, impossível de accionar sem
quadros teóricos adequados. O que não significa, obviamente, que não se desafie
a teoria de partida, testando o seu grau de adequação ao real — exigência
crucial em processos que lidam com o simbólico, ou seja, com a produção,
circulação e apropriação de sentido pelos agentes sociais em contextos
específicos.
2.
Breve reflexão sobre
as técnicas utilizadas.
2.1.
Análise documental
de fontes estatísticas.
O nosso
primeiro exercício, prévio mesmo à fase exploratória de trabalho de campo,
consistiu na recolha e análise de uma ampla gama de indicadores que fornecessem
uma imagem de conjunto, ao mesmo tempo sincrónica e diacrónica, dos contextos
territoriais. Assim, tentamos obter dados estatísticos de índole demográfica,
económica, social e cultural, de maneira a compor um quadro relativamente
completo das respectivas dinâmicas. Utilizamos quer informações já recolhidas e
construídas em “segundo grau” em trabalhos sobre a realidade portuguesa,
inseridas num quadro interpretativo próprio, quer uma série de publicações do
Instituto Nacional de Estatística (INE), ou indicadores fornecidos on line pelo site do INE na Internet, onde a informação aparece mais actualizada
e desagregada, quer ainda informação
estatística tratada em revistas de estudos do INE. Sempre que possível,
comparámos quatro escalas territoriais: nacional, regional (Nuts II — Região
Norte), metropolitana e concelhia. Desta forma, pretendemos não só reconstituir
imbricações entre os diferentes níveis referidos, como salientar as respectivas
especificidades. Revelou‑se extremamente elucidativo para o nosso objecto
de estudo o trabalho de análise das reconfigurações recentes da estrutura
social portuguesa, em particular no que diz respeito à composição socio‑profissional
e à mobilidade social.
2.2.
Entrevistas
exploratórias.
Estas
entrevistas, acompanhadas de uma observação incipiente e “diletante” de alguns
“quadros” de interacção, permitiu‑nos orientar as “grandes teorias” ou
“teorias gerais”[822] do modelo de
análise para certos aspectos “locais” da pesquisa. Por outras palavras,
favoreceu uma flexibilização de conceitos abstractos, permitindo uma selecção
das teorias de médio alcance mais
adequadas, bem como o accionar das já referidas teorias auxiliares de pesquisa, num processo em que se combinam,
como aliás ao longo de todo o trabalho, procedimentos lógico‑dedutivos
(partir de modelos teóricos preexistentes) e indutivos (em que se parte dos
factos empíricos para produzir “um
esquema de inteligibilidade teórica que possa evidenciar, em doses variáveis,
relações sistémicas, causais ou funcionais, processos, etc.”[823]). A fase
exploratória, de índole qualitativa tem, pois, o mérito de não aplicar uma
“camisa” de forças aos dados empíricos, deixando‑os “desafiar” as teorias
de partida.
No
entanto, não nos parece, ao contrário do que por vezes se vem advogando, que
esta fase exploratória deva ser meramente empírica, ou reduzida a uns vagos
conhecimentos sobre o tema que se pretende estudar. O aprofundamento dos
quadros teóricos deve ser um trabalho activo desde os primeiros passos da
pesquisa. Somente desta forma se poderá falar, com pertinência, de vaivém teoria/pesquisa
empírica ou de resolução do hiato que tantas vezes as separa.
No
presente estudo, as entrevistas exploratórias dirigiram‑se aos
responsáveis dos espaços culturais em análise, bem como a alguns informantes privilegiados sobre os
mundos noctívagos da cultura. Baseou‑se, igualmente, numa análise de
conteúdo qualitativa dos materiais de publicidade produzidas para divulgar a
oferta cultural desses espaços. Ou seja, procurou‑se, essencialmente,
construir um esquema de inteligibilidade da oferta teórica e das representações
dos directores artísticos e produtores culturais.
2.3.
O inquérito por
questionário.
Como
vários autores têm referido, a possibilidade de inquirir populações
relativamente vastas e a comparação de resultados são duas das vantagens dos
inquéritos por questionário. No nosso estudo o inquérito permitiu‑nos, de
facto, descortinar regularidades nas práticas culturais dos públicos, bem como
as clivagens exercidas por variáveis estruturadas
e estruturantes como a idade, o sexo, o capital escolar e a trajectória
social. Simultaneamente, possibilitou‑nos a comparação entre os três
espaços seleccionados, bem como a explicitação de lógicas de heterogeneidade
internas a cada um deles, desfazendo assim as recorrentes “ilusões da homogeneidade”.
No entanto,
a aplicação de um inquérito sobre práticas culturais comporta vários riscos e
desvantagens. Desde logo, por questões práticas. O inquérito que construímos
revelou‑se inadequado face à reduzida disponibilidade revelada pelos
inquiridos. De facto, um inquérito longo (Anexo
III) que demora cerca de trinta minutos a ser preenchido coaduna‑se
mal com o espírito de descontracção e diversão das saídas culturais nocturnas.
Por outro lado, condições de ruído pouco favoráveis (no B Flat e na Praia da
Luz) reduziam o tempo efectivamente
consagrado ao inquérito. Deveríamos ter elaborado um instrumento mais ágil e
com menos questões abertas. Assim, os inquéritos recolhidos (547) e
distribuídos em várias ocasiões, para cada um dos espaços, de forma a
conseguirmos uma aproximação à real diversidade e constituição dos públicos,
representam apenas cerca de 30% dos
inquéritos distribuídos. De igual modo, as respostas às questões respeitantes à
caracterização socioprofissional dos inquiridos, da sua família de destino e de
origem, obtiveram índices de não‑resposta ou resposta incompleta
superiores a 50%, impossibilitando a
utilização de uma matriz de construção de lugares de classe.
Mas há
razões mais profundas e que nada têm a ver com este tipo de contingências. Com
efeito, o inquérito por questionário é frequentemente criticado por reproduzir
uma versão oficial da realidade, na medida em que, na elaboração das perguntas,
nas respostas e na sua posterior codificação intervêm factores sociais que
transcendem a situação de inquérito, embora esta também seja socialmente
condicionada (em especial nos casos de administração indirecta, em que se
verifica interacção entre inquiridor e inquirido). Reacções de prestígio e
acomodação aos padrões sócio‑culturais que se julgam dominantes são
atitudes que, em especial em inquéritos sobre práticas culturais, aos quais
está subjacente uma definição legítima
dessas práticas, se revelam habituais. A resposta, como escreveu Virgínia
Ferreira, é o “resultado da identidade
social e pessoal estratégica que o respondente definiu como adequada à
situação”[824]. Claro que, no
presente caso, e à luz de todos os anteriores trabalhos neste domínio, seria
previsível (tal como efectivamente se veio a verificar) uma certa homogeneidade
nas características sócio‑demográficas dos inquiridos (juvenilidade, alto
capital escolar, etc.) o que evita grandes desvios face ao “inquirido modelo”
(em termos de competências cognitivas, linguísticas e culturais) que está
igualmente implícito em cada inquérito e que, não raras vezes, se aproxima do
perfil social do investigador.
De
qualquer forma, e como acentua João Sedas Nunes, mesmo num inquérito em que se
utilizam tipologias de práticas culturais que se aproximam de uma visão
alargada e diversificada do campo cultural, tendo‑se em conta,
paralelamente, os usos quotidianos do tempo, introduz‑se, mais ou menos
subliminarmente um arbitrário cultural: “por
que razão um museu é naturalmente um
equipamento cultural e uma linha de metropolitano não o é? (...) Por que razão
a ida a um museu é naturalmente uma
frequência cultural e a utilização daquela linha não o é? Ou, num outro plano,
por que razão a leitura de um livro é entendida como recepção de uma «obra
cultural» e a resposta a um inquérito (...) não o é?”[825].
De qualquer forma, o inquérito é um instrumento útil na contextualização social das práticas culturais e das representações simbólicas, ao permitir detectar constelações de atitudes, opiniões e crenças, relacionando‑as com variáveis que traduzem relações e condições objectivas de um espaço social estruturado, dentro de uma perspectiva que se pode considerar holística, bem como definir a frequência estatística das dimensões observadas. Desde que se tome consciência da sua falsa neutralidade e, bem entendido, conquanto seja integrado em programas de pesquisa ecléticos no que respeita à utilização da panóplia de técnicas disponíveis.
2.4.
As entrevistas semi‑directivas.
Estas
entrevistas, aplicadas em número de 88 durante a fase central do trabalho de
campo, em paralelo com os inquéritos (embora a indivíduos diferentes), como se
pode constatar pelo respectivo guião (Anexo
IV), tinham como objectivo captar o discurso dos praticantes culturais
sobre a relação entre o “ficar em casa”
e o “sair à noite”, bem como os
significados associados ao espaço doméstico e ao espaço semi‑público de
sociabilidade mundana e cosmopolita. O guião revelou‑se suficientemente
flexível para permitir aos entrevistados a expressão da sua “realidade”,
quadros interpretativos e esquemas de referência, sem obrigar a entrevistas
muito longas (quinze a vinte minutos em média). Ao contrário do inquérito, a
reacção dos entrevistados foi quase sempre positiva, o que se pode relacionar,
precisamente, com a maior possibilidade de estruturarem o seu discurso sem grandes
limitações prévias.
Se
iniciássemos agora a pesquisa, reformularíamos as questões abertas e semi‑abertas
relativas aos modos de recepção cultural de forma a fazerem parte do guião de
entrevista. Estas dimensões requerem, de facto, um enquadramento menos
“cartesiano”, de maneira a que, em situação de entrevista, as respostas
reflectissem as singularidades dos universos simbólicos dos entrevistados,
evitando qualquer lógica de estandardização ou condicionamento prévio.
2.5.
A observação
directa.
Com a
utilização de uma grelha de observação directa, pretendeu‑se colmatar
alguns dos limites inerentes às metodologias extensivas, bem como superar a
velha divisão do trabalho entre a sociologia (supostamente cingida ao inquérito
por questionário, instrumento da objectividade oficial e garante da separação
rígida entre sujeito e objecto) e a antropologia (limitada às técnicas de
observação, imersão nas realidades vividas)[826]. Como se sabe, a
descoincidência entre práticas efectivas
e práticas declaradas obriga a uma utilização
crítica das verbalizações dos inquiridos e entrevistados, em especial no que se
refere à expressão dos gostos e aos usos da cultura, em que a paralinguagem
(ritmo e timbre de voz, silêncios, hesitações, dicção, etc.) e a linguagem
cinética (gestos, olhares, posturas corporais, etc.) ocupam um lugar central.
Como refere Serge Collet, na defesa de uma “etnografia
dos públicos em acção”[827], os gostos devem
ser captados tanto por sistemas de atitudes verbalizados num discurso coerente,
como por gestos e mímicas: “Un
spectateur, ça bouge!”[828]. No entanto, não se
pense que a corporalidade é o reino do inefável: as reacções mais íntimas do
imaginário do espectador são codificadas e acessíveis à análise. Além do mais,
a pluralidade de formas de recepção de um espectáculo impele‑nos a ter em
conta, em diferentes momentos (antes do espectáculo, durante a sua realização,
nos intervalos, no final) dimensões como a relação com o espaço físico e a
forma como está organizado e regionalizado, os modos de apresentação em cena,
as modalidades de interacção, as conversas “espontâneas” (desenrolando‑se
perante a suposta ausência do investigador, que as regista a coberto do
anonimato), os registos descritivos de comportamentos, a sociabilidade etc.
Trata‑se, afinal, de captar “os
comportamentos no momento em que eles se produzem e em si mesmos, sem a
mediação de um documento ou de um testemunho”[829], com a vantagem de
ser uma técnica “não‑reactiva”,
como realça Crespi, “no sentido de
reduzir ao mínimo os efeitos da presença do investigador”[830].
Se a “verdade” dos respondentes não capta a
totalidade das relações sociais, se o seu sentido não se esgota na
intencionalidade dos agentes, não bastará, no entanto, utilizar técnicas de
cariz etnográfico. Como refere António Joaquim Esteves, “qualquer processo de empatia do investigador, colocando‑se do
«ponto de vista» do autor, não pode ficar refém da sua subjectividade ou do
sentido. A ser assim, o trabalho de investigação nem chegaria a estar à altura
de um trabalho de tradução”[831]. A objectivação dos
mecanismos simbólico‑ideológicos de que os agentes se servem
quotidianamente no processo de construção social da realidade revela‑se
igualmente indispensável.
3.
Um estudo de casos
comparativo.
O
carácter multifacetado desta pesquisa não pode ser dissociado do facto de
estarmos em presença de três estudos de caso, em que se pretendeu analisar, com
um certo grau de exaustividade e profundidade, a interacção de factores
inerentes às vivências culturais em cenários com identidades específicas. Claro
que não se logrou esgotar o leque de dimensões de análise, como por vezes
ingenuamente se espera de um estudo intensivo. Antes se optou pela análise
selectiva de questões‑chave, nomeadamente as que remetem para a
interdependência recíproca entre o espaço social e a esfera cultural em
processos de rápida mudança social em contexto urbano.
A
generalização é, obviamente, limitada, embora não impossível. O mais
importante, todavia, como salienta Judith Bell, é alargar os quadros do
conhecimento existentes, de forma a fornecer modelos de análise que possam ser
testados em situações semelhantes[832].
Uma
dimensão deste estudo que deve ser realçada é o seu cariz comparativo. De
facto, ao analisarem‑se três espaços de fruição cultural com programações
diferentes (embora com pontos de convergência) pretendeu‑se dar conta da
pluralidade de mundos da cultura, ao mesmo tempo que se insinuou a
possibilidade de cada um deles constituir um tipo‑ideal de instituição cultural. Finalmente, ao introduzir‑se
a perspectiva comparativa, clarificou‑se a especificidade de cada local.
Assim, o Teatro Municipal Rivoli, por exemplo, ganha contornos mais nítidos (a
sua singularidade torna‑se mais transparente) ao ser posto em relação com
os restantes espaços e vice‑versa.
4.
Uma nova grelha de
classificação das práticas culturais.
Com
o duplo propósito de, por um lado, operacionalizarmos as categorias e relações
entre categorias presentes no modelo de classificação das práticas culturais
desenvolvido por José Madureira Pinto[833],
e, por outro, de mantermos o princípio de cumulatividade do conhecimento
científico, propomos a grelha seguinte. Como se poderá constatar, ela segue
relativamente de perto a nomenclatura utilizada por José Machado Pais em vários
estudos[834],
não excluindo, no entanto, novos critérios de agrupamento das práticas
culturais (modificando o conteúdo das categorias) e mesmo algumas alterações
conceptuais.
I.
Espaço Doméstico
1.
Práticas domésticas criativas: fazer “bricolage”; artesanato;
escrever um “diário”; cozinhar por divertimento.
2.
Práticas domésticas expressivas, de interacção e sociabilidade:
receber familiares em casa; receber amigos em casa; ir a casa de familiares; ir
a casa de amigos.
3.
Práticas domésticas receptivas, de consumo e/ou fruição:
ver televisão; ouvir rádio; ouvir música; ler livros sem ser de estudo ou
profissionais; ler jornais[835];
ler revistas; ver filmes vídeo em casa.
4.
Práticas domésticas de abandono: não fazer nada; dormir
a sesta.
II.
Espaço Público
5.
Práticas expressivas públicas: Frequentar festas de carácter
popular; passear; fazer desporto; fazer “jogging”; fazer pequenas viagens; ir à
pesca; ir à caça; ir à praia; passear em centros comerciais; ir a feiras.
6.
Práticas participativas públicas: assistir a jogos de futebol
(ou outros espectáculos desportivos); assistir a touradas; ir ao circo; ir a
concertos de música popular e moderna.
III.
Espaço Semi‑público
7.
Práticas expressivas semi‑públicas: ir a
cafés, cervejarias, pastelarias; ir à missa ou a cerimónias religiosas; ir a
discotecas; ir a bares; almoçar ou jantar fora sem ser por necessidade; jogar
em máquinas electrónicas (casas de jogos); ir às compras (roupa, discos,
livros, etc.).
8.
Práticas receptivas semi‑públicas: ir ao
cinema.
9.
Práticas de rotina semi‑públicas: comprar
comida e mercearias.
IV.
Espaço Associativo/espaço semi‑público organizado
10.
Práticas associativas criativas: fazer teatro amador;
dançar (dança contemporânea, ballet, jazz e folclore); tocar (num grupo
musical, coro, rancho, etc.); cantar (num grupo musical, coro, rancho, etc.).
11.
Práticas associativas expressivas: ir a associações
recreativas ou a colectividades locais; jogar xadrez; jogar às cartas, damas,
bilhar, etc.; fazer campismo e caravanismo.
V.
Espaço da cultura cultivada/sobrelegitimada
12.
Práticas eruditas criativas: escrever (poemas, contos,
etc.); artes plásticas (pintar, desenhar, etc.); fazer fotografia (sem ser em
festas ou em férias).
13.
Práticas receptivas e informativas de públicos cultivados: ir
ao teatro; ir a concertos de música clássica; visitar museus, exposições, etc.
Convém
explicitar que a tipologia proposta por José Madureira Pinto assenta no
cruzamento de dois critérios: “modos de
relação com os bens culturais” e “espaços
sociais de afirmação cultural”. A grelha deste autor complexifica o modelo
sugerido por Lalive D'Epinay[836],
que cruza a posição do actor (dicotomicamente dividida em “emissor” e “receptor”) e
o espaço das práticas, segmentado em “caseiras”
e “exteriores” (cada um dos conjuntos
com várias subdivisões). O esquema de Madureira Pinto permite ir mais longe na
consideração das hierarquizações do campo cultural ao considerar, para além do
“público” e “privado”, o espaço organizado e mais ou menos tutelado das
subculturas dominadas e/ou emergentes, o espaço das indústrias culturais e o
círculo da cultura cultivada.
Por outro lado,
enquanto D'Epinay considera apenas três conjuntos de práticas —expressão,
interacção, informação —, Madureira Pinto propõe criação, expressão (associada
à interacção), participação e recepção/consumo, enriquecendo o leque de modos
de apropriação da cultura.
A nosso ver, na
“participação” podemos conceber a “fruição cultural”, enquanto processo de
recepção tão activo que transforma o receptor em emissor, ainda que no contexto
de uma produção que lhe é exterior (por exemplo, assistir a espectáculos
desportivos ou de música popular/moderna — o espectáculo dentro do
espectáculo).
Acrescentamos uma
outra categoria, de carácter quase residual no conjunto da tipologia, retirada
da proposta de José Virgílio Pereira[837]
(por sua vez inspirada em Lalive D'Epinay e Norbert Elias) — “práticas de
rotina semipúblicas” — e que apenas pode ser incluída no campo cultural se da
cultura mantivermos uma concepção ampla e antropológica.
Ir ao cinema, enquanto saída cultural relativamente
generalizada e abrangendo uma pluralidade de géneros (filmes de “autor” — a
chamada “indústria de conteúdos” —, megaproduções “comerciais”, filmes
pornográficos, etc.), foi separada das práticas receptivas e informativas dos
públicos cultivados.
Quando nos
referimos a “práticas associativas” fazêmo‑lo num sentido lato, já que
não têm necessariamente de ocorrer em associações formalmente constituídas, mas
sim em espaços colectivamente organizados com fins também, embora não exclusivamente, formativos (é o caso de praticar
canto ou dança em escolas especializadas).
A inclusão dos centros comerciais no espaço público
justifica‑se pelo facto incontornável de serem o “passeio público” da
actualidade (sub)urbana, de acesso quase livre e potencialmente gratuito. Não
esquecemos, todavia, que constituem “mundos artificiais” onde se exerce de
forma velada uma efectiva selecção e controlo sociais.
Ir às compras sem
ser por mera rotina (caso das roupas, livros e discos) assume‑se como um
acto de potencialidades lúdicas, conviviais e mesmo formativas (frequentar
assiduamente uma livraria, por exemplo), com o intuito explícito, muitas vezes,
de quebrar a dita rotina.
Finalmente,
importa referir que estes mecanismos de selecção, ordenação e abstracção do
material recolhido (nomenclaturas, tipologias), ao mesmo tempo que facilitam a
interpretação, excluem certas dimensões de análise. Na pesquisa, como em
qualquer actividade humana, optar acarreta sempre ganhos e perdas.
CAPÍTULO X
ESPAÇOS E TEMPOS DE
UMA INVESTIGAÇÃO
1.
Rivoli: A fénix renascida.
1.1.
Breve Historial.
O Teatro Rivoli acompanha muito de perto a história do
Porto neste século. Lugar de evocações, memórias, vivências e emoções, associa‑se,
de forma marcante, a uma determinada época da vida de muitos portuenses:
“Para
mim o Rivoli com o seu nome de sabor italiano pontuado de vogais abertas é uma
memória do princípio da adolescência (...) o teatro aparecia‑me enorme na
sua arquitectura ágil de desassombrado modernismo numa cidade quase sempre
dominada pelo peso granítico dos edifícios oitocentistas (...) Apagavam‑se
as luzes do teatro e soavam os primeiros acordes de afinação, enquanto subiam
as luzes do palco e algumas tosses renitentes se iam aplacando na plateia (...)
Mais do que a missa, ainda em latim, que não tinha idade para perceber, o
concerto de domingo de manhã no Rivoli iniciava‑me à dimensão misteriosa
do espiritual”[838].
Para outros frequentadores, o Rivoli soará de forma
diferente, porque muitos foram os que transpuseram as suas portas ao longo de
uma história multifacetada e salpicada de imprevistos. Alguns lembrar‑se‑ão
das soirées de dança, música ou
ópera, outros de filmes a diferentes títulos memoráveis (alguns de películas de
duvidosa qualidade, inclusivamente de cariz pornográfico...), outros ainda da
metamorfose do teatro em gigantesca discoteca. Enquanto lugar de memória, o
Rivoli é um manancial de vozes que a seu modo interpretam os contextos
espaciais em que se movimentam. O Rivoli, espaço e lugar, é um texto
polissémico e gerador de discursos polifónicos: existirá sempre em função de
diferentes pontos de vista de actores socialmente situados[839]. Como refere Isabel
Alves Costa, directora artística do novo Rivoli:
“Esta
casa tem um peso muito grande na memória das pessoas: foi um centro de ópera
muito importante em determinada época; há memória de cinema, sobretudo nas
camadas mais populares; a formação musical de muitas pessoas foi feita aqui”[840].
Ou ainda Pedro Ramalho, arquitecto responsável pela
recente recriação do edifício:
“Do
ponto de vista arquitectónico e urbanístico, considero que o Rivoli faz parte
integrante de toda a renovação urbana do centro do Porto desde o início do
nosso século (...) o mérito da obra é muito mais exterior do que interior e tem
a ver com a sua localização”[841].
O seu nascimento remonta ao antigo Teatro Nacional,
propriedade de Manuel Pires Fernandes e da família Borges (ligada à banca),
abrindo as suas portas em 5 de Dezembro de 1913, com uma lotação de 1500
lugares, para a estreia de uma peça de teatro de revista “importada” de Lisboa.
Ocupava o grandioso edifício todo o espaço do actual Rivoli e da filial da
Caixa Geral de depósitos. A sua construção articula‑se com uma profunda
renovação urbanística do “novo” centro da cidade (Avenida dos Aliados, Praça da
Liberdade) que se inicia na segunda década do nosso século. Pelos registos da
imprensa local, o novo espaço causou admiração, dada a sua dimensão e arrojo,
salientando‑se, desde logo, no conjunto dos equipamentos culturais da
época[842].
Demolido o Teatro Nacional, nasce, em 20 de Janeiro de
1932, o Rivoli, propriedade do mesmo empresário, Pires Fernandes. Dois anos
antes, em Assembleia Geral da empresa que viria a gerir o Rivoli, regista‑se
que “o desideratum desta empresa era
dotar o Porto com uma casa de espectáculos digna da capital do Porto, e nunca
com fins de especulação rendosa, pois nenhuma probabilidade havia de se poder
obter um juro remunerador do capital a despender, jamais no estado em que se
encontra o Teatro Português”[843]. Curiosas e actuais
palavras... Repare‑se que o seu sentido permanece inteiramente actual:
aponta‑se a região do Porto (e não apenas a cidade, a capital) como área beneficiária do
equipamento; define‑se a intenção de uma política de serviço cultural não
lucrativo e fala‑se, ainda, da “crise” do teatro português como
dificuldade a superar.
Uma vez mais, o Rivoli, que aumenta a sua capacidade para
1800 lugares, estreia com uma peça produzida em Lisboa, estilo teatro‑comédia,
da companhia do Teatro Nacional liderado pela famosa dupla Amélia Rey Colaço —
Robles Monteiro. De novo, recepção entusiástica da crítica e do público. O
edifício impressionava pelos seus “átrios,
escadarias, decoração, pinturas, comodidade e número de lugares”[844], sendo por alguns
considerado “a última palavra em
modernismo, em conforto e em bom gosto”[845]. Logo oito meses
após a sua inauguração, o Rivoli encerra para breves obras, tendo em vista a
introdução do cinema sonoro. A isso obrigou a pressão do público, claramente
rendido à sétima arte. Como refere Bandeira, “verificamos que uns bons 90% da programação do Rivoli, a partir da
temporada de 1933/34, é constituída por cinema”[846], correspondendo a
uma época de ouro da cinematografia americana[847]. No entanto está
igualmente presente o teatro para o grande público, a par dos concertos, da
ópera e da opereta.
A partir de 1944, com a ascensão de D. Maria Borges ao
cargo de directora, começa o que para muitos foi a época áurea do Rivoli.
Autêntica mecenas das artes, apoia a Orquestra Sinfónica do Conservatório de
Música do Porto, bem como o Círculo de Cultura Musical, promovendo igualmente
temporadas de ópera e recebendo algumas das melhores companhias teatrais
europeias, mantendo‑se, simultaneamente, o cinema de qualidade. Pode‑se
considerar que esta fase, que durou até aos anos 60, representa uma
reorientação do Rivoli em direcção a públicos mais cultivados, cumprindo, ao
mesmo tempo, a função de representação simbólica da burguesia portuense
instruída.
Nos anos 70 (D. Maria Borges morre em 1976), a agonia
toma conta do Rivoli, a contas com grandes dificuldades financeiras e com uma
degradação extrema da sua programação, confinada exclusivamente ao cinema,
exibindo mesmo, entre 74 e 75, colecções de filmes pornográficos. Antes de ser
adquirido, em 1989, pela Câmara Municipal do Porto, o Rivoli foi ainda uma
danceteria e cobiçado por empresas imobiliárias, sendo ventilada a ideia de
demolição. A intervenção camarária salva o edifício e submete‑o a obras urgentes
de remodelação. Ainda em 1989, é consagrado como Teatro Municipal, por
unanimidade dos partidos representados na autarquia.
A partir de 1991, e com a criação do Pelouro de Animação
da Cidade, decide‑se proceder a uma ampla reconstrução do edifício, sendo
o projecto da responsabilidade do arquitecto Pedro Ramalho. Entretanto, e antes
de as obras se iniciarem, é desenvolvido um período de programação cultural que
serve para testar projectos, burilar o futuro modelo organizacional e apreender
algumas características dos públicos potenciais. Mesmo com a primeira fase das
obras a decorrer (que incluíram a remoção das cadeiras da sala de espectáculos)
teve lugar o ciclo de teatro Rivoli Vazio,
com o intuito de experimentar as potencialidades cénicas de um espaço “despido”
e provisório[848].
O “novo” Rivoli, renascido de um teatro esventrado que
pouco mais conservou do que algumas fachadas, baixos‑relevos e traços
arquitectónicos de identificação, é inaugurado a 16 de Outubro de 1997 com um
concerto da recém‑criada Orquestra Nacional do Porto. O edifício afigura‑se
bastante remodelado e com uma multiplicidade de espaços. Desde logo o grande
auditório com lotação de 858 lugares, em forma de anfiteatro, sem os velhos
camarotes e com uns polémicos painéis acústicos. Mas contando igualmente com um
pequeno auditório para cerca de 180 espectadores, um café‑concerto e um
restaurante, um amplo foyer e, em
zona reservada, uma sala de ensaios que reproduz o palco, camarins, um bar de
artistas e um espaço amplo para o sector administrativo.
1.2. Um novo modelo organizacional e
de programação cultural.
Muitas outras dimensões mudaram com o “novo” Rivoli. O
modelo organizacional e gestionário é inédito na história cultural da cidade.
Com efeito, “a programação, organização e
produção das actividades do Rivoli Teatro Municipal”[849] é uma das
principais incumbências da CulturPorto —
Associação de Produção Cultural, composta por dois associados fundadores: a
Câmara Municipal do Porto (que assegura a sua direcção, através da vereadora do
Pelouro de Animação da Cidade) e o Instituto Politécnico do Porto, onde se
encontram integradas as Escolas Superiores de Teatro e de Música e,
futuramente, de Dança. Várias são as razões subjacentes à escolha deste modelo.
Por um lado, como nos referiram os responsáveis autárquicos, obtém‑se um
grau de flexibilidade e operacionalidade que jamais se conseguiria caso fosse a
autarquia a gerir o Teatro, sujeita que está a uma vasta panóplia de obrigações
burocráticas[850]. Por outro lado,
estimula‑se a possibilidade de fomentar a educação artística, um dos
objectivos declarados da nova direcção artística. De facto, para lá da promoção
de novos artistas e do serviço público de apoio à criação artística propõe‑se
contribuir para a formação, em contacto com o público e com outros agentes
culturais, de maneira a quebrar eventuais efeitos de fechamento. Aliás, toda
esta vertente é pensada articuladamente com a formação de públicos em geral, e
na sua dimensão juvenil em particular, através de três possíveis hipóteses:
‑
“convidar um encenador para fazer uma produção no teatro, sendo proposto a um
grupo de escolas o mesmo texto para que, durante o processo de montagem do
espectáculo profissional, pudesse haver encontros e discussões, tornando os
jovens que trabalharam aquela mesma história em público privilegiado do
espectáculo”
‑
“convidar uma companhia de fora para residir durante um certo tempo no teatro,
montando e fazendo a estreia de um seu espectáculo (...) queria recuperar a
ideia de residência, obrigando contratualmente os artistas. Eles saberiam o que
tinham para fazer, obrigando‑os a uma participação activa nas actividades
do teatro. Podendo fazer ensaios abertos, participar em colóquios, em
conferências, tertúlias (...) tentar saber antes de elas serem residentes qual
o tema, partindo de um texto ou de uma criação colectiva e propor essa
problemática ao grupo das escolas”
‑
“ a terceira maneira era partir de um espaço, convidar as escolas para virem
ver o espaço e dizer‑lhes «este é o teatro onde podem apresentar o vosso
trabalho de fim de ano». Implica fazer uma visita séria ao auditório, com todas
as indicações técnicas precisas. Parte‑se de uma apreensão do espaço para
uma criação”[851].
Existe, aliás, dentro desta mesma
linha, um interessante projecto, ainda não concretizado, apresentado por Teresa
Lima e que tem por lema, precisamente, a formação do espectador. Considera‑se,
nesse documento, que o contacto com as escolas e o movimento associativo são a
pedra de toque de uma política de formação de públicos. Insiste‑se,
igualmente, na dessacralização da produção artística através do contacto
próximo com as técnicas da criação e com os próprios criadores.
No entanto, um dos pressupostos
revela‑se no mínimo discutível, especialmente tendo em conta a vocação municipal do Rivoli, ou, se preferirmos,
a sua “natureza” de instituição cultural de serviço público. Quando se afirma
que “formar espectadores significa formar
melhores espectadores e não angariar mais espectadores (vocação da
publicidade e marketing)”[852] resvala‑se
para uma aporia de contornos duvidosos, já que, como discutimos noutros
capítulos, tal diferendo deve ser assumido como uma tensão em permanente busca
de compromisso.
Outro eixo estruturante da programação liga‑se à
polivalência do Teatro. Como já referimos, o Rivoli é composto por uma
pluralidade de espaços onde, simultaneamente, se podem realizar actividades
diversas, embora quase sempre complementares. Uma das preocupações da direcção
é, precisamente, conferir uma certa identidade às várias iniciativas, de forma
a evitar a imagem de fragmentação. A própria filosofia inerente à polivalência
é de molde a suscitar sérias apreensões, desde logo na concepção do espaço,
como realça o arquitecto responsável pelo novo projecto:
“Como
espaço polivalente, nunca seria possível criar condições óptimas para cada um
dos diferentes espectáculos. Tivemos de conciliar as diversas situações
possíveis”[853].
Preocupações igualmente presentes na direcção artística:
“A
ideia da polivalência tem aspectos muito complicados. Nós sabemos que em termos
de visibilidade, de acústica, de comodidade, é um compromisso difícil que se
tem de encontrar para se fazer um bom concerto com uma orquestra, mais um
eventual com um Pedro Abrunhosa, mais uma ópera, um teatro, cinema, etc., já
que uma destas actividades ou mesmo todas resultarão menos boas (...) portanto,
o supermercado da cultura, como lhe costumo chamar, tem os seus perigos. Um
deles é o de não haver uma identidade definida”[854].
De facto, a filosofia da polivalência elimina a velha
especialização das casas de espectáculo, que tornava eventualmente mais fácil a
opção do espectador, habituado a relacionar um dado espaço com um determinado
género ou produção cultural. No entanto — e essa é uma enorme vantagem ‑,
permite a captação de correntes diversificadas de públicos, para além do
contigente já cativado. Um outro ganho prende‑se com a possibilidade de
explorar uma unidade temática através de várias formas de expressão e níveis de
cultura, repartidas por espaços de características diferentes (o grande
auditório, o café‑concerto, o foyer,
etc.). De certa forma, uma ideia‑mãe metamorfoseia‑se numa miríade
de modalidades, com públicos‑alvo diferenciados, embora sem deixar de
lado o eventual trânsito e intercâmbio que um espaço destes propicia. A mesma
directora artística, ciente, como há pouco vimos, das acrescidas dificuldades
desta polivalência, não deixa de assumir as suas vantagens:
“Eu
gostava que o Rivoli fosse um Centro Cultural do Porto. Não um centro comercial
de cultura, mas um centro cultural no sentido positivo do cruzamento, do
encontro, da discussão, do diálogo entre as várias expressões”[855]; “Pretende‑se que o Rivoli possa ser um
centro de convívio, formação, cruzamento, versatilidade, confronto,
discussão...”[856].
Esta questão é indissociável da vocação municipal do
teatro. Não só se pretende que atinja um público vasto, como, mais importante
ainda, se almeja que cumpra um espírito de democratização cultural e onde a
experimentação tenha um cunho de aprendizagem. A directora artística define
desta forma essa vocação intrínseca, por oposição ao status quo de um Teatro Nacional:
“Um
teatro municipal é um espaço mais democrático. Democrático no sentido nobre da
palavra. Um Teatro Nacional é um espaço menos democrático, na medida em que tem
de haver uma indicação mais fechada em relação à definição dos seus objectivos
(...) o S. João devia ser um exemplo do melhor que se faz. O Rivoli, por ser um
espaço mais democrático, tem mais direito ao erro. É um espaço que tem outra dinâmica,
deve‑se dar oportunidade às pessoas de fazerem mal, ali podem errar
porque só assim aprendem”[857].
Os reflexos deste espírito estão nitidamente patentes na
programação. Ao olharmos, aleatoriamente, para um qualquer mês de actividade
(Novembro de 1997, por exemplo), deparamos com a seguinte repartição:
‑ Grande Auditório: Festival de Jazz; Gust (dança contemporânea); A Libertação de Prometheus (música); Máquina Hamlet (teatro), etc.
‑ Pequeno Auditório: Cinema e Jazz; Inventão (teatro); Fausto e Prometeu no Imaginário Ocidental (conferência); concerto
de Domingo; ciclo de vídeo H. Muller; etc.
‑ Café‑concerto: programa Nascer da Noite[858]: club jazz;
programa Chá das 6[859]: A propósito do
jazz; Chá das 6: conversa com
Francisco Camacho; Nascer da Noite: Frei
Fado d'El Rei (música portuguesa); Nascer
da Noite: A canção alemã; etc.
Repare‑se como muitas das actividades se encontram
articuladas. A unidade temática jazz reparte‑se
por vários espaços e iniciativas; o mesmo acontece com a unidade teatro alemão, partindo da peça Máquina
Hamlet de Heiner Muller ou ainda, em menor dimensão, com a dança contemporânea,
já que o autor de Gust, Francisco
Camacho, participa igualmente na tertúlia.
Olhando para a programação que acompanhou a duração do
trabalho de campo, torna‑se igualmente patente a especialização de cada
um dos espaços. O Grande Auditório, dadas as suas características físicas e
simbólicas, contempla os grandes concertos (embora se note aqui uma grande
pluralidade, que vai da música clássica à música ligeira passando pelo jazz e pela dança contemporânea, sem
esquecer o teatro e o cinema, na forma de um festival internacional); o Pequeno
Auditório, por seu lado, alberga peças de teatro que requerem menores recursos
cénicos, a par de conferências, ciclos de vídeo e de cinema, bem como
lançamento de revistas; o Café‑Concerto, de longe o espaço com
programação mais heteróclita, acolhe espectáculos de magia, tertúlias, música
erudita contemporânea, hip‑hop,
música de raiz trovadoresca, jazz, performances teatrais, etc. Finalmente,
o foyer destina‑se quase
exclusivamente a exposições.
Outra importante consequência deste estatuto de Teatro
Municipal ancora na assunção da natureza não‑lucrativa (ou mesmo
deficitária) do seu funcionamento, numa lógica assumida de serviço público.
Como refere a vereadora da Animação da Cidade:
“A
CulturPorto vai ser financiada pela Câmara precisamente porque presta um
serviço público. Naturalmente que alguns espectáculos podem dar prejuízo...”[860].
Esta lógica de serviço público tem naturalmente
consequências financeiras significativas, obrigando à definição rigorosa de
critérios e prioridades, de forma a optimizar recursos escassos. Trata‑se,
uma vez mais, de delinear políticas. E de exercitar o espírito inventivo dos
programadores:
“A
minha experiência anterior do Festival de Marionetas habituou‑me a
trabalhar com pouco dinheiro e a tentar encontrar soluções interessantes e
baratas. Dizia muitas vezes que esperava que nunca me dessem dinheiro
suficiente para perder a imaginação necessária a criar formas de fazer capazes
de vivacidade e não produtos institucionais (...) Tivemos uma atenção quase
política, porque um teatro municipal depende de fundos municipais de municípios
que não são ricos num país que não é rico”[861].
Uma das formas de contornar custos económicos elevados e
de fomentar a colaboração entre instituições culturais de perfil complementar é
a realização de co‑produções. Aliás, a recente implantação e/ou
recuperação no Porto de diversos pólos culturais (com especial destaque para o
Teatro Nacional S. João e para o Coliseu) obriga a uma profunda articulação de
programas, não só para, precisamente, rentabilizar recursos e fomentar
intercâmbios, mas igualmente tendo em vista eliminar formas “negativas” de
concorrência. O próprio público, não o esqueçamos, é bastante restrito e não se
coaduna com a exibição, em simultâneo, de produções de cariz semelhante.
Outra estratégia, frequentemente usada pelos produtores
do Rivoli, consiste, perante a falta de verbas avultadas para as suas áreas, em
utilizar redes informais de conhecimentos, junto de produtores de outras
instituições, eventualmente mais abonadas, tendo em vista a obtenção de uma
informação complementar que permita um conhecimento diversificado de novas
propostas artísticas. Se um desses produtores mais afortunados tem a
possibilidade de se deslocar amiúde ao estrangeiro para se inteirar das
dinâmicas recentes do mercado internacional, é certo que prestará alguma
atenção aos pedidos dos seus colegas do Rivoli, mediando contactos e trazendo
informação. Tudo isto contribui, em nossa opinião, para criar dinâmicas de
colaboração no interior de um campo habitualmente conflituoso e competitivo.
Por outras palavras, a magreza dos orçamentos não tem só consequências
negativas e não é uma fatalidade incontornável.
1.3.
As expectativas do campo cultural portuense.
Como tivemos ocasião de esclarecer no
capítulo IX, referente às estratégias metodológicas, uma das nossas abordagens
exploratórias consistiu na auscultação às organizações culturais sediadas no
Porto sobre as expectativas criadas perante a renovação do Rivoli. Apesar do
fraco índice de respostas, é‑nos possível delinear um conjunto de
conclusões que, de certa forma, exprimem as posições ocupadas por essas
instituições no campo cultural portuense, os seus interesses específicos, bem
como a representação que elaboram sobre o posicionamento virtual do Rivoli.
Assim:
– A maior parte das entidades (12 em 16) desenvolve outras
iniciativas, para além da actividade principal a que se dedica. Tal deve‑se
à vontade de colaboração inter‑artística (juntando, por exemplo, o
teatro, os audiovisuais, a música e as artes plásticas), o que de alguma forma
confirma tendências recentes da produção cultural, no sentido de criar obras multiformes
e de fronteira, sacrificando a ideia
de uma “pureza” e linearidade originais[862]. Outro dos terrenos
onde essas organizações investem cinge‑se às actividades de animação
cultural e de formação. Razões de procura de fontes complementares de sobrevivência
económica estão também na origem deste exercício da polivalência;
– A
maior parte optaria também por uma conciliação entre ruptura e continuidade (8 respostas em 16 possíveis) no
funcionamento do Rivoli, de forma a preservar uma certa memória e uma tradição
de qualidade, mas equipando simultaneamente o espaço com as melhores condições
técnicas e com uma maior zona de trabalho para os artistas, a par de uma
diversificação das áreas de expressão cultural. As entidades que advogam a
ruptura justificam‑na pela inexistência anterior de um modelo de
contornos precisos e pela degradação a que o espaço tinha chegado;
– 12 destas instituições
defendem a polivalência (no que se refere aos espaços, às actividades e aos
públicos‑alvo) e a multifuncionalidade do Rivoli, nomeadamente pela
possibilidade de maior abertura a múltiplas e heterogéneas formas de expressão,
inclusivamente para além do domínio das artes do espectáculo. Uma das
instituições inquiridas afirma mesmo a sua aspiração de que “o Rivoli se torne um centro cultural digno,
que a cidade não possui. Que seja um pólo de atracção e de animação permanente”.
Esta ideia de centro cultural e de pólo é, aliás, recorrente;
– um altíssimo nível de expectativas face
ao “novo” Rivoli, o que revela, sem dúvida, não só a confiança de alguns dos
principais agentes culturais na viabilidade do seu projecto, mas, igualmente,
uma fortíssima carência de um equipamento com o perfil anteriormente delineado.
Por outras palavras, parece consensual a legitimidade atribuída ao Teatro
Municipal enquanto entidade privilegiada de criação, difusão e animação
cultural citadina e metropolitana. Repare‑se que do Rivoli se espera,
entre muitas outras funções, que promova
“actividades regulares de atendimento ao público muito jovem”; que dinamize
o teatro infantil; que contribua para a “criação
de hábitos culturais e de públicos regulares”; que estimule “ a realização de exposições, conferências,
debates, reuniões direccionadas para diferentes temas e áreas de interesse
social, político, cultural, estético, ético e artístico”; que crie, à
semelhança do que acontece com as empresas, “ninhos
de artistas”; que promova regularmente workshops e oficinas diversas; que
satisfaça, simultaneamente, “gostos
populares e eruditos”; que seja um espaço gerido por “pessoas inquietas e apaixonadas”; que invista nas “actividades multimedia e interactivas, com
especial destaque para todas quantas contribuam para o “consumo activo” da
cultura e da Arte; que acarinhe a abertura de uma Escola Municipal de Dança; que convide “estudantes de pintura para mostrarem os seus trabalhos e dar‑lhes
a oportunidade de se tornarem jovens cenógrafos, tanto para espectáculos de
bailado, como ópera, teatro, etc.”; que tenha “uma gestão moderna”; que “todo
o espaço seja cultural: exposições de fotografia, design, pintura, escultura,
ocupando os corredores, os orifícios e os buracos do teatro”; etc., etc.
Em suma, quando questionados sobre as suas aspirações
face ao Rivoli remodelado, os agentes culturais deixam transparecer a lógica
sectorial dos seus interesses e a singularidade do seu posicionamento no campo
cultural. Enquanto que uns, por exemplo, colocam a ênfase num tipo de gestão de
rigor tecnocrata, outros insistem na rejeição das “formas funcionalistas, comerciais e atrofiantes (quando não
clientelistas) da pseudo‑gestão nacional da cultura”. No limite,
trata‑se de visões inconciliáveis e que transcendem, muitas delas, no seu
exagero de expectativas, as reais potencialidades de um teatro municipal.
Aliás, quase nunca manifestam consciência dos constrangimentos e condicionantes
a que um equipamento desta natureza está inevitavelmente sujeito. O que
significa que, com o decorrer do tempo e a concretização/actualização do seu
projecto (com todas as prioridades, inclusões e exclusões que contempla),
inerente a uma experimentação/negociação do seu lugar no campo cultural
portuense, o Rivoli irá desiludir parcial ou totalmente alguns destes agentes.
A definição de uma política pública a isso obriga.
2. A esplanada da Praia da Luz.
2.1. Uma certa cultura
mundana.
Situado na Foz, zona de lazer por excelência, com as suas
inúmeras esplanadas, os seus bares, as suas praias, o estabelecimento Bar da
Praia da Luz funciona como palco privilegiado de uma certa cultura mundana e
cosmopolita. Antecâmara de outras saídas, este espaço comercial possui também
alguma polivalência, servindo de café e esplanada, durante todo o dia,
transformando‑se em restaurante, pela hora do jantar, e em bar noctívago
a partir do fim da noite e início da madrugada. A nossa análise centrar‑se‑á
neste último (e primeiro...) período do dia, não só por nele se concentrar de
forma extremamente visível uma certa ética de apresentação e encenação social,
como pelos espectáculos que nele se realizam e que traduzem, como veremos, uma
noção relativamente recente de estetização do quotidiano e de alargamento sem
precedentes do campo cultural.
Propriedade, na altura do trabalho de campo, de um
empresário ligado à animação comercial nocturna, o espaço Bar da Praia da Luz
caracteriza‑se pelas suas duas “regiões”, para utilizarmos uma expressão
cara a Goffman: a esplanada, espécie de anfiteatro sobre a praia, iluminada
durante a noite, e o café‑restaurante‑bar, espaço rectangular
coberto, embora com amplas vidraças sobre a paisagem marítima, possibilitando,
apesar de mais recatado, ver e ser visto com facilidade. O seu interior,
abundantemente forrado de madeira, ostenta uma decoração mínima e sóbria.
Sobressaíam, na altura, duas filas de écrans de televisão penduradas no tecto
de forma a poderem ser vistos por todos os clientes. A programação desses
écrans era constituída, quase invariavelmente, por uma sucessão de imagens,
algumas delas extremamente bizarras, inseridas em vídeo‑clips de uma
estação internacional de televisão exclusivamente consagrada à música pop‑rock.
O sentimento de deslocalização (ou descontextualização, na acepção de Giddens[863]) era acentuado pela
ausência de volume. De facto, as imagens sucediam‑se em silêncio, o que,
de certa forma, aumentava o seu ritmo vertiginoso. Esse sentimento traduz a
emergência da separação, ali bem visível, entre o espaço e o lugar. Dito de
outra forma, na Praia da Luz assiste‑se a uma combinação de um cenário de
interacção, um lugar (identitário, relacional e histórico, os requisitos
postulados por Marc Augé para a sua existência[864]), com esse não‑lugar das imagens televisivas,
vazio, deslocalizado, fantasmagórico. Em
qualquer outro lugar do mundo aquelas imagens seriam visíveis, embora
apropriadas de forma plural.
A sua colocação ali não é inocente. Ela articula‑se,
assim o pensamos, com o terceiro paradigma da “teoria da visão” explicitado por Jameson, traduzindo uma
determinada “cultura social” e uma
específica “experiência social da visão”[865], extremamente
associada à “euforia da alta tecnologia”
e à celebração da “versão tecnológica do
pós‑modernismo”[866], uma “superabundância de imagens” que elimina
a reflexividade. Como refere Jameson, este novo paradigma da visão social “significa uma mais completa estetização da
realidade que é também, ao mesmo tempo, uma visualização ou colocação em imagem
mais completa dessa mesma realidade”[867]. Tentaremos, mais
adiante, aprofundar esta ideia, ao analisarmos as formas sociais de
apresentação dominantes na Praia da Luz.
2.2. A programação: uma ilustração da expansão do
campo cultural.
O estabelecimento da Praia da Luz é, antes de mais, uma
casa comercial. A rentabilidade é, indiscutivelmente, o seu principal
objectivo. Como nos referiu um gerente de um conhecido e moderno
estabelecimento nocturno do Porto:
“Há
lugares que pretendem estar na moda e nunca conseguem estar (...) locais onde
se muda o ambiente, lavam a cara, tornam o ambiente em algo que não tem nada a
ver, não sabem aproveitar ou gerem mal ou fazem daquilo um clube de amigos e
para isso não dá. A noite é muito cara, tem de se facturar”.
Uma das estratégias consiste na invenção de ocasiões,
numa espiral interminável de busca da novidade: “Todos os dias temos de pensar em coisas diferentes para trazer cá as
pessoas. Fazemos festas completamente loucas e fora de tudo, dar um ambiente
diferente, decorar a casa com papel branco e apostar no jogo de luzes, arranjar
festas com patrocínios, mexer com as pessoas (...) Este ano a nossa festa de
Carnaval marcou o Porto pela diversidade dos temas e pela forma como foi feito.
Começou com um baile dos bombeiros, ao qual os próprios aderiram a 100%,
tentamos recriar o salão nobre dos bombeiros, onde estes fazem as festas. Até
metemos lá dentro um carro dos bombeiros!”.
Surpreender um público vacinado contra a novidade pela
constante exposição à mesma, não é tarefa fácil. Mas dela depende a
sobrevivência económica dos espaços comerciais de animação nocturna. A
programação da Praia da Luz enquadra‑se
no movimento de estetização do quotidiano, correlativo da expansão e
flexibilização de fronteiras do campo cultural, apelidada por Jameson de “tendência cultural dominante”[868]. Durante o período
de duração do trabalho de campo assistimos à noite Dry Martini & Lounge Music, com dois Dj's convidados (atente‑se
na íntima associação entre um produto comercial alcoólico e um género musical,
como se entre ambos houvesse uma implícita transacção — a bebida culturaliza‑se
e a música mercantiliza‑se[869]); a noite ADN, igualmente com DJ's convidados (um
deles vindo do estrangeiro)[870]; as Elektra Nights, programa mais vasto que
abarcou dois meses e que incluía Live
Performances, lançamento de livros, uma passagem de modelos, DJ's
convidados e ainda uma Scrooge Night
Party. A passagem de modelos, de longe a iniciativa mais fulgurante, a
começar pela panóplia de meios utilizados, ilustra bem o novo espírito das
franjas recém‑incorporadas no campo cultural (moda, design, publicidade...): como declarou um dos responsáveis da
escola de formação de modelos e manequins que organizou um dos dois desfiles a
que assistimos (onde participaram os finalistas dos primeiros cursos), “o mundo da moda funciona como qualquer
outra empresa”[871].
Trata‑se, evidentemente, de um segmento peculiar do
campo cultural, marcado pelas novas tecnologias (veículo e estrutura de
sentido), pelo efémero, por uma ligação estreita com os cenários lúdicos da
noite e por uma predominância do jogo e do gosto visuais. Como acentua Jameson,
“é o próprio visual que abstrai esses
públicos dos seus contextos sociais imediatos”[872].
3.
B Flat: um clube de jazz?
3.1.
Um francês em Portugal.
O B Flat jazz club nasceu em 1994, sobressaindo desde
então na noite de Matosinhos pela sua permanente e diversificada oferta neste
género musical. Aberto apenas de Quinta‑feira a Domingo, garante sempre a
oportunidade de se assistir a música ao vivo. Situado em pleno coração da
cidade de Matosinhos, a escassos metros da Câmara Municipal, o B Flat
reivindica, no entanto, uma projecção que em muito ultrapassa os estreitos
limites concelhios. A cave reconfigurada, que serve de bar e sala de
espectáculos, denuncia a ambição dos seus responsáveis: ser um clube de jazz. As cadeiras de veludo e as mesas
baixas sucedem‑se até ao palco. O piano e todo o esquema de iluminação
dão indícios do que à noite se passa. Os seus proprietários, de nacionalidade
francesa, possuem larga experiência de trabalho e de contactos neste subcampo
artístico. Um deles fala‑nos mesmo, com indisfarçado orgulho, do
reconhecimento internacional que o B Flat obtém, embora no restrito círculo dos
conhecedores:
“Lá
fora — no «milieu», não no «povo» — toda a gente conhece o B Flat, toda a gente
quando me vê, nos colóquios em que eu participo me pergunta logo pelo B Flat.
Temos o e‑mail cheio de mensagens de artistas que querem vir cá tocar”.
No discurso deste fundador, o B Flat é um projecto
artístico, rodeado de uma certa aura romântica e desinteressada:
“Vim
para Portugal porque em França as pessoas já não se interessam por certos
valores. E não por dinheiro — eu trabalhava na Ópera de Paris, num lugar muito
bem remunerado. Mas parece‑me que vou ter de continuar a procurar esses
valores, porque aqui...”.
De facto, durante o período em que decorreu o trabalho de
campo, o B Flat parecia viver algumas dificuldades financeiras, oriundas, em
grande parte, de uma relação sinuosa com a autarquia local. Esta apoiou durante
todo o ano os dois clubes de jazz do concelho (e da Área Metropolitana do
Porto), assumindo, como justificação, o suporte de uma centralidade cultural no
concelho através do jazz. Neste
âmbito, surgiram dois programas: O Jazz
desce à cidade e O jazz desce à
escola. Com o primeiro apoiava‑se a oferta permanente de jazz ao vivo nos dois bares (o que acaba
por constituir, indirectamente, um subsídio à criação e difusão artísticas, na
medida em que cria uma lógica de mercado
assistido para o jazz); com o
segundo pretendia‑se uma formação contínua de públicos, através da
deslocação às escolas do concelho de bandas de jazz com o intuito de fornecer, pedagogicamente, conteúdos sobre a
história do jazz e da pluralidade dos
seus géneros, a par de um pequeno concerto comentado. O culminar destas dois
programas consistia num festival de grandes dimensões, realizado no grande
auditório da Exponor (com capacidade para duas mil pessoas) com a presença de
grandes nomes do jazz nacional e
internacional.
O já citado proprietário do B Flat revela‑se
descontente com a estrutura e as intenções subjacentes a este projecto, em
especial no que se refere à drástica diminuição sentida nos apoios concedidos,
depois do último festival:
“Com
o Festival a Câmara gastou todo o dinheiro que tinha para o jazz. Foi um acontecimento gigantesco, mediático
mas efémero. E agora não há dinheiro para o B Flat!”.
Desta forma, quebra‑se a lógica do mercado assistido e, ainda segundo o
proprietário, gera‑se uma inevitável degradação na qualidade da oferta:
“Ultimamente
têm surgido críticas, nomeadamente na imprensa, quanto à menor qualidade dos
grupos que vêm ao B Flat. Se calhar é verdade, mas isso acontece depois do
festival. A fasquia subiu muito alto com o festival. E agora há dificuldades
financeiras. Mas eu opto por ajudar os grupos mais jovens. Se eu apostasse nos
consagrados, as dificuldades económicas não seriam problema... Se houvesse
espectáculos com grupos consagrados os
bilhetes poderiam a subir a ??? dois mil escudos e a audiência poderia ser de
mil pessoas. Isso dava dois mil contos só numa noite”.
A opinião da autarquia é divergente. Alguns responsáveis
por nós contactados referem o carácter comercial do estabelecimento para
limitarem o apoio financeiro. Mas esse epíteto — “comercial” — é liminarmente
rejeitado pelo nosso interlocutor. O B Flat, explica, “não é um bar; é um clube de jazz”. É nessa linha, aliás, que
justifica o pagamento, extra‑consumo, de um “bilhete” de 500 escudos:
quem quiser assiste apenas ao espectáculo — razão de ser do estabelecimento — e
não bebe nada.
No que se refere à programação, existem, de acordo com os
responsáveis, três critérios fundamentais:
-
a prioridade aos novos valores (uma vez mais a função de suporte de um
clube de jazz);
-
o ecletismo, através da apresentação de vários tipos de jazz (de vanguarda — experimental ‑,
“clássico”, de “mestiçagem” — mistura com ritmos latinos e africanos, etc.) e a
combinação tradição/inovação[873];
-
o intercâmbio internacional.
Aliás, os responsáveis enfatizam a singularidade do B
Flat no panorama do jazz português,
não só pelas excelentes condições técnicas de que dispõe (“Posso dizer com conhecimento de causa que o B Flat está melhor
apetrechado do que qualquer dos clubes de jazz de Paris!”), como pela
actualidade da programação (“ao contrário
da maior parte dos conhecedores portugueses de jazz, que ficaram pelos anos 50
— veja‑se o caso do Hot Club — ,
nós procuramos estar na vanguarda”). O que vem colocar a ênfase, de novo,
na faceta propriamente artística do local (uma sala de espectáculos), omitindo
a dimensão comercial (um bar), herética face aos critérios de legitimação do
subcampo cultural em questão[874]:
“Se isto não der, se deixar de ter prazer no que
faço, vendo isto e vou‑me embora, se for preciso volto a ser intérprete
num grupo de jazz”.
4. As “vozes” da noite.
“A noite é liberdade”
(Das entrevistas)
“A noite traz no rosto sinais
de quem tem chorado demais”
(Ivan Lins)
O nosso trabalho de campo (entrevistas, inquéritos,
deambulações etnográficas, conversas informais...) desenrolou‑se sempre
durante a noite, na maior parte dos casos a partir das 22 horas e algumas vezes
até às duas ou três horas da madrugada. Por isso, as práticas culturais que
estudámos merecem o epíteto de “nocturnas”.
Mas que significados associam os praticantes culturais à
“cultura de saídas” noctívaga? Que representações possuem desses espaços‑tempos
de tonalidades tão ambíguas (a noite do medo e da insegurança versus a noite das ocasiões de
“reencantamento” do mundo)? A análise das entrevistas fornece‑nos alguns
contornos de um interessante campo semântico.
4.1. Os lugares da noite.
Quadro XX — Lugares associados a “sair à noite”
|
. Bares . Discotecas . Cafés . Esplanadas . Ribeira . Foz . B
Flat . Teatro . Cinema . Concertos . Casa de amigos . Jantar fora . Centros comerciais |
40 22 7 6 14 4 2 11 27 5 3 2 5 (*) |
Nota: (*) — Número de
ocorrências
A noite do Porto tem os seus territórios próprios. Como
se constata pelo quadro anterior, há uma nítida preferência por três tipos de
práticas: ir a bares, ao cinema e a discotecas. Sabendo‑se que estas
actividades se concentram em alguns — poucos — pólos de animação, é‑nos
possível traçar o mapa noctívago da cidade: zona da Ribeira, Foz, zona
industrial paralela à Via Rápida e os grandes centros comerciais das salas
multiplex (o “cinema pipoca”, como
refere um dos nossos entrevistados). Com menor frequência, as salas de
espectáculos.
Em suma, uma acentuada restrição territorial, consentânea
com a especialização de certas áreas da cidade nos lazeres nocturnos e um leque
aparentemente pouco diversificado de práticas. Nas palavras de uma
entrevistada: “faltam locais onde se vá
sem ter uma ideia predestinada... eu gostava que houvesse zonas onde eu pudesse
entrar num bar, noutro e noutro, sem ter que decidir logo à partida onde quero
ir, tipo mapa... gostava que fosse mais livre a escolha...” (B Flat; sexo
feminino; 29 anos; advogada)
Restrições que,
desde logo, contrariam a tão propagada representação romântica da noite exo‑domiciliar
como lugar privilegiado do exercício de uma liberdade plena, descrita nos
seguintes termos por Anne Cauquelin: “O
homem do dia é um fantasma, ectoplasma do vivo, dorminhoco embrutecido, mudo,
sem contacto, um robot. O homem da noite reencontra um sexo, uma voz, uma mão
que apalpa, um nariz que cheira”[875].
Que discursos suscita a noite? O que se revela e o que se
oculta nessas narrativas?
4.2. A noite e os seus “paradoxos”.
Quadro XXI — Significados associados a “sair à
noite”
|
. Diversão/Distracção . Quebrar a rotina . Descansar . Conviver/sair com os
amigos . Conhecer pessoas novas .Comunicar de forma mais
aberta e autêntica . Liberdade . Fazer coisas diferentes . Ouvir música . Ribeira . Foz . Bares . Discotecas . Insegurança . Pouca diversidade |
16 11 6 16 2 4 6 4 4 4 2 3 2 2 10 (*) |
Nota: (*): Número de
ocorrências.
Anne Cauquelin afirma que “a noite não é nudez: ela veste‑se, pinta‑se, perfuma‑se”[876]. Nós
acrescentaríamos que a noite também tem uma voz, um discurso, uma narrativa.
Plurais e polifónicos.
Atente‑se no quadro anterior. Há uma série de
significados que nos remetem, simultaneamente, para uma noção de continuidade e
ruptura face ao dia. De facto, quando se refere “Quebrar a rotina”, “descansar/descontrair”
ou mesmo “Fazer coisas diferentes”,
somos aparentemente levados a acentuar o lado da ruptura. Aliás, grande parte
da mitologia da noite passa por esse eixo de “quebra”, ou “cisão” redentora. No
entanto, essa mesma ruptura é, para uma boa parte dos entrevistados,
indissociável da estrutura do dia. De facto, a face diurna aparece claramente
associada à actividade produtiva e ao desgaste por ela provocado. Desta forma,
a noite surge como oportunidade de compensação e de recuperação de energias.
Neste sentido, torna‑se difícil manter a ideia de uma absoluta ruptura ou
de uma “pureza” original entre os dois períodos, noite e dia:
“Sair
à noite é para desanuviar do dia, quebrar a rotina” (Praia da Luz; sexo
masculino; 19 anos; estudante);
“descansar do stress do dia” (B Flat;
sexo masculino; 25 anos; estudante);
“quebrar a rotina do quotidiano, quebrar a
rotina para espairecer” (B Flat; sexo feminino; 16 anos; estudante);
“é aquela quebra em relação ao trabalho”
(B Flat; sexo feminino; 17 anos, estudante);
“descontrair ao fim de uma semana de estudo”
(Rivoli; sexo masculino, 20 anos; estudante);
“é
aliviar de uma semana de rotina de aulas” (Rivoli; sexo masculino; 17
anos; estudante);
“eu
já não estudo, por isso para mim sair à noite é muito importante para manter a
minha jovialidade” (Rivoli; sexo feminino; 19 anos; estudante);
“distrair
do dia‑a‑dia” (Praia da Luz; sexo masculino; 25 anos; professor);
“A
noite transmite uma certa paz, de dia é muito agitado” (Praia da Luz; sexo
feminino; 24 anos, vendedora).
Muitos tendem a ver nesta “compensação” uma
funcionalidade propícia ao modo de produção capitalista: trata‑se,
afinal, de recuperar a força de trabalho... Nesta óptica, as saídas nocturnas
só serão compreensíveis por referência à esfera laboral. Os lazeres noctívagos
aparecem, então, como expressão alienada de uma ilusão, a de transgredir a
ordem estabelecida. Como refere Anne Cauquelin, essas “transgressões” não se
colocam no plano da subversão das normas e das barreiras sociais, mas sim no
seu permanente restabelecimento. De dia, ao acordar, a experiência da noite
anterior dilui‑se nas exigências de um novo dia...
Claro está que toda esta linha explicativa, nas suas diferentes
nuances, desemboca na impossibilidade
de conceber uma acção (relativamente) autónoma dos agentes. No entanto, tal
como anteriormente defendemos[877], não podemos
esquecer a capacidade de produção de novos significados permanentemente
associada à acção social. As práticas quotidianas não são uma mera reprodução
da “engrenagem” social mais vasta. Tal não significa, no entanto, que aceitemos
sem distanciamento crítico todas as representações mitológicas da noite,
aquelas que, por definição, seriam um discurso que se explica a si mesmo e que
estão implícitas nos fragmentos seguintes:
“A
noite é liberdade” (Praia da Luz; sexo feminino; 19 anos; estudante)
“As
pessoas são muito mais abertas à noite” (Praia da Luz; sexo
feminino; 27 anos; técnica de informática industrial);
“O
pessoal à noite solta‑se mais, bebe uns copos, é mais porreiro do que de
dia”
(Rivoli; sexo masculino; 23 anos; estudante);
“fazemos
o que nos apetece” (Rivoli; sexo masculino; 20 anos; formando de um curso profissional);
“à
noite as pessoas são diferentes” (Rivoli; sexo feminino; 28 anos; professora);
“a
noite para mim é tudo” (Rivoli; sexo feminino; 23 anos; estudante);
“permite
fazer o que não é possível durante o dia” (Rivoli; sexo masculino; 25
anos; designer);
“de
noite as pessoas estão muito mais desinibidas, aquele stress do dia desaparece
e as pessoas ficam mais saudáveis” (Praia da Luz; sexo masculino; 33 anos;
jornalista);
“ a
cidade à noite , acho que é uma das mais belas da Europa... é antiga, então tem
toda uma atmosfera muito romântica, todo o século dezanove... o rio e o mar” (B Flat; sexo
feminino; 29 anos; advogada);
“para
mim a noite é luz” (Rivoli; sexo feminino, 23 anos; estudante).
A noite é luz. Metáfora poética enunciadora de todo um
discurso de aura que cobre, diáfana, a realidade das práticas nocturnas.
Esquece, por exemplo, que a noite, para os que estão do “outro lado” (por vezes
a escassos metros — do outro lado do balcão...) se reveste de outra tonalidade.
Como nos referiu um gerente de um estabelecimento nocturno, “a noite é cara” e surge para muitos
como oportunidade de emprego e fonte de hierarquias:
“...
arrumadores de automóveis que são nossos, não são espontâneos, são pagos por
nós, até aos apanha‑copos, que têm um trabalho menor (apanham copos, trazem
gelo), até ao pessoal dos bengaleiros e às pessoas dos bares que não são
empregados directos, porque são pagos por quem explora os bares. Contamos
também com um responsável pelas relações públicas, o DJ, o gerente, as pessoas
dos transportes (temos também uma carrinha para levar a casa quem já não está
em muito bom estado...) e temos duas pessoas que são chamadas de arrumadores e
que servem para tratar de por na rua quem não se porta bem. Já não existem
seguranças, neste momento a nossa segurança é a polícia”.
Repare‑se como todo este vocabulário nos reenvia
para um campo diferente. Desde as referências a um sistema de divisão do
trabalho, até à presença de agentes de dissuasão, cujo principal objectivo é
zelar pela ordem estabelecida, sem esquecer os representantes da vigilância
oficial — a polícia. Anne Cauquelin, numa linha foucaultiana, realça esta
última presença com especial ênfase. Não só a luz que ilumina à noite a grande
urbe permite preservar a memória da cidade diurna e dos seus códigos normalizadores,
hierarquizando, ao mesmo tempo, o espaço urbano (os locais iluminados,
lisíveis, são os locais disponíveis, os únicos que existem) como sinalizar e localizar os comportamentos desviantes: “o olhar deve poder ver tudo”[878]; “toda a miséria fica apagada, toda a
vergonha escondida”[879].
Mas os próprios agentes sociais identificam o “outro
lado” da noite. Nessas ocasiões, omitem‑se as referências à liberdade de
acção e mencionam‑se os constrangimentos:
Quadro XXII — Obstáculos associados a sair à noite
|
.Falta de dinheiro .Falta de
vontade/preferência por ficar em casa .Falta de companhia .Falta de tempo .Insegurança/mau ambiente .Os pais .Os filhos pequenos .Os poucos transportes/não
ter carro .Ter de trabalhar/estudar
no dia seguinte .O cansaço . Não há obstáculos |
24 11 8 2 7 10 2 7 18 5 9 (*) |
Nota: (*) — Número de
ocorrências
Como se pode verificar pelo quadro anterior, a principal
dificuldade em sair à noite reside na falta de disponibilidade financeira, o
que nos remete, de forma pelo menos implícita, ou para a situação de
dependência dos entrevistados (muitos deles estudantes), ou para factores como
o seu capital económico, o que se relaciona, por sua vez, com níveis de
escolaridade, de qualificação, de autoridade, etc., ou ainda com eventuais atitudes
de poupança (motivadas, por exemplo, pela consciência de elementos de
imprevisibilidade no futuro virtual — admitamos a instabilidade no vínculo
contratual) ou de subalternização das actividades lúdicas e culturais.
Por outro lado, o mundo diurno — do trabalho e/ou do
estudo — surge explicitamente como a segunda maior dificuldade do sair à noite.
Necessidade de recuperar a força de trabalho despendida, ou os seus reflexos (“cansaço”, “falta de tempo”, “falta de
vontade”...). De novo, ambas as faces da moeda indissociavelmente ligadas.
Outros constrangimentos afloram na análise deste quadro.
O receio das “patologias urbanas” (sentimento de insegurança ); a dificuldade
de mobilidade na cidade à noite; obstáculos associadas a condições sociais
específicas (no caso da juventude, o prolongamento da escolaridade e o
retardamento de entrada na vida adulta, com a consequente dependência face à
família; no caso dos jovens casais, os filhos pequenos) e ainda a subordinação
das saídas a redes de sociabilidade mais ou menos estruturadas:
“A cidade à noite
tem vários perigos, roubos, violações, é preciso ter cuidado...” (Rivoli;
sexo masculino; 37 anos; publicitário);
“a
cidade, a maneira como está estruturada para um nível etário até aos 30 anos, é
bastante negativa, condiciona muito a liberdade de escolha das pessoas... em
Espanha não é como aqui, não há a preocupação se a pessoa está bem ou mal
vestida, não há aquele cartão, as pessoas da noite estão ali para servir as
outras e não para ditar um status”
(Praia da Luz; sexo masculino; 29 anos; estudante);
“o
Porto tem uma noite muito cara” (Praia da Luz, sexo masculino; 30 anos; oficial do
exército);
“a
noite do Porto é elitista” (B Flat; sexo masculino; 43 anos; professor);
“só
é pena os transportes colectivos serem poucos” (Rivoli; sexo masculino; 24
anos; estudante);
“...
há as violações, os roubos e também a preocupação dos nossos pais quando vamos
sair, as horas a que chegamos” (Rivoli; sexo feminino; 17 anos; estudante);
“por
eu ser rapariga os pais não dão muita liberdade e depois há os problemas da
escola, estamos cansados e não apetece fazer mais nada” (Rivoli, sexo
feminino; 17 anos; estudante);
“não
arranjar companhia, eu às vezes posso sair mas os outros não podem e eu então
não saio” (Rivoli; sexo feminino; 27 anos; publicitária);
“não
ter carta de condução e carro, não ter dinheiro, morar longe das pessoas e ter
de me levantar cedo” (Rivoli, sexo masculino; 20 anos; formando de um
curso profissional).
Aos poucos, outras realidades saem da sombra. A aparente
diversidade da oferta de lazer é contrariada por discursos que denunciam uma
ausência de alternativas, homogeneizadas no seu conteúdo substantivo, apesar de
diferentes no “invólucro”. Por vezes, os circuitos nocturnos traduzem “a passagem do idêntico ao idêntico”[880]. Mas daí advém um
outro mito: a noite do Porto está “atrasada” em relação a outros lugares. A
“verdadeira” noite situa‑se algures, em Lisboa ou Espanha:
“em
termos de noite, o Porto deixa um bocado a desejar... há muito pouca coisa, em
especial quando comparado com Lisboa” ( B Flat; sexo feminino; 29
anos; especialista de marchandising);
“acho
a noite muito desinteressante, a noite está muito confusa, as pessoas saem
porque não têm mais que fazer e por isso ao fim de quatro noites já estamos
fartos... há falta de alternativa, é tudo muito igual” (B Flat; sexo masculino; 46
anos; médico)
“acho
que o Porto à noite é muito igual, são sempre as mesmas pessoas, as mesmas
conversas” (Praia da Luz; sexo feminino; 19 anos; estudante);
“o
Porto está cada vez mais igual. Gosto imenso da noite de Lisboa” (Praia da Luz; sexo
feminino; 18 anos; estudante);
“Não
acontece nada... é sempre o mesmo rame‑rame, a mesma situação, divirto‑me
com as mesmas pessoas, a música é sempre a mesma, há falta de oferta, é
horroroso...” (Rivoli; sexo masculino; 24 anos; estudante).
No entanto, noctívagos de fora da cidade enaltecem as
qualidades do burgo:
“o
Porto à noite é muito interessante, por isso é que moro a 40 Km daqui e venho
para cá. É tudo diferente, a vida na nossa terrinha é muito pacata, limita‑se
a ser sempre a mesma coisa, é muito banal” (Praia da Luz; sexo
feminino; 21 anos; estudante).
Há mesmo quem não se incomode com a falta de diversidade:
“o
Porto à noite é muito giro, é igual a todo o lado” (Praia da Luz; sexo
masculino; 24 anos; chefe de cozinha);
“o
Porto à noite é uma cidade muito bonita, menos movimentada do que Lisboa, as
pessoas saem menos do que em Lisboa. O Porto é mais íntimo, mais acolhedor” (Praia da Luz; sexo
feminino; 25 anos; professora).
É certo que as interpretações são ambivalentes. Para ao
arautos da pós‑modernidade, ou mesmo para um defensor da modernidade tardia e radical, como
Giddens, a possibilidade de escolha múltipla é uma realidade contemporânea e o desdobramento de escolhas uma
consequência do acréscimo de reflexividade dos agentes[881]. No entanto, como
outros autores salientam, “se as escolhas
aumentam, os elementos a escolher tornam‑se, eles próprios, idênticos
para todos (...) ao mesmo tempo que os objectos se multiplicam, a
industrialização e a estandardização parecem ganhar muitos domínios e
uniformizar as cidades e a vida quotidiana (...) Por um lado, a gama das
escolhas alarga‑se; por outro, as escolhas propostas parecem irrisórias”[882]. Mas também no domínio das
sociabilidades deparamos com paradoxos. De facto, podemos considerar, seguindo
Giddens, que a busca de autenticidade, supostamente mais presente nas
interacções nocturnas (“Á noite as
pessoas estão mais desinibidas... ficam mais saudáveis...”), é, enquanto
processo de recontextualização, uma reacção à impessoalidade dos sistemas
abstractos onde não há amigos mas sim “conhecidos” ou “colegas”, alguém que nos
é imposto pela participação num determinado cenário de interacção. As práticas
culturais nocturnas seriam um contexto favorável ao processo de busca de
identidade através do auto‑desvendamento dos agentes e da abertura ao
outro. Mas não será esse, precisamente, um requisito de manutenção da “ordem
diurna”? O contraponto necessário à estranheza de um sistema onde “o impessoal submerge cada vez mais o
pessoal”[883]?
Por outro lado, esta procura de autenticidade nas
relações sociais parece contrariar a tese de Simmel segundo a qual a atitude blasé, de reserva e distanciamento
perante os outros habitantes da metrópole é um requisito necessário para a
manutenção de uma esfera de liberdade[884]. As entrevistas
mostram de forma clara uma associação entre a liberdade que a noite confere
(emancipando as pessoas face aos constrangimentos “diurnos”) e a possibilidade de
uma sociabilidade mais íntima e transparente. Claro que a tese de Simmel se
desenvolve tendo em conta uma determinada evolução do subsistema económico
capitalista (o novo papel da técnica, o calculismo, a economia monetária) e ,
nesse aspecto, adequa‑se preferencialmente ao espírito “diurno”.
Em suma, noite e dia, produção e consumo, norma e
transgressão, constrangimento e liberdade, distanciamento e proximidade, eu
individual e eu social devem ser vistos como pólos relacionais, em permanente
tensão. Se a noite e o dia estão indissociavelmente ligados, como irmãos gémeos
de temperamentos diferentes, tal não desemboca na impossibilidade de os
contextos noctívagos propiciarem ocasiões autónomas de produção de sentido,
marcadas por rituais específicos e por uma criatividade mais ou menos
generalizada ou por momentos de autêntica recomposição identitária. Não
podemos, no entanto, caucionar a tese de que a noite exo‑domiciliar é um
palco autónomo, isento de constrangimentos, libertador e irruptivo por excelência.
Lugar de heterogeneidade, ela é um contexto da variedade das práticas citadinas nas microssituações mais diversas”[885]. Talvez o conceito
de heterotopia de Foucault nos forneça algumas pistas ao sugerir a coexistência
justaposta de uma grande multiplicidade de “mundos
possíveis”, por vezes mesmo incongruentes. Mas isso não significa,
necessariamente, mergulhar na visão caótica, tão do agrado de certa pós‑modernidade,
do “hipermercado dos modos de vida”[886], ou, dito de outra
forma, da total desregulação, dispersão e indeterminação dos comportamentos e
valores sociais.
CAPÍTULO XI
DOS PÚBLICOS, DA CULTURA E DAS SUAS PRÁTICAS
1. Caracterização genérica.
1.1. Uma “cultura jovem”?
Uma
das nossas principais preocupações, no tratamento quantitativo da informação
recolhida e seleccionada, consistiu em aplicarmos, sempre que possível, a
panóplia de testes estatísticos disponíveis. Assim o fizemos com grande parte
dos cruzamentos efectuados com a variável idade, como de resto se verifica pelo
quadro XXIII.
Quadro XXIII - Variáveis correlacionadas com a idade
|
Variáveis Correlacionadas |
Grau de Correlação com a Variável Idade |
|
Práticas Domésticas de Abandono |
0,146** |
|
Práticas Receptivas Semi‑Públicas |
0,195** |
|
Cinema – Consagrados Clássicos |
0,355** |
|
Cinema – Não Consagrados |
‑0,227** |
|
Música1 |
0,367** |
|
Música2 |
‑0,374** |
|
Música3 |
‑1,135** |
|
Práticas Expressivas Semi‑Públicas |
0,324** |
|
Práticas Receptivas e Informativas de Públicos Cultivados |
‑0,128** |
|
Práticas Eruditas Criativas |
0,153** |
|
Passeexp |
0,133** |
|
Práticas Associativas Criativas |
0,182** |
|
Espaço Doméstico |
0,101* |
* Correlação significante para P <0,1
** Correlação significante para P <0,01
Ao
observarmos o Quadro XXIV constatamos
que existe uma acentuadíssima juvenilização na amostra obtida. De facto, 65.1% dos inquiridos não têm mais do
que 30 anos o que vem comprovar análises anteriores sobre práticas culturais,
designadamente quando associam a cultura de saídas a uma forte componente
juvenil.
Quadro XXIV - Estado civil por escalões
etários
|
Escalões Etários |
|||
|
Estado Civil |
Até 20 N=78 (15,0%) |
21‑30 N=262 (50,3%) |
31‑40 N=89 (17,1%) |
Mais de 40 N=92 (17,7%) |
|
Casado N=120 (23,0%) |
5,1 |
7,6 |
42,7 |
63,0 |
|
Solteiro N=361 (69,3%) |
93,6 |
90,1 |
40,4 |
17,4 |
|
Divorciado N=21 (4,0%) |
|
|
7,9 |
15,2 |
|
Viúvo N=15 (0,8%) |
|
0,4 |
|
3,3 |
|
União de Facto N=15 (2,9%) |
1,3 |
1,9 |
9,0 |
1,1 |
Vários
factores podem explicar articuladamente esta situação. Por um lado, os maiores
níveis de escolaridade (como adiante teremos ocasião de comprovar) das gerações
mais novas, fruto de um processo relativamente recente de expansão do sistema
de ensino português. Por outro lado, a maior disponibilidade associada à
condição social juvenil e que encontra suporte em factores como o já referido
prolongamento da escolaridade (associada a uma tendência de progressiva
inclusão escolar de um grande número de jovens, mesmo quando se dissimulam
formas mais subtis de selecção[887]), a entrada cada
vez mais morosa no mercado de trabalho, com a consequente dilatação do chamado
“período de moratória” e o aumento da idade média do casamento, a par de uma
fecundidade mais tardia. Aliás, ao observarmos o mesmo quadro, verificamos que
a esmagadora maioria destes jovens são ainda solteiros. Assim, acumulam
factores de propensão a uma maior disponibilidade cultural preservando
dimensões de autonomia[888], embora estejam
longe da ideia do estereótipo do “viver
gratuito”, que, segundo Enrique Gil Calvo, “é o único viver sério quando se é jovem, implicando uma mescla do
desportivo fair play com o estético
da arte pela arte”[889]. Pelo contrário,
ser‑se jovem na contemporaneidade implica um esforço de constante
adaptação a situações de contornos imprecisos, pouca propícias à formação de
identidades sólidas e em espaços‑tempos precários e provisórios, apesar
dos actuais “rituais de passagem”, pelo seu prolongamento, aprisionarem os
jovens nessa mesma “passagem”[890].
Esta
maior disponibilidade dos jovens traduz‑se em acrescida visibilidade
pública. O próprio tecido social adopta referenciais simbólicos comuns à imagem
dominante de juventude. Como refere Mike Featherstone, “existe de facto alguma evidência de que os estilos e estilos de vida
juvenis estão a galgar a escala etária”[891]. Por outro lado, na
medida em que se verifica uma certa dissociação entre os modos de vida juvenis
e o mundo do trabalho (à já referida dilatação do período de moratória acresce
uma entrada sinuosa, flexível e precária no mercado de trabalho, mesmo nos
segmentos pós‑industriais, ligados aos serviços, manifestando‑se
através de ensaios, rectificações de trajectórias e períodos de experimentação[892]), a esfera de
construção das identidades tende a transferir‑se progressivamente para o
campo simbólico (patente, de forma “explosiva”, nos processos de estetização do
quotidiano e de modelação de estilos de vida). Não se defende, como alguns
teóricos da pós‑modernidade (veja‑se o exemplo de Baudrillard), “que o factor classe surge como questão do
passado” e que as “identidades
relacionadas com a casa e o trabalho são esmagadas por um verdadeiro carrossel
de consumos culturais (desprovido de qualquer componente económica”[893]. Como salienta
Robert G. Hollands, no seguimento desta crítica, “ há uma relação muito íntima entre transformação económica, consumo
cultural e construção e significado social do espaço urbano”[894]. Por outras
palavras, o declínio das formas tradicionais de transição para o trabalho (como
refere Hollands, os “ritos de passagem” tendem a ser cada vez mais prolongados)
abre caminho a que a esfera do consumo e a vivência urbana surjam como espaços
alternativos de recomposição identitária.
Ao
procurarmos analisar a relação entre a idade e uma série de práticas culturais,
verificamos, desde logo (Quadro XXV),
que, ao contrário do que se poderia esperar, são os mais jovens (no escalão até
aos 20 anos) quem mais adere às práticas domésticas de abandono[895]. De facto, seria
razoável prever que, com o avançar da idade, crescesse a propensão para uma
certa desvitalização das práticas culturais. Aliás, vários estudos têm
demonstrado a existência de um envelhecimento cultural extremamente precoce,
intimamente ligado à entrada estável na vida activa. Por outro lado, a nossa
amostra, como de resto já adiantámos, é muito pouco envelhecida.
Quadro XXV - Frequência das práticas domésticas de abandono por
escalões etários
|
Escalões Etários |
|||
|
Práticas Domésticas de Abandono |
Até 20 N=74 (15,7%) |
21‑30 N=243 (51,7%) |
31‑40 N=79 (16,8%) |
Mais de 40 N=74 (15,7%) |
|
Frequentemente N=33 (7,0%) |
14,9 |
5,8 |
6,3 |
4,1 |
|
Com Alguma Frequência N=113 (24,0%) |
29,7 |
25,9 |
19,0 |
17,6 |
|
Raramente/Nunca N=324 (68,9%) |
55,4 |
68,3 |
74,7 |
78,4 |
Mesmo o
escalão de “mais de 40 anos” contempla essencialmente adultos e não idosos.
Além do mais, a idade não pode ser considerada, como adiante veremos,
independentemente de outras variáveis, como o volume e a estrutura do capital
escolar e a trajectória social. Daí resultam, aliás, as nossas dúvidas sobre a
pertinência heurística de uma auto e heterodenominada “cultura jovem”,
designadamente no que se refere à “ilusão de homogeneidade” que fomenta[896]. Os elementos mais
idosos da nossa amostra são, precisamente, os que menos aderem às práticas de
abandono. Estaremos em presença de um grupo de “activistas culturais” que, pela
própria circunstância da sua idade ser mais avançada, acumularam experiências e
reforçaram predisposições inculcadas, resistindo, por isso, a movimentos de
anomia cultural?
Não
pretendemos, no entanto, negar a existência de uma “tipicidade juvenil”[897]. Ela manifesta‑se,
por exemplo, no significado atribuído a “não fazer nada” (Anexo V/Quadro I. Repare‑se como os inquiridos com idade até
20 anos são os que mais aderem a esta prática). Esta expressão condensa modos
de ocupação quotidiana dos tempos livres de difícil definição categorial
(condicionada pelo código do investigador), mas facilmente identificáveis pelos
praticantes juvenis. “Não fazer nada” é, muitas vezes, deambular sem destino no
espaço doméstico, estar provisoriamente desocupado em termos de uma actividade
socialmente reconhecida (como estudar ou ajudar nas tarefas domésticas) ou
simplesmente conversar com familiares ou amigos sem tema fixo ou
predeterminado. Como refere expressivamente E. Gil Calvo, “os jovens são multimilionários em tempo, se é verdade, como se diz,
que o tempo vale ouro”[898], embora seja
fundamental avaliar da qualidade desse tempo (no caso dos desempregados pode
equivaler a um tempo livre forçado) e da sua distribuição pelas distintas
condições juvenis. O mesmo autor acrescenta que, por conseguinte, aos jovens
interessa encontrar “uma espécie de
máquina do tempo (…) que sirva para conseguir que o tempo passe, que o tempo
corra, que o tempo voe (…): uma máquina do tempo que o mate”[899]. No entanto, ao
contrário do autor, pensamos que as culturas juvenis, na sua diversidade, (re)
inventam formas de passar o tempo, não
interessando apenas aos jovens que a sua vida passe a correr, mesmo
tratando‑se, para muitos, de uma interminável “sala de espera”.
De
qualquer forma importa salientar que, apesar das diferenças detectadas, é
reduzido o peso relativo dos que frequentemente aderem às práticas domésticas
de abandono, sendo pelo contrário sempre elevado o valor dos que raramente ou
nunca as exercitam.
Se
atentarmos agora nas práticas receptivas semi‑públicas (referentes à ida
ao cinema — Quadro XXVI) notamos que
o escalão dos 21 aos 30 anos é o mais aderente, logo seguido pelo grupo dos 31
aos 40 anos.
Quadro XXVI - Frequência de práticas receptivas semi-públicas por
escalões etários
|
Escalões Etários |
|||
|
Práticas Receptivas Semi‑Públicas |
Até 20 N=76 (15,1%) |
21‑30 N=252 (50,2%) |
31‑40 N=88 (15,5%) |
Mais de 40 N=86 (17,1%) |
|
Frequentemente N=259 (51,6%) |
44,7 |
63,5 |
52,3 |
33,7 |
|
Com Alguma Frequência N=159 (31,7%) |
40,8 |
28,6 |
30,7 |
33,7 |
|
Raramente/Nunca N=74 (14,7%) |
14,5 |
7,9 |
17,0 |
32,6 |
Nos
extremos etários situam‑se os que menos as praticam, em particular os
mais idosos. Não podemos deixar de associar à frequência cinéfila a necessidade
de uma certa disponibilidade financeira, que penalizará os mais jovens. Mas,
simultaneamente, importa enquadrar o cinema no âmbito de um paradigma cultural
do som e da imagem (culto do audiovisual e da “imagem”), propício a uma postura
juvenil de maior distanciamento face às formas tradicionais da cultura
cultivada “clássica” e de maior renovação e actualização do capital
informacional.
Repare‑se
no Quadro XXVII. Quando questionados,
em concreto, sobre o seu grau de identificação face a determinados filmes
(indicador que revela a estrutura “moderna” ou “clássica” do seu capital
informacional e cultural — como refere Olivier Donnat a identificação e o
conhecimento revelam quase sempre uma orientação cultural, de gosto[900] —, bem como a sua
preferência por modelos mais ou menos consagrados do subcampo artístico em
questão) nota‑se uma muito menor identificação em relação aos consagrados
clássicos por parte do escalão mais jovem (não havendo mesmo um único inquirido
com um alto grau de identificação), enquanto que, a partir dos 31 anos, essa
identificação aumenta significativamente, com o pólo médio/alto grau de
identificação a superar, embora por uma diferença escassa, o pólo grau de
identificação nulo/baixo.
Quadro
XXVII - Grau de identificação com filmes "consagrados clássicos" por
escalões etários
|
Escalões Etários |
|||
|
Cinema – Consagrados Clássicos |
Até 20 N=52 (19,0%) |
21‑30 N=144 (52,6%) |
31‑40 N=41 (15,0%) |
Mais de 40 N=37 (13,5%) |
|
Nulo Grau de Identificação N=49 (17,9%) |
34,6 |
18,8 |
7,3 |
2,7 |
|
Baixo Grau de Identificação N=93 (33,9%) |
46,2 |
34,7 |
26,8 |
21,6 |
|
Médio Grau de Identificação N=40 (14,6%) |
19,2 |
35,4 |
36,6 |
32,4 |
|
Alto Grau de Identificação N=40 (14,6%) |
|
11,1 |
29,3 |
32,4 |
Olivier
Donnat chegou a constatações idênticas ao estudar as práticas culturais dos
franceses. Com efeito, verificou‑se que os posicionamentos próximos de um
pólo contestatário no eixo provocação/conformismo associavam os jovens a uma
preferência pelos artistas e géneros fora do sistema de consagração, rejeitando
os valores “clássicos e patrimoniais”, próprios de um cânone oficial e por
vezes escolar. Desta forma, tal orientação dependia mais da idade do que do
nível de escolaridade, o que nos poderá remeter para uma eventual “pertença
geracional”. O “classicismo”, pelo contrário, tende a aumentar com a idade,
entrando no domínio da memória e da acumulação de referências convencionais e
consagradas. Na mesma linha podemos compreender a nítida preferência do escalão
mais jovem pelos filmes não consagrados (Quadro
XXVIII) e a elevada ausência de identificação dos mais velhos (grupo dos
inquiridos com mais de 40 anos), onde apenas 4.3% exprime, face aos mesmos, um grau médio de identificação, não
havendo um único inquirido a sentir‑se muito identificado. Aliás, muitos
dos filmes não consagrados alcançaram notáveis sucessos de bilheteira,
alcançando legitimidade na esfera “comercial” própria das indústrias culturais,
mas causando repulsa nas instâncias de consagração do campo artístico.
Quadro
XXVIII - Grau de identificação com filmes "não consagrados" por
escalões etários
|
Escalões Etários |
|||
|
Cinema – Não Consagrados |
Até 20 N=52 (19,0%) |
21‑30 N=144 (52,6%) |
31‑40 N=41 (15,0%) |
Mais de 40 N=37 (13,5%) |
|
Nulo Grau de Identificação N=66 (24,1%) |
15,4 |
25,7 |
31,7 |
21,6 |
|
Baixo Grau de Identificação N=136 (49,6%) |
26,9 |
52,8 |
51,2 |
67,6 |
|
Médio Grau de Identificação N=45 (16,4%) |
32,7 |
13,2 |
12,2 |
10,8 |
|
Alto Grau de Identificação N=27 (9,9%) |
25,0 |
8,3 |
4,9 |
|
Resta
saber se esta atitude de maior abertura ao pólo não consagrado por parte dos
jovens radica numa maior permeabilidade à economia/cultura mediático‑publicitária
ou advém, pelo contrário (ou em simultâneo) de um ecletismo baseado na busca da
actualização e diversificação cultural e das referências modernas, exprimindo,
por isso, um mais elevado capital informacional. Neste caso, a sua postura
teria menos a ver “com a ignorância ou
com a existência de resistências face à cultura consagrada e mais com uma real
competência moderna”[901]. De qualquer modo
importa não perder de vista que o pólo constituído por um médio e alto grau de
identificação é claramente minoritário em todos os grupos etários, embora com
muito maior incidência na categoria mais jovem. Tal constatação leva‑nos
a tirar ilações sobre a estrutura do gosto dominante da amostra em análise,
designadamente no que se refere aos seus critérios selectivos que a levam a
rejeitar maioritariamente os filmes que fogem aos cânones da consagração.
Ao nível
da música passa‑se algo que ajuda a reforçar a ideia de uma
especificidade geracional. Repare‑se nos quadros que cruzam idade e grau
de identificação face aos nomes incluídos nas categorias dos “consagrados
clássicos” (Quadro XXIX) e dos
“consagrados modernos” (Quadro XXX).
No primeiro caso nota‑se uma maior identificação por parte dos inquiridos
com idade entre os 31 e mais de 40 anos e um claro afastamento dos que têm
idade inferior aos 21 anos (os adolescentes). No segundo caso, o perfil
clássico começa a ser predominante (com uma rejeição maioritária dos
“consagrados modernos”) a partir dos 31 anos e, de forma expressiva, nos
inquiridos com mais de 40 anos (o afastamento verificado por parte dos
adolescentes — 52.6% revelam um
“baixo grau de identificação” — pode aqui ser explicado, uma vez mais, pela
insuficiente acumulação de “competências modernas”, na medida em que o seu “período formativo”, para utilizar um
conceito de Inglehart, ainda não terminou).
Quadro
XXIX - Grau de identificação com compositores "consagrados clássicos"
por escalões etários
|
Escalões Etários |
|||
|
Música – Consagrados Clássicos |
Até 20 N=57 (14,9%) |
21‑30 N=187 (48,8%) |
31‑40 N=67 (17,5%) |
Mais de 40 N=72 (18,8%) |
|
Nulo Grau de Identificação N=52 (13,6%) |
22,8 |
17,6 |
6,0 |
2,8 |
|
Baixo Grau de Identificação N=154 (40,2%) |
43,9 |
43,3 |
47,8 |
22,2 |
|
Médio Grau de Identificação N=81 (21,1%) |
14,0 |
23,0 |
25,4 |
18,1 |
|
Alto Grau de Identificação N=96 (25,1%) |
19,3 |
16,0 |
20,9 |
56,9 |
Não se trata, como provou Donnat, de um
simples efeito “natural” de atracção dos jovens e dos adultos pelas referências
etariamente próximas (identificarem‑se com nomes de idade semelhante)[902].
Quadro XXX - Grau de
identificação com compositores "consagrados modernos" por escalões
etários
|
Escalões Etários |
|||
|
Música – Consagrados Modernos |
Até 20 N=57 (14,9%) |
21‑30 N=187 (48,8%) |
31‑40 N=67 (17,5%) |
Mais de 40 N=72 (18,8%) |
|
Nulo Grau de Identificação N=40 (10,4%) |
10,5 |
5,9 |
6,0 |
26,4 |
|
Baixo Grau de Identificação N=237 (61,9%) |
59,6 |
55,6 |
73,1 |
69,4 |
|
Médio Grau de Identificação N=76 (19,8%) |
17,5 |
26,2 |
20,9 |
4,2 |
|
Alto Grau de Identificação N=30 (7,6%) |
12,3 |
12,3 |
|
|
Não nos
parece, também, que existam clivagens devido a diferenças assinaláveis de
capital cultural e escolar (como veremos mais adiante, a amostra é relativamente
homogénea nesse ponto), que se notariam preferencialmente, aliás, no eixo da
consagração, onde tal não se verifica (atente‑se no Quadro XXXI onde se constata que o distanciamento face aos não
consagrados é esmagador entre todos os grupos etários).
Quadro XXXI - Grau de identificação com compositores "não
consagrados"
|
Escalões Etários |
|||
|
Música – Não Consagrados |
Até 20 N=57 (14,9%) |
21‑30 N=187 (48,8%) |
31‑40 N=67 (17,5%) |
Mais de 40 N=72 (18,8%) |
|
Nulo Grau de Identificação N=175 (45,7%) |
33,3 |
46,5 |
41,8 |
56,9 |
|
Baixo Grau de Identificação N=185 (48,3%) |
57,9 |
46,5 |
53,7 |
40,3 |
|
Médio Grau de Identificação N=76 (5,7%) |
8,8 |
6,4 |
4,5 |
2,8 |
|
Alto Grau de Identificação N=30 (0,3%) |
|
0,5 |
|
|
Existe,
em consequência, um certo “comportamento geracional”, também encontrado por
Donnat na sua análise às práticas culturais dos franceses e que se traduz por
um forte distanciamento dos mais jovens (em especial dos adolescentes) face à
cultura consagrada clássica. Donnat questiona‑se: “como explicar que os adolescentes de hoje, que são mais escolarizados
que os seus antepassados e mais próximos das aprendizagens escolares, estejam
assim em recuo mesmo em relação aos seus predecessores imediatos?”. Dito
por outras palavras, como explicar que os adolescentes actuais, mais
escolarizados que os seus progenitores, se sintam tão pouco identificados com a
cultura escolar? A resposta pode encontrar‑se, em boa parte, na própria
cultura escolar e nos contextos da sua prática pedagógica (distanciamento face
à pluralidade e complexidade dos quotidianos estudantis[903]; “mal estar
docente” e dificuldade no estabelecimento de condições mínimas de comunicação
pedagógica[904]). Mas também nos
processos de socialização familiar que, muitas vezes, devido à pouca
experiência de escolarização dos progenitores, propiciam efeitos de autêntica
regressão cultural ou, pelo menos, de insuficiente consolidação dos
ensinamentos escolares. Ou ainda, face ao fracasso da escola e dos tradicionais
agentes que asseguravam a transmissão/reprodução da cultura consagrada, a uma
maior permeabilidade em relação às instâncias d a “economia mediático‑publicitária” que, de uma forma mais ou
menos intensa, tem vindo a modificar o “conjunto
dos procedimentos de reconhecimento e de legitimação” do campo artístico tradicional,
ameaçado na sua “pureza” (enquanto distanciamento face à mercantilização e à
economia) e autonomia[905]. Desta forma, e
mediante a poderosa aliança entre mass
media, publicidade e indústrias culturais, criam‑se as condições para
a emergência de formas alternativas de consagração e distinção, intimamente
ligadas à superestrutura “juvenil”, mediante a difusão de valores “que globalmente são os do universo cultural
dos jovens (hedonismo, anticonformismo, velocidade, convivialidade, gosto do
risco…)”[906]. Laura Bovone
associa a ascensão da economia mediático‑publicitária (ou da “moda audiovisual”, nas palavras de H.
Gil Calvo) à emergência de uma nova classe de intermediários culturais, cuja
centralidade se deve, em boa parte, ao seu papel determinante na “cadeia criação‑manipulação‑transmissão
de bens com elevado conteúdo de informação, cujo valor simbólico é
preponderante”[907]; representantes
privilegiados da hibridez e ecletismo pós‑modernos, com reflexos
poderosos na formação dos gostos das novas gerações, embora longe de um modelo
simplista de manipulação.
No
entanto, se analisarmos a frequência com que os inquiridos ouvem música (Anexo V/Quadro II), torna‑se
difícil estabelecer clivagens. De facto, existe uma massiva adesão trans‑etária
a esta prática, facto que estará certamente relacionado com o forte peso dos
espectáculos musicais no conjunto da programação cultural dos três espaços em
estudo. Por isso, a diferenciação estabelece‑se de formas mais subtis,
pelo eixo “clássico/moderno”, ou pela identificação preferencial com certos
géneros ou subgéneros.
Ao
atentarmos, agora, no quadro XXXII,
verificamos que são os inquiridos com idade até aos 20 anos quem mais se
identifica com a esfera das práticas expressivas semi‑públicas[908]. Se no caso das
idas ao café, cervejaria e pastelaria poderemos estar em presença de
investimentos relacionais no quadro de práticas de sociabilidade local que de
certa forma prolongam o espaço residencial encarado no seu sentido mais amplo,
já as idas a restaurantes, bares e discotecas[909] remetem‑nos
para a crescente centralidade das funções de consumo que a cidade desempenha,
quer estejam ou não associadas a processos de reestruturação urbana do tipo gentrificação. Neste último caso, em
particular, desenvolve‑se toda uma “cultura de saídas” que requer rituais
e formas de apresentação em cena adequados, fomentando‑se uma série de
espaços socializadores que tendem a escapar à lógica e controle domiciliar e
familiar e estimulando‑se a consolidação de estilos de vida relativamente
plásticos e autónomos, embora não isentos de constrangimentos sociais, como
julga encantatoriamente o pós‑modernismo mais ingénuo[910].
Quadro
XXXII - Frequência de práticas expressivas semi-públicas por escalões etários
|
Escalões Etários |
|||
|
Práticas Expressivas Semi‑Públicas |
Até 20 N=72 (15,2%) |
21‑30 N=243 (51,4%) |
31‑40 N=79 (16,7%) |
Mais de 40 N=79 (16,7%) |
|
Frequentemente N=41 (8,7%) |
15,3 |
9,5 |
7,6 |
1,3 |
|
Com Alguma Frequência N=314 (66,4%) |
66,7 |
72,8 |
62,0 |
50,6 |
|
Raramente/Nunca N=118 (24,9%) |
18,1 |
17,7 |
30,4 |
48,1 |
Os
grupos etários mais idosos, em particular os que são detentores de elevados
capitais escolares, tenderão a dirigir a sua “cultura de saídas”
preferencialmente para “templos” da cultura erudita, ou, de uma forma geral,
para o espaço semi‑público sobrelegitimado (salas de concertos, de
teatro, de exposições, etc.), o que não significa que as actividades aí
incluídas não atraiam também contigentes de jovens relativamente elevados (sem
perder de vista que falamos nestes casos de públicos extremamente exíguos ou
mesmo de “clientelas”, como propõe Idalina Conde em relação à ópera[911]).
Aliás,
ao observarmos o quadro XXXIII,
respeitante ao cruzamento entre a idade dos inquiridos e o grau de frequência
de práticas receptivas e informativas de públicos cultivados reparamos que,
para todos os grupos etários, apenas uma escassa minoria (à volta dos 9%) é público assíduo de actividades
como ir ao teatro; ir a concertos de música clássica ou visitar museus e
exposições. De qualquer forma, os inquiridos com idade até aos 20 anos são os
que mais raramente ou mesmo nunca frequentam estas práticas.
Quadro
XXXIII - Frequência de práticas receptivas e informativas de públicos
cultivados por escalões etários
|
Escalões Etários |
|||
|
Práticas Receptivas e Informativas de Públicos Cultivados |
Até 20 N=75 (15,4%) |
21‑30 N=242 (49,6%) |
31‑40 N=84 (17,2%) |
Mais de 40 N=87 (17,8%) |
|
Frequentemente N=46 (9,4%) |
9,3 |
9,5 |
9,5 |
9,2 |
|
Com Alguma Frequência N=183 (37,5%) |
36,0 |
39,7 |
31,0 |
39,1 |
|
Raramente/Nunca N=259 (53,1%) |
54,7 |
50,8 |
59,5 |
51,7 |
Uma vez
mais a necessidade de acumular um volume mínimo de capital informacional (com
tudo o que isso significa de incorporação de capital cultural — embora a
relação não nos pareça automática — e de familiarização com códigos artísticos
marcados por um acentuado desvio em relação às linguagens quotidianas) favorece
idades mais avançadas, embora não seja necessário galgar a pirâmide etária. Com
efeito, o grupo etário em que o pólo “frequentemente/com alguma frequência”
adquire valores superiores é dos inquiridos com idade compreendida entre os 21
e os 30 anos. O que mostra que não existe, antes pelo contrário, rarefacção
relativa de jovens na esfera erudita mas sim um limiar mínimo de recrutamento
que tende a afastar os públicos propriamente adolescentes (reflecte‑se,
de novo, o facto de não estar ainda completo o seu “período formativo”).
No
entanto, esse afastamento já não se verifica quando se trata de práticas
criativas eruditas (Quadro XXXIV)[912].
Quadro XXXIV - Frequência de práticas eruditas criativas por escalões
etários
|
Escalões Etários |
|||
|
Práticas Eruditas Criativas |
Até 20 N=74 (15,0%) |
21‑30 N=249 (50,5%) |
31‑40 N=84 (17,0%) |
Mais de 40 N=86 (17,4%) |
|
Frequentemente N=31 (6,3%) |
10,8 |
6,0 |
4,8 |
4,7 |
|
Com Alguma Frequência N=106 (21,5%) |
32,4 |
22,5 |
16,7 |
14,0 |
|
Raramente/Nunca N=356 (72,2%) |
56,8 |
71,5 |
78,6 |
81,4 |
Note‑se
que, para jovens oriundos de camadas sociais favorecidas, o exercício criativo
pode funcionar como forma ultrafamiliar de confirmação e concretização da
incorporação dos códigos estéticos mais exigentes. Para outros, eventualmente
desmunidos à partida desses recursos, a criação (com a aprendizagem que requer
e os repertórios e redes de sociabilidade que lhe estão associados) contribui
como canal socializador alternativo, treino de novas competências que poderão
servir como utensílio de mobilidade social. Não deixa de ser significativo, no
entanto, que o “envelhecimento cultural” se revele mais precoce nas práticas
criativas do que nas informativas e receptivas, as primeiras exigindo uma intervenção
activa do emissor/receptor, transformado em produtor. Provavelmente estas
estarão igualmente ligadas a formas de expressão e consolidação das identidades
em formação. Atente‑se em dois exemplos ilustrativos das diferenças entre
práticas criativas e receptivas situadas na esfera erudita (Anexo V/Quadros V e VI). No que se
refere à prática de escrita literária, a sua frequência, sendo globalmente
reduzida, decresce com a idade (o mesmo acontecendo com as artes plásticas).
Pelo contrário, a ida a museus (símbolos precisamente, da acumulação
patrimonial e da memória social), embora mais generalizada, aumenta com a
idade.
Analisando agora a adesão etária às práticas
associativas, quer de cariz expressivo (Quadro
XXV)[913], quer de cariz
criativo (Quadro XXXVI)[914], podemos constatar,
desde logo, um massivo afastamento por parte de todos os grupos. Tal poderá
explicar‑se pela tendência, verificada em múltiplos estudos, de acentuado
desinteresse face à participação na acção colectivamente organizada, com tudo o
que ela representa de regulação institucional, de escalonamento de prioridades
e objectivos, de equacionamento de meios e recursos, de diagnóstico de fins a
atingir. Aliás, é frequente defender‑se que a participação juvenil se
verifica em contextos informais, de forte componente convivial.
Quadro XXXV - Frequência de práticas associativas expressivas por
escalões etários
|
Escalões Etários |
|||
|
Práticas Associativas Expressivas |
Até 20 N=74 (15,3%) |
21‑30 N=244 (50,3%) |
31‑40 N=84 (17,3%) |
Mais de 40 N=83 (17,1%) |
|
Frequentemente N=12 (2,5%) |
2,7 |
2,5 |
2,4 |
2,4 |
|
Com Alguma Frequência N=62 (12,8%) |
20,3 |
14,3 |
6,0 |
8,4 |
|
Raramente/Nunca N=411 (84,7%) |
77,0 |
83,2 |
91,7 |
89,2 |
Henrique
Gil Calvo considera mesmo que a chave para a compreensão das condutas juvenis
não se encontra nos “canais de regulação
primários” (partidos políticos, aparelhos ideológicos diversos, com
especial destaque para a escola, família), onde se concentram os principais
grupos de pertença, mas sim nas modalidades de organização informal, assente
numa rede de grupos de iguais (“rede de
companheirismo, amizade e ajuda mútua”[915]) onde
frequentemente se constrói uma nova definição da realidade (baseada amiúde em
grupos de referência), capaz de gerar uma ordem normativa extraoficial. Desta
forma, falhando em conseguir adesão e eficácia, os agentes de socialização
formais não logram funcionar enquanto meios de transmissão de informação e de
preparação cultural. No que diz respeito ao movimento associativo identificaram‑se
ainda como obstáculos à participação juvenil a excessiva burocratização, a
monotonia da oferta cultural, relações intrassociativas de cariz vertical e
excessivamente hierarquizadas (contribuindo para afastar dirigentes e
associados) e uma falta de articulação entre objectivos pessoais e objectivos
associativos[916].
Quadro XXXVI - Frequência de práticas associativas criativas por
escalões etários
|
Escalões Etários |
|||
|
Práticas Associativas Criativas |
Até 20 N=75 (15,4%) |
21‑30 N=245 (50,2%) |
31‑40 N=85 (17,4%) |
Mais de 40 N=83 (17,0%) |
|
Frequentemente N=12 (2,5%) |
6,7 |
2,0 |
2,4 |
|
|
Com Alguma Frequência N=45 (9,2%) |
20,0 |
9,8 |
3,5 |
3,6 |
|
Raramente/Nunca N=431 (88,3%) |
73,3 |
88,2 |
94,1 |
96,4 |
Assim, e
tendo em conta a persistente valorização por parte dos jovens de dimensões
normativas ligadas à possibilidade de autorealização e a dominância de um
individualismo de tipo relacional, não admira que o afastamento face ao espaço
associativo seja tão expressivo[917]. Podemos ainda
enquadrar estes dados numa tendência mais vasta. Inglehart, por exemplo, tem
vindo a defender, com fundamento numa impressionante base de informação
empírica, que nas sociedades dotadas de uma relativa prosperidade ou sujeitas a
períodos relativamente longos de crescimento económico, existe, desde há algum
tempo (nos países mais desenvolvidos desde a primeira geração pós segunda
grande guerra) uma nítida preferência pelos valores pós‑materialistas,
distintivos, entre outras dimensões, pela prioridade concedida à “maximização do bem‑estar subjectivo”
em detrimento do crescimento económico, ou ainda pela erosão dos centros
tradicionais de autoridade (religião, estado) devido a uma valorização
acentuada do indivíduo e da sua necessidade de auto‑expressão[918]. Esta constelação
de valores assenta, entre outros, na defesa da realização pessoal, da satisfação
no trabalho, das preocupações ambientais, na tolerância face à diversidade de
orientações normativas, na valorização da livre escolha, do lazer, da saúde e
das redes de sociabilidade, num claro recentramento em torno de um
individualismo fortemente aglutinador. Torna‑se pouco propícia, por isso,
a uma participação em organizações que se caracterizam por altos níveis de
burocracia e centralização de iniciativa. Por outro lado, a vertente hedonista
deste individualismo coaduna‑se mal com tudo o que implique uma cedência
do espaço pessoal de manobra, mesmo que em nome de interesses colectivos.
De
qualquer modo, apesar da falta de identificação com o espaço semi‑público
organizado alcançar níveis extremamente elevados, convém salientar que o grupo
etário dos inquiridos que têm até vinte anos revela uma maior adesão ao espaço
associativo, em particular no que se refere às práticas criativas (fazer teatro
amador, tocar ou dançar, etc.). Para além dessa tendência ser compatível, como
já referimos, com um processo de construção de identidade e com a necessidade
de expressão/consolidação de traços emergentes de personalidade, existe uma
ligação à fortíssima componente musical da categoria em questão. A música, não
o esqueçamos, constitui uma das vertentes fundamentais de suporte e difusão das
culturas juvenis, em especial enquanto veículo privilegiado de constituição de
redes de sociabilidade e convívio intimamente associadas à organização informal
dos seus quotidianos. Henrique Gil Calvo apresenta uma concepção algo
maquiavélica da função da música (e em geral do que ele apelida de “moda audiovisual”[919]) na estruturação
das culturas juvenis, ao considerar que o seu principal objectivo é informar
cada jovem das modificações ocorridas nas condutas dos demais, de acordo com a
sua posição na estrutura social e com o ritmo global de mudança. Por outras
palavras, em universos crescentemente competitivos, marcados por conjunturas
demográficas e económicas desfavoráveis (pautadas pela escassez de postos de
trabalho, por comparação com o contigente de pretendentes), torna‑se
imprescindível para os jovens saberem em tempo útil e a baixo custo, quais os exogrupos (grupos de referência ou
grupos de iguais, por oposição aos
endogrupos, grupos de pertença — família, por exemplo) que melhor defendem
os seus interesses, num clima de veloz mudança social. Ou seja, para
ultrapassar os outros na fila de espera que caracteriza a sua condição social,
os jovens mergulham numa pluralidade de modas (em que a música aparece como o
campo mais paradigmático com a proliferação de combinações de géneros e
subgéneros) que fornecem preciosas informações sobre aquilo que os divide (e
não sobre o que os une, como acontece em conjunturas demográfico‑económicas
favoráveis): “assim, mediante a atenção
prestada à moda audiovisual, cada jovem fica perfeitamente informado, e a baixo
custo, de qual é a subdivisão social ocupada por todos e cada um dos demais
jovens competidores, dentro do repertório de subdivisões estabelecido pela
divisão social dos jovens”[920]. Esse seria, aliás,
o único interesse desta categoria social — adiantar‑se face aos
concorrentes na “interminável” fila de espera da sua condição: “se não os podes vencer, luta: estabelece
com eles uma corrida de velocidade de imitação em que vence quem correr mais
depressa no seguimento da moda audiovisual. Marca a moda quem se adianta em
imitar os demais antes que os demais: superando em rapidez de imitação os
próprios exemplos do modelo a imitar. Círculo vicioso que é o imperativo
categórico do depredador audiovisual”[921]. Claro que esta
visão nos parece simplista e unidimensional. Se é verdade que a intensa adesão
juvenil a uma cultura da imagem e do som se liga a uma necessidade de rápida
actualização de conhecimentos num contexto axiológico extremamente mutável; se
nos surge como igualmente viável a hipótese de alguma associação dessa cultura
aos fenómenos da moda e da diversidade/competição intergrupal, todavia a
questão tem de ser encarada pelo outro lado da moeda: tais fenómenos
representam, igualmente, tentativas de auto‑expressão criativa e os seus
conteúdos funcionam como uma narrativa que os jovens contam a si próprios, a
respeito de si mesmos. Dito por outras palavras, a música e toda a cultura da
imagem e do som constituem veículos privilegiados de suporte, difusão e
construção das identidades juvenis, num tempo em que o padrão de uma cultura
unificada cede lugar a práticas difusas, descontextualizadoras e fragmentadoras
dos seus significados tradicionais (o discursivo, por exemplo, é vertiginosamente
substituído pelo figurativo — imagens), o que confere importância acrescida a
todos os processos de apresentação de uma imagem de si (roupas, adornos,
posturas corporais, etc.) como âncora de identificação e, simultaneamente, de
diferenciação estilística e cultural[922].
Uma
última nota para realçar que não existe na nossa amostra um comportamento
distintivo dos grupos etários mais jovens face a um indicador crucial de adesão
à cultura audiovisual como é o caso da frequência com que se vê televisão (Anexo V/Quadro VII). No entanto, por
comparação com inquéritos nacionais, verifica‑se uma menor adesão dos
jovens da amostra face a essa prática[923]. Estarão outras
variáveis, que não a idade, relacionadas com este comportamento? Não deixa de
ser curioso verificar a frequência com que se vêem filmes vídeo em casa. Ela
alcança níveis superiores precisamente junto dos mais jovens. Apresentar‑se‑á
esta prática, ligada à possibilidade de escolha, como um substituto parcial da
recepção televisiva, mais passiva? Voltaremos a este aspecto quando
relacionarmos um conjunto de práticas culturais com o capital escolar dos
inquiridos.
Podemos então falar, em síntese, da existência de uma “cultura jovem”?
A
resposta é sim e não. Sim, se a entendermos enquanto uma especificidade geracional
(a tal “tipicidade juvenil” de que fala Machado Pais e que apressadamente
rejeitamos, como já referimos, em trabalhos anteriores), baseada na comparação
de um mínimo denominador comum face às demais gerações, produzido sócio‑culturalmente
pela exposição a um mesmo período histórico, um “pano de fundo” que cobre
processos de socialização necessariamente distintos consoante a classe social,
o sexo, o contexto residencial, a etnia, etc. Neste âmbito, podemos falar,
entre outras dimensões, de um afastamento face aos padrões clássicos de cultura
e às vias tradicionais de consagração e legitimação, maxime a escola. Assim, os jovens tendem a explorar e a investir em
vias alternativas de legitimação cultural, em particular as que se enquadram na
“economia mediático‑publicitária”.
Serão por isso mais visíveis as disposições inculcadas que vão no sentido de
uma valorização da apresentação estilística e do consumo cultural urbano, com
especial ênfase nos espaços‑tempos de lazer (F. Godard fala mesmo da
criação de um “mercado cultural da
juventude”[924]) e nas práticas
conviviais. Inglehart também salienta a existência de significativas diferenças
intergeracionais em sociedades sujeitas a períodos relativamente longos de
crescimento económico, como é o caso de Portugal, o que reforça a tendência
para que o período formativo dos mais novos tenha ocorrido em situação de
segurança económica[925] propiciando a
identificação com valores pós‑materialistas que favorecem um
recentramento na esfera do simbólico (auto‑expressão, gratificação
individual, qualidade de vida como prioridade, participação, bem‑estar
subjectivo, etc.).
A nossa amostra mostra, aliás, uma maior
adesão dos inquiridos com idade compreendida entre os 21 e os 40 anos (jovens e
jovens adultos) ao espaço semi‑público. No entanto, não se pode afirmar
que os inquiridos mais velhos assumam uma lógica clara de desinvestimento neste
espaço. Aliás, ao contrário do que se poderia pensar, o escalão etário dos
inquiridos com idade superior a 40 anos é o que menos adere ao espaço doméstico
(Quadro XXXVII). O que nos alerta
para o facto de, na nossa amostra, as clivagens com base na idade não serem
muito significativas (veja‑se o caso da generalizada falta de
identificação com o espaço associativo). Eventualmente os inquiridos mais
idosos que a constituem estão longe de serem representativos do comportamento
médio da sua faixa etária. Outras variáveis interferirão na sua resistência
diferencial ao “envelhecimento cultural”. O que nos remete para o outro lado da
pergunta inicial.
Quadro XXXVII - Frequência do espaço doméstico por escalões etários
|
Escalões Etários |
|||
|
Espaço Doméstico |
Até 20 N=67 (17,0%) |
21‑30 N=202 (51,1%) |
31‑40 N=64 (16,2%) |
Mais de 40 N=62 (15,7%) |
|
Frequentemente N=18 (4,6%) |
6,0 |
4,0 |
6,3 |
3,2 |
|
Com Alguma Frequência N=264 (66,8%) |
70,1 |
66,8 |
68,8 |
61,3 |
|
Raramente/Nunca N=113 (28,6%) |
23,9 |
29,2 |
25,0 |
35,5 |
De
facto, não existe uma “cultura jovem” se considerarmos que apenas certos
segmentos da categoria social “juventude” adoptam comportamentos e atitudes como
os anteriormente descritos. Da mesma forma, essa especificidade dilui‑se
se estiver presente em determinados estratos de outras gerações ou grupos
etários. Como refere Featherstone, citando um colunista de uma revista juvenil,
“ninguém é doravante um adolescente se
toda a gente o é”[926]. Ou, como
acrescenta o mesmo autor, importa, para além de tentar analisar os conteúdos da
mudança cultural (em direcção ao que muitos apelidam de “cultura pós‑moderna”),
saber onde essa cultura surge e que grupos sociais a protagonizam. Até
que ponto a adesão às imagens e à imagem como apresentação de si, à identidade
descentrada e ao individualismo relacional (e também narcísico) eliminou
hierarquias e estruturas simbólicas tradicionais, generalizando e
democratizando códigos outrora restritos e apanágio de grupos dominantes. Urge,
por isso, conhecer o habitus desses
grupos juvenis que, de forma mais visível, parecem representar toda uma
geração, funcionando mesmo como espelho, muitas vezes, de uma sociedade inteira[927].
2. Género: o fim do “duplo
padrão” de comportamento?
Anthony
Giddens coloca a reflexividade feminina no centro daquilo que apelida de “política da vida”[928], um programa que
coloca no centro das orientações normativas a procura quase obsessiva da auto‑identidade
e a concretização das “decisões da vida”[929]. Assim, a mulher
liberta‑se não só das obrigações familiares e da “mística feminina” como
se recusa a seguir, na esfera profissional, os estereótipos masculinos. A “política da vida” encontra‑se
pois intimamente ligada à definição da identidade de género.
No
entanto, se atentarmos no Quadro XXXVIII
constatamos que, apesar do afastamento face ao espaço público ser comum aos
dois sexos, a exclusão das mulheres é muito mais significativa.
Apesar de as mulheres terem definitivamente
conquistado os vários níveis de ensino, incluindo, de forma expressiva, o
ensino superior, bem como importantes segmentos qualificados do mercado de
trabalho [930], não lograram ainda
abrir as portas do espaço público[931]. Trata‑se,
por isso, de um défice de cidadania que justifica a continuação de políticas e
práticas emancipadoras, na medida em que persiste uma apropriação desigual de
recursos baseada na diferença sexual. Giddens considera que a autonomia é o
principal “princípio mobilizador” da
perspectiva emancipadora: “A emancipação
significa que a vida colectiva é organizada de modo que o indivíduo é capaz —
de uma maneira ou de outra —, de acção livre e independente nos ambientes da
vida social”[932].
Quadro XXXVIII - Frequência do espaço público por sexo
|
Sexo |
|||
|
Espaço Público |
Masculino N=207 (46,6%) |
Feminino N=237 (53,4%) |
|
|
|
Frequentemente N=3 (0,7%) |
1,0 |
0,4 |
|
|
|
Com Alguma Frequência N=76 (17,1%) |
27,1 |
8,4 |
|
|
|
Raramente/Nunca N=365 (82,2%) |
72,0 |
91,1 |
|
|
Nesta
medida, pode‑se afirmar que a identidade de género, mesmo antes de se
embrenhar na “política da vida”
(ligada à pluralidade de escolhas e estilos de vida da “modernidade tardia”, segundo Giddens) necessita de resolver situações que, de acordo com o autor inglês,
pertencem a uma ordem tradicional. Por outras palavras, tradição e pós‑tradição
não são momentos sequenciais, etapas de uma qualquer progressão, mas sim
dimensões coexistentes.
Veja‑se
o quadro referente às práticas expressivas públicas[933] (Quadro XXXIX).
Quadro XXXIX - Frequência de práticas expressivas públicas por sexo
|
Sexo |
|||
|
Práticas Expressivas Públicas |
Masculino N=210 (46,0%) |
Feminino N=247 (54,0%) |
|
|
|
Frequentemente N=6 (1,3%) |
1,4 |
1,2 |
|
|
|
Com Alguma Frequência N=159 (34,8%) |
41,9 |
28,7 |
|
|
|
Raramente/Nunca N=292 (63,9%) |
56,7 |
70,0 |
|
|
A exclusão
feminina volta a ser muito mais significativa que a reduzida participação
masculina. Este fenómeno pode funcionar como uma forma relativamente
dissimulada de reprodução das desigualdades sexuais. Não sendo tão visível e
explícita como há décadas atrás, em grande parte devido à recente conquista
feminina dos níveis elevados de escolaridade e do mercado de trabalho, a
manutenção de padrões de desigualdade de oportunidades pode estar associada a
uma sobrecarga de trabalho doméstico e a um défice de tempo disponível para
actividades de lazer. Aliás, os nossos dados revelam, o que à partida poderia
parecer paradoxal, que não há diferenças assinaláveis na adesão ao espaço
doméstico (Anexo V/Quadro XII). No
entanto, não nos podemos esquecer que a nossa tipologia de actividades
culturais se enquadra no tempo do não‑trabalho. Se porventura tivéssemos
medido o tempo de permanência em casa, certamente que as mulheres revelariam
uma muito maior dependência face ao espaço doméstico.
Onde se
verifica, igualmente, uma sobreexclusão feminina, é no espaço associativo
(espaço semi‑público organizado). Apesar de os inquiridos do sexo
masculino, uma vez mais, se revelarem igualmente afastados desse círculo, a
minoria que participa é mais alargada (Quadro
XL). Desta forma, as mulheres encontram‑se privadas de contextos de
socialização onde se incorporam valores de mobilização, participação e acção
colectiva, muitas vezes contra poderes e lógicas tutelares[934]. Por outras
palavras, vêem‑se amputadas da aprendizagem de uma lógica política de
contornos emancipatórios, o que não deixa de ser funcional para a manutenção
das desigualdades de índole sexual.
Quadro XL -Frequência do espaço associativo
por sexo
|
Sexo |
|||
|
Espaço Associativo (Semi‑Público Organizado) |
Masculino N=214 (45,1%) |
Feminino N=260 (54,9%) |
|
|
|
Frequentemente N=5 (1,1%) |
1,9 |
0,4 |
|
|
|
Com Alguma Frequência N=38 (8,0%) |
11,2 |
5,4 |
|
|
|
Raramente/Nunca N=431 (90,9%) |
86,9 |
94,2 |
|
|
Finalmente,
o Quadro XLI mostra‑nos que,
em relação ao espaço semi‑público, não só não se verifica qualquer discrepância,
em termos de tendência, entre os dois sexos, como, inclusivamente, se denota
uma ligeira adesão superior por parte das mulheres. Esta constatação pode‑se
explicar, a nosso ver, pela combinação de dois factores: i) a presença nesta categoria de práticas como “ir às compras”, “ir
à missa ou a cerimónias religiosas” ou ainda “comprar comida e mercearias” que
são tradicionalmente feminizadas; ii),
a associação existente entre o espaço semi‑público e as práticas de
sociabilidade local (ir a cafés ou pastelarias) que prolongam os quadros
identitários de base doméstica.
Quadro XLI - Frequência do espaço
semi-público por sexo
|
Sexo |
|||
|
Espaço Semi‑Público |
Masculino N=213 (45,7%) |
Feminino N=253 (54,3%) |
|
|
|
Frequentemente N=151 (32,4%) |
27,2 |
36,8 |
|
|
|
Com Alguma Frequência N=250 (53,6%) |
55,4 |
52,2 |
|
|
|
Raramente/Nunca N=65 (13,9%) |
17,4 |
11,1 |
|
|
Em suma,
no que se refere à abertura ao espaço exterior amplo, à lógica da esfera
pública (onde se desenvolvem, de forma ímpar, competências comunicacionais que
favorecem a acção cívica e política) as mulheres sofrem uma significativa
discriminação. Escapam‑se‑lhes, por isso, as arenas urbanas onde se
forma a opinião pública e onde se confrontam modelos díspares, o que acaba por
reduzir a gama de estilos de vida possíveis.
No entanto,
convém realçar que, apesar de estarmos indiscutivelmente na presença de uma
lógica de género, a tendência mais ampla é transversal aos dois sexos
(afastamento do espaço público e do espaço semi‑público organizado) e
exige a implicação de outras dimensões explicativas.
3.1. Espaços, perfis de públicos e formas de
apresentação.
Mike
Featherstone chama a atenção para a crescente importância dos factores
culturais no contexto da competição entre cidades. Com efeito, o modelo de um
formalismo exagerado e abstracto, ligado a uma racionalidade económica de cariz
tecnocrata (a cidade meramente funcional), ou a exploração de uma tradição
baseada na história e nas artes, cedem cada vez mais o lugar à urbe onde a
iconografia urbana desempenha um papel fundamental no imaginário cosmopolita
dos seus habitantes. A “imagem de cidade” torna‑se pois crucial para a
atracção de investimentos, mostrando como as esferas da cultura e da economia
se aliam e interpenetram (apesar das suas lógicas relativamente autónomas e
amiúde conflituais). O processo de gentrificação enquadra‑se, aliás,
neste amplo processo[935]. Mas igualmente na
crescente implantação de pólos de atracção cultural, embora numa lógica
distinta das instituições e hierarquias tradicionais.
Atente‑se
nos espaços que estamos a analisar. O Rivoli, como já foi referido[936], assume‑se
como centro cultural polivalente, dividindo‑se internamente em espaços de
vocação diferenciada, de forma a propiciar cruzamentos e encontros de públicos
e níveis de cultura distintos, funcionando, indiscutivelmente, como local de
atracção metropolitana.. O B Flat combina a lógica informal de bar com a função
de sala de espectáculos, contribuindo para a imagem que o município de
Matosinhos pretende transmitir de “cidade
do jazz”. A esplanada da Praia da Luz apresenta igualmente um perfil
híbrido, funcionando como café, bar e local ocasional de espectáculos,
inserindo‑se num movimento relativamente recente de dinamização da zona
marítima da cidade. Por outras palavras, não são apenas locais onde se consomem
signos culturais, são eles próprios signos
que se consomem e que contribuem para a imagem de cidade.
De certa
forma, subjacente a qualquer um destes três espaços, existe a intenção de
transgredir significados estáticos e tradicionais de cultura, fomentando a
diversidade de linguagens culturais e “baralhando” hierarquias e sistemas de
classificações. Repare‑se que, não só um local de convívio mundano (Praia
da Luz) se abre às novas expressões do campo cultural (moda, design, música
alternativa), como espaços de expressão cultural consagrada (o B Flat e o jazz, o Rivoli e o teatro, a dança, a
música erudita, o cinema de autor) adoptam lógicas democratizadoras, viradas
para a expansão de públicos (multifuncionalidade) e mescladas com o lazer e a
diversão. Apresentam‑se por isso, à partida, como espaços liminares, lugares de “complexa
interacção de campos e sentidos” onde se flexibilizam categorias e papéis
instituídos e onde não existem critérios universais de classificação e
legitimação[937].
Serão
estes objectivos atingidos?
Atente‑se
no quadro XLII. Nos três espaços o
grupo etário modal é o que congrega os inquiridos com idade compreendida entre
os 21 e os 30 anos. No primeiro destes lugares o público adolescente é quase
inexistente, o que já não é verdadeiro para a Praia da Luz onde representam 25.8% do público total da amostra. No
caso do Rivoli, apesar da já referida elevada concentração no grupo etário 21‑30
anos, existe uma distribuição mais equilibrada. Em suma, as clientelas afiguram‑se
consideravelmente juvenilizadas, com particular incidência na Praia da Luz. B
Flat e Rivoli têm um peso relativo mais significativo dos inquiridos com idade
compreendida entre os 31 e mais de 40 anos (respectivamente 41.5% e 37.8%)[938].
Quadro XLII -Escalões etários por espaços
|
Espaço |
||
|
Escalões Etários |
B Flat N=142 (27,1%) |
Praia da Luz N=93 (17,8%) |
Rivoli N=289 (55,1%) |
|
Até 20 N=79 (14,9%) |
3,5 |
25,8 |
17,0 |
|
21‑30 N=263 (50,2%) |
54,9 |
58,1 |
45,3 |
|
31‑40 N=90 (17,2%) |
22,5 |
11,8 |
16,3 |
|
Mais de 40 N=93 (17,7%) |
19,0 |
4,3 |
21,5 |
3.1.1 Praia da Luz ou a
cidade e a moda: em direcção a um habitus
plasticizado?
Vários são os factores que podem explicar esta composição etária.
O tipo de oferta cultural existente na Praia da Luz, a par da organização do
próprio espaço — grande informalidade, importante (omni)presença do audiovisual
(écrans de televisão onde se sucedem imagens vídeo; música pop passando a alto
volume) — propiciam as sociabilidades juvenis e a cultura diversão, ao mesmo
tempo que exigem uma estrutura moderna do capital cultural, imprescindível para
se decifrarem as linguagens e os códigos “do momento”. Uma inscrição num
folheto de divulgação das actividades promovidas na Praia da Luz não podia ser
mais explícita:
“Quem não está in está out”.
As
nossas deambulações etnográficas permitiram‑nos reforçar estas primeiras
observações. Nas centenas de pessoas que invadiram o bar‑esplanada numa
noite de passagem de modelos, a esmagadora maioria era adolescente, embora
também se vislumbrassem alguns jovens adultos. Curiosamente, as pessoas mais
velhas adoptavam uma postura bastante mais
reservada e discreta, muitas delas assistindo ao “espectáculo” a partir da
rua sobranceira. As indumentárias, aliás, denunciavam, numa primeira impressão,
a aparente uniformização das vestes juvenis (informalidade, “valorização” do
corpo — jeans; t‑shirts por debaixo de camisas abertas; algumas raparigas de
mini‑saia). No entanto, um olhar mais atento permitia detectar “regiões”
onde dominava a sofisticação. Nestes casos, a estilização da presença em cena,
a ocupação de regiões frontais, o look trabalhado, lembram uma citação de
Mike Featherstone: “Estão fascinados pela
identidade, apresentação, aparência, estilo de vida e pela incessante busca de
novas experiências”[939].
Adolescentes
pintadas de forma por vezes exótica (máscaras pós‑modernas?); raparigas
com chapéus em citação de tempos idos, botas negras até ao joelho; rapazes de
cabelo multicolor; calças justíssimas com terminação à boca de sino. Colagem,
absorção do passado[940], paródia, uso do kitsch. Segundo Featherstone, trata‑se
do colapso das fronteiras entre a arte e a vida quotidiana, especialmente
patente nos estilos juvenis. Fazer da vida uma obra de arte (adoptar a divisa “a vida pela arte e a arte pela vida”[941]); ser cada um artista
de si mesmo; estetizar o momento. O espectáculo dentro do espectáculo: estão
ali para assistir à passagem de modelos, mas apresentam‑se a si próprios
como possíveis “modelos” a seguir; consomem um produto cultural e como tal são
consumidos. A sua individualidade exprime‑se, supostamente, através dos
seus corpos, da sua hexis, da sua
face, da sua indumentária e adornos. O “eu” torna‑se também um efeito de
representação, um happening, em suma,
um “eu” performativo (“performing self”[942]). O comportamento
em matéria de traje revela‑se indissociável da teatralidade da vida
quotidiana (“é uma maneira de se
representar e de se apresentar”[943]), como de resto os
interaccionistas não se cansam de referir. Símbolo de identificação a um estilo
de vida (e aos grupos que nele se reconhecem), serve também de demarcação face
aos restantes. “Ritual confirmativo”
(na expressão de Goffman) e, ao mesmo tempo, emblema de exclusão. “Ponte” que nos liga a alguns “outros”, “porta” que de “outros” nos afasta.
Simmel fala, por isso, numa dupla função da moda: “construir um círculo, isolando‑o ao mesmo tempo dos demais”[944].
Vale a
pena descrever o momento da passagem de modelos para elucidar um pouco melhor a
íntima relação que se estabelece entre estes estilos de apresentação em cena e as
franjas emergentes do campo cultural:
Num
palco muito próximo do mar prolonga‑se uma passerelle erigida em plena praia. Antes do desfile actua um grupo
de dança. Semi‑nus, os bailarinos ondulam ao som de ritmos africanos,
imitando cadências “tribais”. De entre o grupo destaca‑se um executante
de peito nu e longos cabelos pretos. O exótico é descontextualizado, “colado” a
outras referências e apreendido em paródia de forma fragmentária. Num outro
quadro, os bailarinos surgem em traje “futurista”, sugerindo a iconografia de
um cenário de ficção científica.
Começa o desfile. Os modelos são muito
jovens, boa parte deles adolescentes. Imediatamente antes passa num grande
écran constituído por doze televisores uma lista contendo os seus nomes,
acompanhados dos respectivos rostos em poses ora “exóticas”, ora descontraídas,
ora ainda “provocadoras”.
As
modelos são extremamente magras (o corpo da “moda”, uma versão legítima do corpo, ou como as pressões
sociais reaparecem onde menos se espera, no próprio terreno do “eu
performativo”[945]). Os rapazes denunciam um porte viril, ostentando
músculos trabalhados (a imagem constrói‑se, burila‑se — tudo se
passa nos limites do “descontrole controlado” do habitus). Caminham a passos largos ao longo da passerelle; aproximam‑se da assistência, tiram os óculos
escuros de lentes oblíquas, fitando longamente o público sem fixar ninguém em
concreto; despem o casaco em pose provocatória e retiram grande ovação à
assistência (paródia da inversão dos papéis sexuais tradicionais — o homem como
objecto de desejo, o seu corpo como mercadoria num tempo em que toda a
mercadoria se culturaliza. Mas não resultará este jogo numa confirmação/reforço
da ordem normativa tradicional?).
De repente, ainda o desfile não terminara
irrompe uma intensa chuva. As pessoas correm para debaixo das árvores e dos
guarda‑sóis. Os grupos de amigos desfazem‑se. Muita gente pergunta
por alguém que se perdeu. A realidade quotidiana regressa como realidade
primeira. Muda‑se de província
finita de sentido (Schutz).
Por
vezes, o “choque” de estilos provoca situações desconcertantes, surgindo a
dissonância e mesmo o ruído:
10 horas da noite. Esplanada cheia. Ambiente
vincadamente juvenil, ou mesmo adolescêntrico, com excepção de alguns — poucos
— casais. As vestes são claramente informais, quase desportivas.
A partir da uma hora da madrugada a
composição do público vai‑se progressivamente alterando, com tendência
para um ligeiro envelhecimento. Os jovens adultos, na casa dos vinte anos,
tornam‑se predominantes. O restaurante metamorfoseia‑se totalmente
em bar. O DJ convidado inicia a sua actuação. A música aumenta de volume e a
luz enfraquece. Começam a aparecer grupos de aparência estilizada, com especial
destaque para as raparigas, onde a panóplia de adornos e a profusão de signos
decorativos é abundante. Vestidos de alta costura, em geral negros, calças
pretas justas, alguns tops ousados.
Maquilhagem de múltiplas matizes.
De repente, a perplexidade apodera‑se
dos presentes. Surge um grupo nitidamente desadequado face ao cenário,
provavelmente oriundo de um dos muitos casamentos que se realizam no Verão. Os
seus fatos e vestidos são igualmente formais, mas visivelmente fora de moda. Os
olhares dos habitués não descolam
daquele grupo. Nota‑se troça e desconforto.
Convém
referir, no entanto, que os grupos de jovens onde se distingue a indumentária
sofisticada (ligada à “exploração lúdica
de experiências transitórias e aos efeitos estéticos de aparência”[946]) representam uma minoria face ao
conjunto da assistência onde predomina a informalidade e os estilos de
apresentação mais “vulgares” (menos “trabalhados”), embora dentro dos cânones
da moda. Não se pode afirmar, por isso, que exista aqui um “colapso das hierarquias simbólicas”[947] e dos rituais de
distinção. Seguindo Simmel, ocorre‑nos referir, a este respeito, o
paradoxo que a moda resolve: ela permite, ao mesmo tempo, a fusão no grupo, a
integração social (através da tendência para a imitação) e a diferenciação, a
distinção (na busca constante do novo). Simmel acrescenta ainda que “as modas são sempre modas de classe”[948] mas não deixa de
realçar a componente de criatividade e expressão individual patente neste
fenómeno. A sua análise, de resto, nada fica a dever aos comentários de alguns
ensaístas da pós‑modernidade, excepto no optimismo desmesurado com que
encaram a questão. Para Lipovetsky, por exemplo, a moda contribui para o
fortalecimento das democracias e das sociedades livres: “é a idade da moda que mais tem contribuído para arrancar o conjunto
dos homens ao obscurantismo e ao fanatismo, para instituir um espaço público
aberto, para moldar uma humanidade mais legalista, mais madura, mais céptica”[949], vendo nela um
instrumento “iluminado” de emancipação individual. Mas já Simmel falara da
presença do efémero e do forte sentimento de presente que a moda acarreta. Ela
está, afinal, indissociavelmente ligada ao espírito do tempo, traduzindo a “«impaciência» específica da vida moderna”[950] e a perda de
terreno das “grandes convicções duráveis”[951] e exprimindo a “atracção formal inerente à fronteira, ao
começo e ao fim, ao vai‑e‑vem”[952]. Mas se não exclui
ninguém, na medida em que se define mais pelo desejo de possuir, do que pela
propriedade, a moda marca distâncias e torna‑as mensuráveis. Se assim não
fosse, se a moda se alargasse infinitamente, deixaria de o ser. De certa
maneira, a moda são os outros, os diferentes. O gosto é sempre um produto
relacional.
Na Praia
da Luz essas distâncias são visíveis na forma de ocupação do espaço e de
apresentação em cena. Há códigos simbólicos que manifestamente não estão
generalizados e seguem as leis da escassez, valorizando‑se. São
relativamente poucos os indivíduos que conseguem fazer da sua aparência uma
obra de arte. É difícil, no entanto, fazer juízos automáticos sobre a pertença
de classe dos portadores de um determinado estilo de apresentação (e
representação). Não só porque os símbolos envolvidos na construção de uma
imagem tendem a complexificar‑se, como aumenta a gama de combinações e de
escolhas possíveis. Dito de outra forma, o habitus
tende a tornar‑se mais plástico, reflectindo mediações subtis entre as
condições objectivas de existência, as disposições incorporadas (hexis) e os esquemas simbólicos e
valorativos (ethos) de percepção e
classificação da realidade. Se é verdade que Bourdieu refere a singularidade de
cada habitus e a sua capacidade
estratégica de improvisação e criatividade (e, por conseguinte, de abertura à
mudança), não deixa de o enquadrar num sistema orquestrado e unificado das
práticas sociais. Realça, por isso, o carácter duradouro e irreversível das
disposições inconscientes, extremamente dependentes das suas “condições primitivas de aquisição” que,
por isso, se tornam uma “quase‑natureza”,
fisicamente inscritas — incorporadas[953]. No entanto, o
conceito acaba por se revelar demasiado estático e inoperante aquando de
situações ou conjunturas de aceleração do ritmo de mudança social e de
permeabilidade face ao novo. Os usos sociais da moda e a
complexificação/multiplicação dos estilos de vida fazem parte desta tendência de
velocidade de circulação que se associa, nas nossas sociedades, ao valor de
signo das mercadorias e ao seu curto prazo de validade. Impõe‑se, por
isso, tornar mais plástico o conceito de habitus
inserindo‑o numa “perspectiva
processual”[954], aberto à permanência dos processos de socialização e
à pluralidade de quadros de interacção e de grupos de referência com quais os
agentes se identificam.
Mas a
realidade não cessa de existir e impele‑nos a desmistificar a ilusão de
uma vitória da estética, do lúdico e da estilização da vida sobre as
segmentações e hierarquias do espaço social. O fundamental é saber que modos de
vida estas modas exprimem. Voltaremos adiante a esta questão crucial.
3.1.2. B Flat — Ecletismo,
mas...
No B
Flat, por seu lado, apesar de uma maior variedade etária, destaca‑se o
predomínio dos adultos com idade entre os 30 e os 40 anos. Os adolescentes,
aliás, estão praticamente ausentes. Em algumas noites, no entanto, a presença
de jovens adultos é significativa. Os grupos tendem a ser etariamente
homogéneos. A indumentária é bastante informal (jeans, t shirts, pólos),
com excepção de alguns grupos onde se realçam da parte masculina o uso de
gravata e da parte feminina um estilo “clássico” (saia e casaco, por exemplo).
Estes grupos são quase sempre mais idosos. Serão estas diferenças resultado de
uma representação diferenciada sobre os usos sociais da “cultura de saídas”,
entendida por alguns como um acto banal e por outros como uma ocasião especial
e de “cerimónia” (ou seja, ritualizada)?
Não existe,
no entanto, como em certos grupos da Praia da Luz, um investimento extremamente
visível nos modos de apresentação. De certa maneira, este menor investimento na
imagem acaba por criar a impressão de uma maior homogeneização. A estilização
da vida quotidiana não é aqui um traço dominante. O que não significa que as
pessoas não se apresentem à moda. Como Simmel refere, por vezes a moda pode
conferir a impressão de que as pessoas “estão
de uniforme”[955]. Tal pode
acontecer, paradoxalmente, por uma necessidade de preservar a liberdade
interior. Nesses casos, a observância à moda surge como refúgio: “a obediência cega às normas da
generalidade, em tudo o que é exterior, representa para eles o meio consciente
e deliberado de reservar o seu sentimento pessoal e o seu gosto”[956].
O
espaço, na sua aparência de “cave” e na sua horizontalidade favorece muitíssimo
a apreensão de um sentimento de informalidade. Por outro lado, a grande
proximidade face ao “palco” (que apenas se distingue por lá estarem os artistas
e os instrumentos) impele a uma maior concentração no espectáculo. A oferta
cultural é também elucidativa. Atente‑se nos seguintes “retratos”:
Noite de 24 de Abril de 1997. Programa
dedicado à comemoração da revolução. Repertório alusivo à canção de
intervenção, recriada com arranjos jazzísticos. Sala decorada com posters da
bandeira nacional, numa parede, e quadros de pintura abstracta, noutra. Em
pontos estratégicos, quatro grandes fotografias: uma multidão em manifestação,
retratos de José Afonso, Sérgio Godinho e Adriano Correia de Oliveira. Ouvem‑se
palmas quando soam os primeiros acordes de “A
Pedra Filosofal”. A partir da uma da madrugada a sala começa a esvaziar‑se.
Setembro de 1997. Actuam Fernando Tarrés e o
seu grupo. Na sala exibe‑se uma colecção de pinturas, estilo banda
desenhada, com colagens de papel de jornal e grandes incrições: “If love be rough with you, be rough with
love”. O quadro retrata dois polícias a arrancarem uma flor do cabelo de um
jovem.
A apresentação dos músicos é feita pelos
próprios, em espanhol. Anunciam uma homenagem a Astor Piazzolla, a alguns
compositores brasileiros e a Pablo Picasso.
A
informalidade é a nota dominante, quer na apresentação dos músicos
(extremamente sóbria, quase descuidada), quer na sua postura durante o espectáculo
(por exemplo, bebendo cerveja no intervalo entre cada composição).
Como se
depreende por estes dois breves “retratos” o tipo de espectáculos apresentados
no B Flat revelam a preocupação de, dentro dos limites do jazz, propiciar uma mistura de géneros e lançar pontes em direcção
a outras formas de expressão. No entanto, o repertório não deixa de impor
limites dentro dos quais se recrutam os públicos. Não só algumas das menções
implicam a acumulação de referências históricas e políticas (que afastam,
eventualmente, os públicos adolescentes), como favorecem uma recepção mais
intelectualizada (e por isso menos dispersa pela forma, pelo “invólucro”, pela
apresentação), embora dentro de universos culturais modernos (a exposição de
pintura abstracta, as referências a Picasso ou Piazzolla).
3.1.3. Rivoli
Se
atentarmos no quadro XLIII,
respeitante à distribuição etária por espaços internos do Rivoli (e respectivos
espectáculos), constatamos que o público adolescente se concentra de forma
nítida no café concerto (48%),
enquanto que os inquiridos mais idosos frequentam preferencialmente o grande
auditório (69.3%).
Quadro XLIII - Sub-espaços do Rivoli por escalões etários
|
Escalões Etários |
|||
|
Rivoli – Espaços Internos |
Até 20 N=48 (17,0%) |
21‑30 N=126 (44,7%) |
31‑40 N=46 (16,3%) |
Mais de 40 N=62 (22,0%) |
|
Grande Auditório N=134 (47,5%) |
31,3 |
47,6 |
37,0 |
67,7 |
|
Pequeno Auditório N=44 (15,6%) |
20,8 |
14,3 |
21.7 |
9,7 |
|
Café Concerto N=104 (36,9%) |
47,9 |
38,1 |
41,3 |
22,6 |
Tal não
admira se atendermos à estrutura da oferta de cada um dos subespaços. No grande
auditório predominam os espectáculos que se enquadram na “cultura erudita”,
enquanto que, ao nível do café concerto, embora existam algumas produções de
difícil classificação, dado o seu carácter iconoclasta (caso dos Repórter Estrábico), certamente que
nenhum repertório caberia nessa categoria. Mas existe igualmente um “efeito espaço” que não podemos
negligenciar. Enquanto que o grande auditório, apesar da des‑sacralização
patente na sua remodelação, responde a objectivos de representação simbólica e
de prestígio, o café concerto caracteriza‑se pela sua informalidade
(patente na distribuição das pessoas por mesas, na grande proximidade face ao
pequeno palco, na sensação de horizontalidade que predomina, no garrido das cores
das paredes junto às janelas, a lembrar peças multicolores de um puzzle gigantesco). A estrutura de
interacção que se desenrola nestes cenários não é independente da sua
configuração. Giddens é um dos autores que mais tem insistido nesta questão, ao
enfatizar que “os agentes movem‑se
em contextos físicos cujas propriedades interagem com as suas competências
(...) ao mesmo tempo que os agentes interagem entre si”[957]. Assim, torna‑se
importante compreender que o espaço não é neutro, embora os seus constrangimentos
e/ou recursos não sejam indissociáveis dos projectos dos agentes na construção
diária da realidade. Desta forma, através do espaço‑tempo os padrões
institucionalizados de comportamento ligam‑se às micro‑situações de
interacção quotidiana.
Alguns
“retratos”, no entanto, ilustrarão melhor o que se pretende demonstrar:
Segunda noite de estreia do novo Rivoli[958]. Concerto pela novel Orquestra Nacional do Porto.
Sala apinhada de gente. Respira‑se a solenidade de uma grande ocasião. O
espaço de entrada contíguo ao grande auditório está impecável: tons claros e
suaves nas paredes e colunas, chão de mármore ou alcatifado, assistentes de
sala cuidadosa e uniformemente vestidos por uma marca consagrada. Por todo o
lado, o brio na indumentária salta à vista. No entanto, não há uma grande
variedade estilística, como acontecia na Praia da Luz. Os cânones são aqui mais
restritos, certamente porque o grau de formalidade e de ritualização é
superior. Quase não há homens sem gravata. As mulheres ostentam vestidos de
cerimónia. Algumas trazem casaco de pele. Contam‑se pelos dedos as calças
de ganga. Há poucos jovens, e os que estão presentes não se distinguem, dada a
sensação de selecta uniformidade.
Café concerto. Espectáculo com os Mind da Gap, um grupo emergente de hip‑hop, constituído por quatro
rapazes de média etária que pouco deve ultrapassar os vinte anos. Movimentam‑se
ao som da música, de forma sincopada. Vestem calças larguíssimas, apresentam a
barba por fazer, dois deles usam boné com a pala virada ao contrário, o
vocalista canta tapando o nariz com o dedo, de maneira a conseguir um certo
efeito vocal. Alguns versos das suas canções denotam uma certa agressividade
agonística:
“O inimigo foi vencido/chegou a hora da sua morte”
“Quem sobrevive é o mais forte/não serei vencido/nem
depois da morte”
“Rap duro como o aço”
Outros uma ética de
diversão:
“Dêem‑me aquela garrafa de absinto”
“Toda a gente vai ficar a curtir”
“Agora que te encontrei estou super‑contente”
“Põe a ganga na mortalha”
Outros ainda um sentimento
iconoclasta, provocatório e anti‑sistema:
“São fachadas as figuras/do ministro e presidente”
“Governo e corrupção/arrogância e
ignorância/dinheiro e poder”
“Têm mais merda na cabeça/do que a fralda de um
bébé”
“Quem não se sentir bem/faça‑me um favor e
saia”
Há também referências a uma
certa desorientação normativa:
“O pensamento é a minha droga/a droga é o meu
pensamento” (refrão)
“Andei perdido/confundido/completamente à toa”
Mas existem versos de
afirmação de “autenticidade” e de livre‑arbítrio:
“Somos nós, somos nós/não copiamos ninguém”
“Quem
me dera que o mundo fosse como eu queria/mas a vida é madrasta/já há muito se
dizia/o mundo é teu, meu/encontremos a solução/luta sempre/o destino está na
tua mão” (refrão)
A assistência é bastante jovem, rondando a
média etária dos artistas, notando‑se poucos adolescentes. Há também
algumas pessoas que aparentam ter à volta de trinta anos. A indumentária é
claramente informal. No entanto, há quem se apresente de forma extremamente
trabalhada, ainda que simulando uma postura négligé.
Nota‑se com particular visibilidade a presença de uma “tribo” juvenil: os
rapazes caracterizam‑se pelos seus longos cabelos e boné vestido com a
pala ao contrário. Eles e elas usam brincos, muitos deles no nariz e nas
sobrancelhas.
Café concerto. Espectáculo com os Repórter Estrábico. O vocalista inicia o
concerto com um grito: “Free me!”. A
actuação é acompanhada pela projecção de slides. O vocalista é simultaneamente
um actor. A sua apresentação é uma paródia de certos tipos sociais: veste um
fato de treino com um telemóvel à cintura e uma camisa de alças branca.
Um dos slides (com a legenda: “Tiburones vivos”) é alusivo a cartazes
de um circo espanhol, mostrando tubarões de boca aberta e dentes afiados. Outro
diapositivo mostra um crânio a ser aberto como uma lata de conservas. O
vocalista pergunta: “O que seríamos nós
sem ela? Uma palavra vale por mil imagens, uma imagem por mil palavras”.
Novo slide, desta feita com o símbolo da Expo
98. O vocalista intervém com sarcasmo: “Faltam
767 dias para o ano 2000. Para 98 eles que façam as contas”.
Aparece uma imagem do galo de Barcelos. O
vocalista vai mostrando cartões com inscrições em inglês (“Tall”/”Clean”/”Bright”/”Very Tipical”). Sucedem‑se slides
com palavras ou interjeições (“Baby”/”hum”).
As provocações e as analogias com outros símbolos são evidentes: num slide com
as inscrições “Com Some” as letras
imitam o ícone da Coca Cola. Num dos últimos slides surge um telemóvel. O
vocalista aproveita a ocasião e coloca o telemóvel a tocar junto ao microfone.
Torna‑se
notória a existência de um certo grau de homologia entre a oferta cultural
destes subespaços e o perfil etário dos públicos. No caso do grande auditório a
aproximação à cultura consagrada e ao seu aparato simbólico é evidente (apesar
de haver alguns laivos de ecletismo, com a apresentação de cantores como Sérgio
Godinho). Não admira, por isso, que a média etária do público seja superior e
que os modos de apresentação traduzam uma postura adequada, traduzida pela sua
formalidade e sofisticação dentro de cânones estéticos relativamente rígidos de
distinção social (embora essa distinção se atenue num contexto de grande
homogeneidade, própria do convívio entre pares). O ambiente revela, então, uma
selectividade onde as contradições aparecem mirificamente resolvidas. Não há
grande lugar para o diferente. Os corpos respiram poder.
No café
concerto, apesar de grandes variações nos perfis de públicos consoante os
espectáculos, o panorama geral é outro. Os universos culturais dominantes
situam‑se claramente no pólo moderno, por vezes mesmo não consagrado.
Exigem uma certa actualização cultural que favorece claramente os públicos mais
jovens. Por outro lado, joga com a provocação, o iconoclasmo e a cumplicidade
(o “piscar de olhos”) do receptor (desenvolveremos mais adiante esta dimensão).
A maior parte dos artistas situa‑se à margem das grandes organizações de
produção e distribuição. Podemos situá‑los no âmbito do que Diana Crane
apelidou de urban culture ou urban core: “cultura urbana produzida e disseminada em cenários urbano para
audiências locais”[959], fazendo apelo a
audiências relativamente pequenas. Por vezes podem ser considerados como o
equivalente pós‑moderno das vanguardas. Diana Crane refere
características que se enquadram perfeitamente na análise feita ao espectáculo
dos Repórter Estrábico: provocações
intencionais à audiência, diluição das fronteiras entre arte e vida quotidiana,
justaposição de objectos e comportamentos díspares. Acrescentaríamos ainda a
importação/descontextualização/reciclagem de imagens‑símbolo, o
permanente jogo de “fronteira” entre a crítica social e o puro gozo narcísico;
entre o suporte auditivo e o suporte visual (onde se encaixa a própria imagem e
apresentação dos artistas), bem como o sentimento de efémero, próprio da performance e do happening. Note‑se igualmente, no caso dos Mind da Gap, a apropriação do vernáculo.
Todas
estas características, correlativas de uma crescente fragmentação em subgéneros
artísticos (produtos de fronteira e
de cruzamentos vários) estimulam a tendência, optimizada pelos grupos juvenis,
de diferenciação em estilos de vida e práticas quotidianas. Por isso, a moda é
para eles uma forma privilegiada de auto‑expressão, embora sem perder as
suas funções de regulação/controle social e de manifestação de distâncias
várias.
3.2. Espaço, competências e modelos simbólicos
dos públicos.
Se
observarmos agora o quadro XLIV referente
ao cruzamento entre o espaço e o capital escolar dos inquiridos, concluímos
que, sob este ponto de vista, existe uma assinalável homogeneidade entre os
vários espaços estudados. De facto, estes caracterizam‑se por uma
fortíssima sobrerepresentação de indivíduos com um alto capital escolar e por
uma consequente subrepresentação dos inquiridos em que esse capital é baixo[960]. Estamos em
presença, por isso, de públicos restritos, na maior parte dos casos “herdeiros”
de uma posição privilegiada, já que 41.9%
dos inquiridos são oriundos de um agregado familiar em que o capital é
igualmente elevado (por isso incluídos na categoria “alto capital escolar
tradicional”), com especial destaque para a Praia da Luz, onde predominam de
forma clara (62.0%) as situações de
reprodução social.
Quadro XLIV - Trajectória escolar por espaço
|
Espaço |
||
|
Trajectória Escolar |
B Flat N=122 (27,6%) |
Praia da Luz N=79 (17,9) |
Rivoli N=241 (54,5%) |
|
Baixo Capital Escolar Tradicional (=) N=9 (2,0%) |
0,8 |
1,3 |
2,9 |
|
Médio Capital Escolar Tradicional (=) N=30 (6,8%) |
5,7 |
12,7 |
5,4 |
|
Alto Capital Escolar Tradicional (=) N=185 (41,9%) |
41,8 |
48,1 |
39,8 |
|
Baixo Capital Escolar Moderno (‑) N=2 (0,5%) |
|
1,3 |
0,4 |
|
Médio Capital Escolar Moderno (‑) N=27 (6,1%) |
4,1 |
7,6 |
6,6 |
|
Médio Capital Escolar Moderno (+) N=23 (5,2%) |
3,3 |
8,9 |
5,0 |
|
Alto Capital Escolar Moderno (+) N=110 (24,9%) |
32,0 |
13,9 |
24,9 |
|
Alto Capital Escolar Moderno (+) N=56 (12,7%) |
12,3 |
6,3 |
14,9 |
(=)Situações de reprodução
(‑) Situações de mobilidade decrescente
(+) Situações de mobilidade ascendente
Nos
outros espaços o peso relativo dos indivíduos com “alto capital escolar moderno”
é significativo (B Flat: 44.3%;
Rivoli: 39.8%). No Rivoli, aliás,
“alto capital escolar moderno” e “tradicional”, equivalem‑se. Por outras
palavras, na Praia da Luz os inquiridos com um alto capital escolar constituem
uma elite tradicional, adquirindo particular importância as formas de
transmissão do privilégio. Nos restantes espaços tais inquiridos dividem‑se,
também, de forma quase igual (B Flat) ou mesmo equitativa (Rivoli) por uma
elite emergente. Não são de negligenciar, por isso, as trajectórias de
mobilidade ascendente (Anexo V/Quadro
XII), como adiante teremos ocasião de comprovar, o que, à partida, invalida
a possibilidade de estarmos em presença do mesmo grupo de status, para utilizar a terminologia weberiana, com
reflexos na diversificação dos universos culturais e dos estilos de vida.
Importa,
além disso, realçar algumas especificidades. O B Flat é claramente o espaço
mais selectivo, o que, aliás, corrobora outros trabalhos, nacionais e
estrangeiros, sobre o perfil do público de jazz[961]. A este respeito
convém realçar que o jazz conta com
uma divulgação muito mais restrita do que a música clássica. João Sedas Nunes
fala mesmo, a respeito desta última, de uma relativa
dessacralização, assente não apenas na difusão discográfica (de que o jazz também usufrui), mas igualmente na
penetração na vida quotidiana, enquanto pano de fundo de publicidade, genéricos
televisivos, programas de divulgação e bandas sonoras[962]. Por outro lado,
quanto mais um género se revela selectivo, maior será a tendência de a participação
do público adquirir um carácter distintivo, reforçando o seu fechamento[963].
A Praia
da Luz revela um relativo empolamento dos inquiridos com médio capital escolar,
mas isso deve‑se, antes de mais, ao peso dos estudantes adolescentes, que
ainda não completaram o seu percurso escolar. De qualquer forma, o seu público
é igualmente um círculo restrito, tanto mais que a trajectória virtual desses
estudantes virá reforçar ainda mais o peso dos inquiridos com um alto capital
escolar.
O Rivoli
é dos três espaços o que revela um maior ecletismo, embora mantenha as
características dos restantes. Tal facto poderá estar associado à diversidade
interna desta instituição (em termos da organização dos subespaços e da
estruturação da oferta).
Atentemos
agora nos padrões de gosto dominantes. De acordo com o quadro XLV, o público do espaço Rivoli é o que mais se identifica
com o espaço da cultura sobrelegitimada, seguindo‑se o B Flat e, por
último, a Praia da Luz.
Quadro XLV - Frequência do espaço semi-público por lugar estudado
|
Espaço |
||||
|
Espaço Semi‑Público |
B Flat N=139 (28,3%) |
Praia da Luz N=80 (16,3%) |
Rivoli N=272 (55,4%) |
|
|
|
Frequentemente N=18 (3,7%) |
3,6 |
2,5 |
4,0 |
|
|
|
Com Alguma Frequência N=130 (26,5%) |
21,6 |
17,5 |
31,6 |
|
|
|
Raramente/Nunca N=343 (69,9%) |
74,8 |
80,0 |
64,3 |
|
|
No
entanto, o dado mais importante a realçar centra‑se no facto da
esmagadora maioria dos inquiridos ter uma baixíssima frequência desta esfera, o
que vem comprovar outros estudos nacionais e locais. Por outras palavras, apenas uma pequena elite dentro da elite
revela um grau médio ou alto de participação nas práticas da cultura cultivada.
O que nos conduz a uma situação de homologia
imperfeita que contradiz em parte as teses de Bourdieu. Ou seja, mesmo
sendo verdade que a adesão à cultura sobrelegitimada se associa positivamente a
um alto capital escolar, apenas uma pequena parte dos públicos privilegiados
que possuem esse alto capital adere ao gosto
legítimo, o que significa, necessariamente, uma heterogénea dispersão pelo
restantes universos de gosto (“médio”
e “popular”).
No
entanto, esta ausência de identificação com a cultura sobrelegitimada atenua‑se
se somente considerarmos a adesão às práticas receptivas e informativas de
públicos cultivados (Quadro XLVI).
De facto, os inquiridos que raramente ou mesmo nunca frequentam estas
actividades sofrem uma redução significativa. De qualquer forma, mantém‑se
a mesma distância relativa entre cada espaço: os públicos do Rivoli são os que
mais frequentemente aderem a estas práticas. Segue‑se o B Flat e em último
a Praia da Luz, com 75.3% dos
inquiridos a declararem o seu afastamento.
Quadro
XLVI - Frequência de práticas receptivas e informativas de públicos cultivados
por espaço
|
Espaço |
||||
|
Práticas Receptivas e Informativas de Públicos Cultivados |
B Flat N=142 (28,3%) |
Praia da Luz N=81 (16,2%) |
Rivoli N=278 (55,5%) |
|
|
|
Frequentemente N=48 (9,6%) |
5,6 |
4,9 |
12,9 |
|
|
|
Com Alguma Frequência N=189 (37,7%) |
35,2 |
19,8 |
44,2 |
|
|
|
Raramente/Nunca N=264 (52,7%) |
59,2 |
75,3 |
42,8 |
|
|
É
curioso analisar a comparação entre o Rivoli e o B Flat. O primeiro, apesar da
polivalência em termos de oferta cultural que se orgulha em assumir, está mais
fortemente ligado à cultura erudita. O que não é de admirar, já que a maior
parte dos espectáculos se pode incluir nesta esfera (a diversidade existe, mas
a identidade do espaço afirma‑se preferencialmente através da adesão à
cultura consagrada). Por outro lado, a distância dos públicos do B Flat em
relação à cultura sobrelegitimada pode‑se eventualmente interpretar como
indicador de uma concentração mais exclusiva no jazz sem trânsito assinalável para outros géneros musicais ou
diferentes formas de expressão artística “nobre”. Sinal de uma maior
coerência/homogeneidade de gostos?
O Quadro XLVII referente ao grau de
identificação com os autores musicais classificados como consagrados clássicos
mostra idêntica orientação: a média e alta identificação é maioritária entre os
inquiridos que frequentam o Rivoli e minoritária nos restantes espaços, com
especial ênfase na Praia da Luz o que, uma vez mais, pode ser associado como
traço de especificidade de uma cultura juvenil predominante neste espaço.
Inversamente, a média e alta identificação com os “consagrados modernos” apenas
é superior a 50% na Praia da Luz (Anexo
V/Quadro XIII), enquanto que a rejeição dos “não consagrados” é transversal
aos vários espaços (Anexo /Quadro XIV).
Quadro
XLVII - Grau de identificação com os compositores "consagrados
clássicos" por espaço
|
Espaço |
||||
|
Música – Consagrados Clássicos |
B Flat N=103 (26,2%) |
Praia da Luz N=63 (16,0%) |
Rivoli N=227 (57,8%) |
|
|
|
Nulo Grau de Identificação N=53 (13,5%) |
8,7 |
28,6 |
11,5 |
|
|
|
Baixo Grau de Identificação N=156 (39,7%) |
41,7 |
46,0 |
37,0 |
|
|
|
Médio Grau de Identificação N=84 (21,4%) |
24,3 |
20,6 |
20,3 |
|
|
|
Alto Grau de Identificação N=100 (25,4%) |
25,2 |
4,8 |
31,3 |
|
|
É curioso constatar que esse perfil juvenil
(internamente multifacetado) encontra uma grande correspondência na descrição
que Bourdieu faz dos “novos intelectuais”,
designadamente quando o autor francês acentua o “repertório de «recursos» da anti‑cultura adolescente” ou o
seu “humor anti‑institucional”
avesso a hierarquias e a todas as formas de classificação[964]. Se considerarmos,
como Featherstone, que os estilos de vida dos “novos intermediários culturais” se generalizaram[965], ou ainda, no
seguimento de Inglehart, que os valores das primeiras gerações pós‑materialistas
(que terão surgido na década de 70 nos países ocidentais mais desenvolvidos) se
tornaram dominantes[966], poderemos
compreender melhor a similitude entre o conteúdo da actual tipicidade juvenil e
a “nova pequena burguesia”. Tendo em
conta o papel dominante que exercem ao nível da produção e difusão de
informação (designadamente ao nível de um controle das posições‑chave nas
indústrias culturais e nos mass media)[967] parece credível que
surjam como os intermediários culturais por excelência da contemporaneidade[968], simbolizando nos
seus valores e estilos de vida o espírito do tempo.
Uma das
características desses novos estilos de vida, anteriormente referida em várias
ocasiões, é a informalização dos padrões de consumo e das relações sociais,
marcada pela diluição e flexibilização (para muitos indicador de anomia) de
regras outrora precisas, rígidas e consistentes[969]. A adesão à
categoria que apelidamos de “práticas expressivas semi‑públicas”,
fortemente propiciadoras de redes de sociabilidade em contextos de interacção,
constitui, em nossa opinião, um sinal de inserção nessa orientação normativa
mais vasta.
Ora, de
acordo com o quadro XLVIII, é de
novo a Praia da Luz o espaço onde os inquiridos mais aderem a esse conjunto de
práticas. Aliás, a própria frequência do lugar constitui uma actividade
passível de ser enquadrada na referida categoria. É por aí, aliás, que passa,
como já referimos, a sua identidade específica.
Quadro XLVIII - Frequência de práticas expressivas semi-públicas por
espaço
|
Espaço |
||||
|
Práticas Expressivas Semi‑Públicas |
B Flat N=135 (27,7%) |
Praia da Luz N=78 (16,0%) |
Rivoli N=274 (56,3%) |
|
|
|
Frequentemente N=43 (8,8%) |
8,1 |
20,5 |
5,8 |
|
|
|
Com Alguma Frequência N=324 (66,5%) |
75,6 |
66,7 |
62,0 |
|
|
|
Raramente/Nunca N=120 (24,6%) |
16,3 |
12,8 |
32,1 |
|
|
No
entanto, convém referir que, no que se refere ao cinema e à literatura, as
clivagens são muito menos significativas. Vejamos o caso do cinema (Anexo V/Quadros XV, XVI e XVII). É
patente a diluição dos pólos “clássico” e “moderno” no que concerne aos filmes
“consagrados”. De facto, o grau de identificação é, para ambos os casos,
baixíssimo. Mesmo o eixo “consagrado”/”não consagrado” afigura‑se pouco
discriminativo : apenas se verifica
uma maior adesão (dentro de índices globalmente muito baixos) por parte dos
inquiridos da Praia da Luz.
Quanto à
literatura (Anexo V/Quadros XVIII, XIX e
XX) os praticantes culturais revelam‑se mais competentes: diminuem os
índices de reduzida identificação e a resposta modal centra‑se no médio
grau de identificação embora não se registem, uma vez mais, diferenças
significativas (exceptuando uma proximidade ligeiramente superior por parte dos
inquiridos da Praia da Luz no que concerne aos autores “consagrados modernos”).
O melhor indicador da posse de uma competência cultural legítima encontra‑se
na clara rejeição, amplamente partilhada, dos autores “não consagrados”. Em
suma, a literatura surge como a prática mais distintiva (identificação
generalizada com o pólo consagrado), traduzindo, eventualmente, a “nobreza cultural” de quem possui um
elevado capital cultural. Na música, não deixando de se registar um
distanciamento face aos nomes não consagrados, verifica‑se uma clivagem
“clássicos/modernos”. Para além de se ligar à identidade específica de cada
espaço e da sua programação cultural, adiantámos a hipótese de se articular,
igualmente, com a composição etária dos diferentes públicos. No caso do cinema,
a inexistência de qualquer eixo de diferenciação (consagração/não consagração e
clássicos/modernos) pode estar relacionado com o seu estatuto menos
prestigiante de “arte média”.
Ao
observarmos agora a prática de leitura de livros (quadro XLIX) verificamos que ela é, no geral, relativamente elevada
já que apenas uma minoria (apenas ultrapassando os 20% na Praia da Luz)[970] declara não ler. Em
relação a um estudo de âmbito nacional sobre hábitos de leitura, é visível a
sobrepresentação na nossa amostra dos inquiridos que afirmam ler frequentemente
ou com alguma frequência, o que sem dúvida estará articulado com o elevado
volume global de capital escolar da amostra[971].
Quadro XLIX - Frequência de leitura de livros por espaço
|
Espaço |
||||
|
Ler Livros |
B Flat N=143 (26,9%) |
Praia da Luz N=95 (17,9%) |
Rivoli N=294 (55,2%) |
|
|
|
Frequentemente N=217 (40,8%) |
39,2 |
25,3 |
46,6 |
|
|
|
Com Alguma Frequência N=229 (43,0%) |
45,5 |
47,4 |
40,5 |
|
|
|
Raramente/Nunca N=86 (16,2%) |
15,4 |
27,4 |
12,9 |
|
|
Há no
entanto um aspecto dissonante face ao estudo de âmbito nacional. Os inquiridos
da Praia da Luz são quem lê menos. Ora, na referida investigação detecta‑se
que a leitura de livros é inversamente proporcional à idade. Por outras
palavras, quanto mais jovem se é, mais se lê (apesar de um ligeiro recuo nas
classes etárias menos elevadas face a idêntico inquérito de 1988[972]). Necessitaríamos
de ter aprofundado esta dimensão no inquérito para podermos construir uma
interpretação fundamentada. De qualquer forma ela consolida ainda mais o perfil
que temos vindo a traçar sobre o universo simbólico dos inquiridos da Praia da
Luz, nomeadamente no que diz respeito a um afastamento dos mecanismos de
educação e consagração cultural tradicionais, maxime a escola. Olivier Donnat fala de uma “transformação dos actos de leitura”[973] que privilegia não
só suportes alternativos fora da esfera da leitura, nomeadamente o audiovisual
e a microinformática (“o lugar cada vez
maior que ocupa o audiovisual na formação dos saberes e das representações do
mundo induz maneiras de ver, de raciocinar e sentir diferentes; é provável que
favoreça o desenvolvimento de faculdades específicas que as «gerações‑TV»
utilizam em cada uma das suas actividades”[974]) mas igualmente o
recuo do livro face à imprensa escrita (livros, revistas, etc.), correlativo de
um dissipar de fronteiras entre as “boas” e “más” leituras. O próprio livro, ao
divulgar‑se e banalizar‑se, “deslegitima‑se”,
perdendo o seu cariz de prática distintiva. Esta última hipótese explicativa
não nos parece porém aplicável ao
caso português, marcado por altíssimos níveis de iliteracia e por níveis de
escolaridade globais ainda bastante afastados da média europeia.
Existirá,
junto dos públicos da Praia da Luz, uma concepção que tende a ver o livro como
símbolo do passado e da tradição, já que este sofre “um défice de imagem junto daqueles que são os mais sensíveis aos
valores da juventude ou à imagem de modernidade veiculada pela economia
mediático‑publicitária”[975]. Esta hipótese
interpretativa parece‑nos plausível e aplica‑se aos principais
eixos de caracterização do universo simbólico dos utentes desse espaço.
3.3. Breve Síntese.
Em suma,
podemos delinear da seguinte forma o perfil distintivo de cada um dos espaços
em análise (apesar de características transversais, como a acentuada
juvenilização dos seus públicos e uma alto nível de credenciação escolar):
A) Praia da Luz: constitui, a par do café‑concerto
do Rivoli, um espaço marcado pela informalização das relações sociais e da
estilização dos modos de apresentação. Tornam‑se especialmente visíveis
certos grupos (não só pela disposição cénica do espaço, como pelo cariz
restrito dessas “tribos”) que investem fortemente numa indumentária pouco
comum, explorando as suas potencialidades distintivas. Existe uma clara
identificação destas fracções (diminutas) com a legitimação de franjas
emergentes do campo cultural e artístico (moda, design, publicidade, música alternativa) nas quais assenta a
programação do local.
Apesar de, a nível da composição social, se
estar em presença de grupos socialmente favorecidos, como de resto sugere o
significativo peso relativo do “alto capital escolar tradicional”, podendo
mesmo falar‑se de um certo fechamento social, não é automático que esse
grupos de apresentação estilizada construam a sua fachada simbólica em termos
rigidamente classistas. Eventualmente tal disposição estará mais presente na
homogeneidade do estilo “desportivo/informal elegante” que marca a imagem
global dos praticantes deste espaço. Já Simmel consagrava numa tipologia a
possibilidade de existência de “modas
pessoais”, mais efémeras mas igualmente potenciadoras da tensão entre o
desejo de distinção e a tendência mimética, neste caso exprimindo‑se pela
imitação de si através da “concentração da consciência nesta única
forma ou neste único conteúdo”[976].
No que
se refere às constelações de gosto, é de referir um maior afastamento face ao
pólo “clássico/patrimonial”, com prolongamento numa fraca adesão à cultura
cultivada, o que revelará uma orientação “moderna”, virada para canais e
conteúdos alternativos de consagração cultural, fenómeno que não deixa de ser
curioso tendo em conta o já referido grande peso do “alto capital escolar
tradicional”[977].
B) B Flat: Sendo o espaço mais
selectivo em termos de capital escolar tem, no entanto, um peso inferior de
“herdeiros” em relação à Praia da Luz, sendo permeável a franjas de público
cujo alto capital escolar resulta de uma trajectória ascendente (sendo por nós
classificado de “moderno”). Os modos de apresentação do seu público, sendo
informais, não deixam de obedecer aos cânones da moda, embora aparentemente sem
grande investimento simbólico, o que, aliás, é semelhante à forma como os
músicos surgem em cena.
O
universo de gostos dominante (e que constitui, por assim dizer, a identidade
específica do espaço) situa‑se a meio caminho entre o Rivoli e a Praia da
Luz (embora mais perto do teatro municipal), ocupando os públicos do primeiro
uma posição relativamente próxima do pólo cultivado, consagrado e clássico.
C) Rivoli: Dentro das limites das
características globais da amostra apresenta‑se como o espaço mais
eclético, tanto no que se refere à diversidade etária, como ainda à composição
social (tomando como indicadores o capital escolar de pertença e de origem). Na
sua programação misturam‑se, igualmente, referências clássicas e
consagradas com conteúdos iconoclastas e não legitimados pelo campo cultural
tradicional. Cada subespaço possui, assim, a sua clientela específica. No
entanto, a imagem mais ampla do Teatro Municipal associa‑se à identidade
do grande auditório, tendencialmente ligado à cultura consagrada clássica,
enquanto uma das principais salas de espectáculos da cidade, com toda a carga
simbólica que tal circunstância acarreta.
4. Capital escolar, trajectórias sociais e
práticas culturais.
4.1. Estrutura do capital
escolar: o peso da origem social e a correcção da trajectória.
Tivemos
anteriormente ocasião de realçar o facto de estarmos em presença de uma amostra
bastante seleccionada em termos de capital escolar. O Quadro L confirma‑nos essa mesma constatação.
Quadro L - Capital escolar de ego
|
Capital Escolar de Ego |
N |
% |
|
Baixo Capital Escolar |
30 |
5,9 |
|
Médio Capital Escolar |
109 |
27,2 |
|
Alto Capital Escolar |
372 |
72,8 |
No entanto, antes de tirarmos conclusões
apressadas sobre a pretensa homogeneidade de tal elite, convém analisarmos com
alguma minúcia a estrutura do capital escolar dos inquiridos, tendo em conta o
efeito de trajectória. Nesse sentido, inspiramo‑nos em Bourdieu quando
afirma: “a capital escolar equivalente,
as diferenças de origem social (cujos efeitos se exprimem já em diferenças de
capital escolar) estão associadas a disparidades importantes (...) O peso
relativo do capital escolar no sistema dos factores explicativos pode mesmo ser
mais fraco que o peso da origem social já que apenas se pede aos inquiridos que
exprimam uma familiaridade estatutária
com a cultura legítima ou em vias de legitimação, relação paradoxal, feita
dessa mistura de segurança e de ignorância (relativa) onde se afirmam os
verdadeiros direitos de burguesia, que se medem pela antiguidade”[978]. O autor francês
pretende por conseguinte distinguir entre duas estruturas diferentes de capital
escolar dentro das classes dominantes: uma marcada pela antiguidade e
exprimindo uma precoce e paulatina familiarização com a “cultura nobre”
(privilégio do verdadeiro “conhecedor”, capaz de se distanciar dos universos
escolares para demonstrar o seu “natural” à vontade[979]); outra mais
recente e dependente de uma “aprendizagem
institucional”, ou seja, escolar.
No
entanto, a tipologia que construímos[980], recolhe também
importantes contributos de Olivier Donnat, nomeadamente quando este distingue
entre universos culturais “clássicos” e “modernos”. De facto, nas últimas
décadas têm ocorrido, não só transformações significativas no campo da oferta,
como na composição dos públicos. No primeiro caso, ganha particular relevância
a emergência de novos critérios e instâncias de socialização ligadas à ascensão
da cultura audiovisual e das indústrias a que nenhum campo artístico escapa.
Donnat refere a necessidade dos artistas em gerirem “o equilíbrio instável entre dois registos, o do seu campo de pertença
e o da economia mediático‑publicitária (...) cada um deve procurar em
permanência conciliar estas duas temporalidades visto que a notoriedade
acumulada sobre o terreno mediático funciona como um capital susceptível de ser
convertido nos capitais específicos do domínio de origem (...) a grande maioria
dos artistas procuram hoje a estratégia ideal que permite acumular o máximo de
capital mediático sem perder a consideração do seu meio”[981]. No caso da procura
assiste‑se a uma forte recomposição social ligada a uma massificação
escolar (muito recente, embora extremamente visível no caso português) e à
consequente inflação e desvalorização dos diplomas. Ou seja, para alcançar uma
posição social privilegiada torna‑se necessário acumular cada vez mais
credenciais escolares. Por outro lado, em especial para as jovens gerações,
diversificam‑se as fontes de transmissão e aquisição de capital cultural,
quebrando o monopólio do duo família‑escola: os mass media, os grupos de pares e as redes de sociabilidade em geral
apresentam‑se como canais de difusão e produção de novas formas
culturais. Os aparelhos ideológicos (para utilizar a terminologia
althusseriana) apresentam‑se crescentemente de maneira difusa e informal,
penetrando com uma intensidade inaudita no próprio espaço privado. Assim, torna‑se
fundamental perceber se a estrutura do capital escolar é de índole “clássica”
(resultando de uma situação de reprodução da posição social de origem) ou
“moderna” (resultando de um processo recente de mobilidade social ascendente ou
descendente). Esta distinção permite, para além do que Bourdieu afirmou,
compreender situações de quebra de homologia, ou seja, situações em que a um
alto capital escolar não corresponde, necessariamente, uma inculcação das
predisposições da cultura “legítima” (ela própria em processo de
diversificação, dada a pluralidade de instâncias de consagração, muitas vezes
alternativas e/ou conflituosas). Tal tenderá a acontecer com os indivíduos
portadores de um alto capital escolar de cariz moderno, na medida em que, às
condições iniciais de transmissão e inculcação familiar de um certo volume de
capital cultural, se sobrepõem os comportamentos e aquisições cognitivas
posteriores mercê de um contacto mais prolongado com a escolaridade e, não
menos importante, com um outro modelo de escola[982], ameaçada no seu
monopólio de agência oficial de educação formal (e de aplicação da violência social legítima: uma violência
simbólica, dissimulada), sem as antigas condições de impor arbitrariamente o
seu arbítrio cultural, ou seja uma cultura particular apresentada como a única,
a universal, a legítima[983]. Estes indivíduos
tenderão a ver a cultura legítima tradicional, com as suas hierarquias e
sistemas de classificação, como uma das várias divisões da realidade possíveis,
aumentando a sua predisposição para o ecletismo e para o que Donnat apelida de universo cultivado moderno[984].
De
qualquer forma, as formas de incorporação
de capital cultural extra‑familiar tenderão a ser predominantes nas
situações em que o cariz “moderno” do capital escolar resulta de trajectórias
intergeracionais de mobilidade ascendente (correspondente aos inquiridos
com capital escolar “moderno” e alguns casos de médio capital escolar “moderno”[985]). É certo que
existirá uma tendência transversal (e de certo modo transclassista) ligada à
condição juvenil, pelo que já anteriormente foi explicado: o período formativo das novas gerações
coincide com a “explosão” da economia mediático‑publicitária e da cultura
audiovisual, com a correspondente superestrutura de valores dominante. Além do
mais, dada a clara juvenilidade da amostra, tal facto será ainda mais pesado. No entanto, estamos em crer que a um capital
escolar tradicional (resultante de uma lógica de reprodução social) corresponderão
universos culturais relativamente mais “clássicos”.
A centralidade do capital escolar nas
estratégias de mobilidade e reprodução social intergeracional da sociedade
portuguesa encontra‑se aliás eloquentemente demonstrada por estudo
recente: “...quanto mais se moderniza um
país semiperiférico, pelas lógicas de classe diferenciadas na relação com a
escola, maior será a impermeabilidade das qualificações, isto é, mais decisivo
será o facto de se possuir ou não um diploma escolar”[986].
Por
outro lado, numa sociedade como a nossa, em que se revelam elevadas taxas
brutas de mobilidade social intergeracional, aumenta, como de resto já
mencionámos, a necessidade de plasticizar o conceito de habitus e de homologia[987]. De facto, torna‑se
cada vez mais frequente a existência de descoincidências entre a origem e a
actual posição social, em grande parte devido a um maior investimento no
capital escolar. Desta forma, é mais difícil impor pela socialização familiar
um conjunto durável de disposições estéticas e de orientações normativas. Mesmo
a acção pedagógica escolar vê‑se confrontada com a escola paralela (cultura audiovisual) e com a renovada importância
das redes de sociabilidade.
Uma boa
parte destas considerações encontra tradução adequada no Quadro LI. Com efeito, verificamos que, globalmente, os níveis de
escolaridade do agregado familiar de origem são bastante mais baixos, apesar de
quase 50% dos agregados já possuírem um alto capital escolar, o que de alguma
forma dá conta da inércia da estrutura social.
Quadro LI - Capital escolar do agregado familiar
|
Capital Escolar do Agregado Familiar |
N |
% |
|
Baixo Capital Escolar |
90 |
19,9 |
|
Médio Capital Escolar |
151 |
33,3 |
|
Alto Capital Escolar |
212 |
46,8 |
De
qualquer forma, impõe‑se registar, quando observamos a situação de ego,
uma quebra de 2/3 no que respeita ao baixo capital escolar e um aumento
superior ao dobro no que toca aos inquiridos com alto capital escolar (?).
Assim, comparando o capital escolar com o efeito de trajectória, deparamos com
o Quadro LII.
Quadro LII — Trajectória
social com base no capital escolar
|
Ego |
||
Agregado Familiar |
Baixo |
Médio |
Alto |
|
Baixo |
Baixo capital
escolar tradicional (2%) |
Médio capital Escolar moderno (5.2%) |
Alto capital escolar moderno (12.7%) |
|
Médio |
Baixo capital escolar moderno (0.5%) |
Médio capital escolar tradicional (6.8%) |
Alto capital escolar moderno (24.9%) |
Alto |
Baixo capital escolar moderno (0.0%) |
Médio capital escolar moderno (6.1%) |
Alto capital escolar tradicional (41.9%) |
Aí é
marcante o peso do alto capital escolar, quer tradicional (situação de
reprodução social: 41.9%), quer
moderno (duas situações possíveis: uma de ascensão “brusca”, resultante do
cruzamento de um baixo capital escolar de origem com um alto capital escolar de
ego, contabilizando 12.7% e outra,
mais “suave”, fruto do cruzamento entre um médio capital escolar de origem e um
alto capital escolar de ego, com 24.9%).
Por
outro lado, é visível a tendência para a mobilidade ascendente ser muito
superior aos fluxos descendentes. Com efeito, enquanto que dos inquiridos com
baixo capital escolar apenas 0.5%
decaem em relação à situação familiar de origem, cujo capital escolar é médio, 17.8% ascendem a patamares mais
elevados. No que se refere aos inquiridos provenientes de um agregado familiar
com alto capital escolar, somente 6.1%
sofrem uma descida para o médio capital escolar e nenhum para o baixo capital
escolar. Esta constatação, de resto, encontra‑se bem patente no Quadro LIII, referente à situação na
trajectória.
Quadro LIII - Situação na trajectória de ego
|
Situação na Trajectória |
N |
% |
|
Trajectórias Ascendentes |
189 |
42,8 |
|
Situações de Reprodução |
224 |
50,7 |
|
Trajectórias Descendentes |
29 |
6,6 |
Assim,
nota‑se uma grande capacidade de retenção por parte das camadas mais
privilegiadas em capital escolar (a aposta nas qualificações escolares como
factor de reprodução social, o que é consentâneo com as teses de Bourdieu), ao
mesmo tempo que se verifica uma enorme porosidade por parte dos grupos com
médio e baixo capital escolar de origem para ascenderem a posições
privilegiadas, nalguns casos “saltando” mesmo patamares (passando, por exemplo,
de um baixo capital escolar de origem para um alto capital escolar de pertença,
situação que abrange 12.7% dos
inquiridos).
Podemos
pois afirmar que a nossa amostra se caracteriza por segmentos sociais
extremamente permeáveis ao movimento social, característica que, segundo Jean
Viard, é essencial para se compreenderem as novas formas de estruturação social
e os conflitos daí decorrentes. Com efeito, este autor considera que a grande
fractura social se estabelece em torno da mobilidade, dividindo os grupos
sociais “móveis” dos “imóveis”[988]. Importa, no
entanto, estabelecer duas ressalvas. A primeira prende‑se com a
influência desta mobilidade com base no capital escolar face à mobilidade
social global. Apesar da sua importância ser central na sociedade portuguesa,
como de resto tivemos ocasião de realçar, outros factores devem ser tidos em
conta. A teoria de Erik Olin Wright, por exemplo, confere igualmente relevo aos
recursos em meios de produção (propriedade) e aos recursos organizacionais
(autoridade)[989]. Outros autores
falam ainda da importância das redes de sociabilidade, que analisaremos
adiante. A segunda ressalva liga‑se à desvalorização dos títulos
escolares, também já referida. De facto, as expectativas em alcançar uma
determinada posição social adequada ao capital escolar obtido tornam‑se
cada vez mais difíceis de cumprir, dada a inflação dos títulos escolares, a par
de uma compressão do mercado de trabalho, em especial nos seus segmentos mais
qualificados. Assim, a circunstância de se deter um alto capital escolar não
implica, automaticamente, uma inserção privilegiada no mercado das categorias
sociais. Bourdieu refere ainda uma dimensão complementar a este fenómeno de
inflação dos diplomas: a perda de “qualidade
social” dos seus detentores. Por outras palavras, “um título que se torna mais frequente é por essa mesma razão
desvalorizado, mas ele perde ainda o seu valor ao tornar‑se acessível a
pessoas sem valor social”[990]. No entanto, o
autor francês reconhece que a massificação escolar e a democratização dos
patamares mais elevados do sistema de ensino modificaram a relação dos agentes
sociais com a cultura sem afectar, ainda assim, os mecanismos simbólicos da
distinção. Como é possível tal paradoxo? De acordo com Bourdieu, “a elevação do nível da procura determina
uma translação da estrutura dos gostos, estrutura hierárquica, que vai do mais
raro (...) ao menos raro”[991]. À medida que
certos bens ou práticas culturais se vão tornando comuns, as classes dominantes
accionam processos simbólicos de “reintrodução
da raridade abolida”, passando, muitas vezes, pela maneira, cada vez mais subtil, de os consumir ou frequentar,
marcando a sua diferença “natural”.
Da mesma forma funcionam as estratégias de “reconversão”
destinadas a manter as posições herdadas ou para reproduzir a relação anterior
entre o título escolar e o posto de trabalho (procurando, por exemplo, as
fileiras menos desvalorizadas do sistema de ensino). Muitas dessas estratégias
funcionam, de acordo com Bourdieu, através da manutenção de uma “representação antiga do valor do título que
favorece a hysteresis dos habitus”, facilitando, assim, com a cumplicidade
objectiva dos aparelhos de estado, a existência de situações subjectivas de
mistificação e negação da despromoção social (“hysteresis das categorias de percepção e de apreciação”[992]) e a reprodução
aparente da ancestral legitimidade.
No
entanto, perante as múltiplas rectificações feitas aos capitais escolares de
origem pelos movimentos de trajectória (que, só por si, contrariam o círculo
vicioso da reprodução social via escola) somos levados a pensar que haverá mais
do que uma alteração de superfície (mera translação, com manutenção das
distâncias relativas) na escolha e hierarquização dos gostos e práticas
culturais. Por outro lado, a objectivação e incorporação da relação entre o
título desvalorizado e o posto afigura‑se incontornável, dada a
generalização de tal situação (apesar da capacidade de resistência ser
socialmente diferenciada), tornando‑se elemento integrante das condições
de existência (“estrutura estruturante”,
segundo Bourdieu). Assim, haverá maior probabilidade de complementaridade e/ou
choque entre dimensões contraditórias das condições objectivas de existência
associadas a uma diversificação das vias e conteúdos de aprendizagem social e,
consequentemente, dos percursos de acesso a uma determinada posição na
estrutura social. Ou seja, as homologias
tenderão a ser menos rígidas e unívocas e aumentará a probabilidade de se
cruzarem níveis diferentes de legitimidade cultural. O habitus, princípio gerador das práticas, perde, por isso, poder de
unificação.
Podemos
evocar aqui o conceito de “pluralização
de mundos de vida” que Giddens importa de Berger e que o autor inglês
relaciona com a multiplicidade de “ambientes
de acção específicos” na ordem pós‑tradicional (menos sujeita ao peso
da tradição e da reprodução social)[993], cada vez mais “diversos e fragmentados”[994]. Algo semelhante
está presente na conceptualização de Berger e Luckmann quando referem que “cada papel abre uma entrada para um sector
específico do acervo total do conhecimento possuído pela sociedade”[995]. Com efeito, altos
níveis de mobilidade social (como é o caso da nossa amostra, em que pouco mais
de 50% das situações se reproduzem)
tenderão a aumentar o leque de práticas rotinizadas disponíveis, incluindo os
papéis sociais e os estilos de vida[996]. Estes sem deixarem
de remeter para os condicionamentos sociais, oferecem maior resistência a serem
classificados e a clarificarem. Os contextos de mediação entre as estruturas de
classe e as práticas sociais multiplicam‑se, deixando de depender
estritamente da inculcação inicial (familiar) e do percurso escolar. Torna‑se
mais opaca, assim, a relação outrora “transparente” entre condição de classe e
representações simbólicas. Alguns autores, desejosos de romperem com as mais
ténues reminiscências marxistas e/ou weberianas, apesar de identificarem com
argúcia alguns epifenómenos (crescente importância do consumo e dos estilos de
vida; novo papel da informação e do conhecimento; ascensão do mito
individualista; busca de auto‑expressão e pluralização das formas
identitárias; visibilidade dos novos movimentos sociais; etc.) procuram
restringir o conceito de classe social a uma função meramente descritiva
(recusando‑lhe poder explicativo ou a sua existência enquanto entidade
autónoma que represente mais do que a soma das suas partes). Outros desistem
mesmo de procurar as cumplicidades e interacções entre práticas e estrutura
social, proclamando com pompa e circunstância o fim das classes sociais[997]. Não será esse,
todavia, o nosso caminho.
Aliás,
há que assinalar que estes fluxos de mobilidade social via capital escolar não
são independentes de recomposições recentes na estrutura socioprofissional da
população portuguesa, designadamente no que se refere às categorias mais
exigentes em termos de qualificações escolares, nomeadamente as profissões
intelectuais, científicas, técnicas e de enquadramento, pertencentes às novas classes médias urbanas ou à nova pequena burguesia[998]. De acordo com
vários autores[999], é precisamente
nestes grupos que se tendem a desenvolver novos estilos de vida e modas sociais
enquanto especialistas da produção simbólica e privilegiados intermediários
culturais. Giddens, aliás, considera as oportunidades de mobilidade social como
um dos mais importantes factores de “estruturação
mediata das relações sociais de classe”[1000]. Assim, quanto
maior for a probabilidade de mobilidade (intergeracional ou no ciclo de vida
individual), menos identificável se torna a formação de classes. Esse é o caso,
precisamente, da nossa amostra o que obriga a considerar, para além da posição
ocupada na divisão social do trabalho e na propriedade dos meios de produção,
factores como os modos de vida e os estilos de consumo. Giddens chama a atenção
para o funcionamento dos grupos
distributivos como um dos elementos de estruturação
imediata das relações de classe: “relações
sociais que envolvem padrões de consumo de bens económicos, a despeito de os
indivíduos terem ou não algum tipo de avaliação consciente da sua honra ou
prestígio relativamente a outros”[1001]. Os grupos distributivos funcionam, por
isso, como princípio de complexificação e desagregação das principais divisões
de classe e podem existir simultaneamente, na nossa perspectiva, como causa e
consequência de um diferencial acesso ao mercado dos bens simbólicos, cada vez
mais centrais na economia política dado condensarem níveis desiguais de
informação, competência e qualificação.
4.2. Da insuficiência do
capital escolar como princípio explicativo.
Ao
observarmos o Quadro LIV, referente
ao cruzamento entre práticas receptivas e informativas eruditas e capital
escolar dos inquiridos, somos levados a reafirmar conclusões de anteriores
trabalhos. Com efeito, apesar de o capital escolar fazer sentir a sua
influência (os indivíduos com formação superior são os que menos se localizam
na categoria “raramente/nunca”), esta revela‑se insuficiente para
contrariar a tendência transversal de forte afastamento. Repare‑se,
aliás, que não existe qualquer clivagem imposta pelo capital escolar entre os
indivíduos que declaram aderir frequentemente a estas práticas. Atente‑se
ainda na frequência de idas ao teatro, concertos de música clássica e museus e
exposições (Anexo V/Quadros XXI, XXII e
XXIII). Com excepção das visitas a museus e exposições, a falta de adesão é
massiva.
Quadro LIV - Frequência de práticas receptivas e informativas de
públicos cultivados por capital escolar de ego
|
Capital Escolar de Ego |
||||
|
Práticas Receptivas e Informativas de Públicos Cultivados |
Baixo N=29 (6,0%) |
Médio N=98 (20,4%) |
Alto N=353 (73,5%) |
|
|
|
Frequentemente N=44 (9,2%) |
10,3 |
7,1 |
9,6 |
|
|
|
Com Alguma Frequência N=183 (38,1%) |
13,8 |
33,7 |
41,4 |
|
|
|
Raramente/Nunca N=253 (52,7%) |
75,9 |
59,2 |
49,0 |
|
|
Vários autores
têm reflectido sobre esta questão. João Sedas Nunes e Maria Paula Duarte
desmentem, com base nos resultados do inquérito às práticas culturais dos
lisboetas, a crença de que “ao aumento de
uma «impregnação» escolar corresponderia um acréscimo de apetência pelas obras
da «grande cultura»[1002] bem como a
ingenuidade de pensar que a escolaridade “se
tratará de uma condição simultaneamente necessária e suficiente”. Os
autores concluem que ela “é, muito
provavelmente, necessária; mas, em contrapartida, certamente insuficiente”[1003]. À mesma conclusão
chegam Augusto Santos Silva e Helena Santos, a propósito de um outro estudo
sobre práticas culturais, desta feita dirigido à população da área
metropolitana do Porto: “a escolarização
não representa uma condição suficiente — não chega esperar que a massificação
dos níveis relativamente elevados do sistema escolar opere o milagre da
democratização cultural”[1004]. Paulo Filipe Monteiro, por seu lado, ao estudar uma
série de inquéritos sobre frequentadores de teatro constata que a maior parte
tem progenitores com reduzido capital escolar: “é um público que criou ele próprio esse hábito, sobretudo quando
frequentou graus mais elevados de escolaridade”[1005].
Olivier
Donnat fala, a respeito das práticas culturais dos franceses, de um cenário em
tudo idêntico, levando‑o a registar, com cru realismo, o esgotamento das
utopias ligadas à emancipação do povo pela educação (designadamente, a
proliferação de equipamentos culturais, o mercado assistido — política de
baixos preços — a massificação escolar e a disseminação da televisão). No que
respeita à escolarização, Donnat assinala que “no final de mais de trinta anos de democratização escolar, constata‑se
que o alongamento da escolaridade foi acompanhado de um recuo no conhecimento
dos autores ou dos artistas que, ainda há quinze ou vinte anos, figuravam entre
os nomes mais prestigiados da cultura escolar, Isso não significa que o «nível
baixa», mas sim que a instituição escolar garante cada vez menos uma real
intimidade com o património literário e artístico que as elites transmitiam de
geração em geração”[1006]. O autor fala, em
consequência, de uma profunda recomposição no arcaico modelo unitário e
coerente do «homem cultivado». Hoje a cultura erudita vê‑se inserida em
processos de hibridização, fragmentação e legitimação de novas formas de
expressão cultural, intimamente associadas aos fenómenos da juvenilização e
espectacularização trazidos pela economia mediático‑publicitária.
Mas a
relação do capital escolar com as práticas culturais pode ser ainda analisada
por outros prismas, nomeadamente pela inversão dos critérios que estão na base
da classificação “arte média”. Esta
resulta, amiúde, da qualidade social dos
seus praticantes e do grau de raridade do capital escolar que possuem. No
entanto, se atentarmos numas actividade tradicionalmente enquadrada nesta
taxinomia na sua relação com o capital escolar dos inquiridos (fazer fotografia
com intuitos artísticos — Anexo V/Quadro
XXIV) compreendemos a inoperância de tais critérios. Com efeito, no caso da
fotografia, a “arte média” nobilita‑se
e torna‑se distintiva tal a raridade absoluta dos seus praticantes, mesmo
entre os que detêm maior capital escolar[1007]. No que se refere
ao cinema (Anexo V/Quadro XXV) a
nobilitação dá‑se não pela raridade em termos absolutos dos seus
praticantes, mas sim pelo seu público, de acordo com a amostra, ser
maioritariamente composto por inquiridos com alto capital escolar.
Há ainda
outra espécie de casos “atípicos”. Trata‑se de práticas criativas
situadas na esfera erudita (como por exemplo as artes plásticas ou a escrita
literária — AnexoV/ Quadros XXVI e XXVII)
em que não se nota qualquer discriminação significativa com base no capital
escolar. De facto, a raridade gritante de praticantes distribui‑se de
forma idêntica pelos níveis de capital escolar. É uma prática generalizadamente escassa. De forma
paralela há práticas generalizadamente
profusas. Atente‑se no exemplo do televisionamento (Anexo V/Quadro XXVIII). Apesar de uma
ténue clivagem entre os detentores de baixo capital escolar e os demais (os
primeiros são espectadores mais assíduos) é nítido tratar‑se de uma
prática amplamente partilhada.
No caso
da leitura (de livros e de jornais, não de revistas), no entanto, existem
diferenças (Anexo V/Quadros XXIX e XXX),
ainda que não sejam muito significativas. Os inquiridos com alto capital
escolar lêem‑nos mais frequentemente. Ainda assim, o valor modal de cada
grupo etário situa‑se na mesma categoria (“frequentemente”). E entre o
médio e o alto capital escolar não há clivagens a assinalar. Tais dados são,
uma vez mais, descoincidentes face ao recente inquérito nacional aos hábitos de
leitura onde a relação com o capital escolar apresenta uma “«causalidade nítida»”[1008]. As práticas de
leitura tornam‑se mais intensas à medida que sobe quer o capital escolar
de origem, quer o capital escolar adquirido dos inquiridos.
Em suma,
as análises que se cingem ao estabelecimento de relações entre o capital
escolar e um leque de práticas culturais deparam com as limitações intrínsecas
a tal procedimento. A correlação apresenta‑se variável ou mesmo
inexistente. É difícil atribuir‑lhe a carga de variável explicativa quase
universal com que surge em certas pesquisas[1009]. Em particular na “cultura de apartamento hegemónica”[1010] e nos tempos doméstico‑receptivos
(“colonizados pela televisão”[1011]). No entanto, mesmo
nas “práticas intelectivas”[1012] ligadas à leitura e
na “cultura de saídas”, onde o capital escolar impõe distinções, torna‑se
difícil considerá‑lo como grande princípio explicativo.
Se é
verdade que a selectividade social de certos públicos e práticas continua a ser
uma “evidência”, não é menos verdade, como refere Idalina Conde que as
barreiras persistem mas de outro modo e com outra complexidade: “perduram com segmentações mais precisas que
imbrincam na expansão eclética do «cultural», correspondendo na modernidade a
um maior pluralismo de referências com os seus vários centros de legitimidade”[1013]. Mesmo as classes
dominantes, detentoras, por tradição, de um poder simbólico que lhes permite
apresentar o seu padrão de gostos como universal e o único legítimo, vêem‑se
confrontadas com uma crescente segmentação, baseada quer em atitudes receptivas
heterogéneas, algumas delas “incompetentes”[1014], quer em
especializações ou “«pericialidades»
eruditas suficientemente restritivas para retraírem a elite do(s) público(s)
artístico(s) no interior do(s) público(s) cultivado(s)”[1015].
No
entanto, o cruzamento da situação na trajectória (ascendente, de reprodução,
descendente) com o grau de identificação face aos pólos consagrado/não
consagrado e moderno/clássico nos domínios do cinema, literatura e música não
nos fornece qualquer contributo significativo (Anexo V/ Quadros XXXI a XXXIX). De facto, a principal conclusão a
que se chega prende‑se com o grau global de incompetência dos públicos da
amostra. O pólo constituído pelo grau nulo e baixo de identificação é sempre
superior ao conjunto dos níveis médio e alto (este último quase sempre
residual, com excepção dos consagrados musicais clássicos, amplamente banalizados
e divulgados pelas indústrias culturais e mass
media). Esta constatação, no entanto, não é de somenos importância, já que
contribui para derrubar o mito de que o credencialismo escolar é um passaporte
seguro para a apropriação distintiva da alta cultura.
4.3. Da desertificação do
espaço público e suas consequências.
Atente‑se
nos Quadros LV e LVI. Duas constatações ressaltam com nitidez. Em primeiro lugar, o
espaço semi‑público é muito mais frequentado que o espaço público que
quase se pode considerar terra de ninguém.
Em segundo lugar, a posse de capital escolar encontra‑se associada à
frequência do espaço semi‑público (quanto maior é o capital escolar, mais
elevada se torna a frequência), não exercendo, porém, qualquer efeito em
relação à esfera pública.
Quadro LV - Frequência do espaço semi-público por capital escolar de
ego
|
Capital Escolar de Ego |
||||
|
Espaço Semi‑Público |
Baixo N=25 (5,5%) |
Médio N=94 (20,5%) |
Alto N=340 (74,0%) |
|
|
|
Frequentemente N=151 (32,9%) |
16,0 |
30,9 |
34,7 |
|
|
|
Com Alguma Frequência N=245 (53,4%) |
56,0 |
47,9 |
54,7 |
|
|
|
Raramente/Nunca N=63 (13,7%) |
28,0 |
21,3 |
10,6 |
|
|
Tais distinções ligam‑se, a nosso ver, às características intrínsecas de cada esfera na sua relação com as características sociais dominantes no espaço‑tempo em que vivemos. De facto, a frequência do espaço semi‑público liga‑se a um conjunto de práticas que prolongam, nalguns casos, os quadros de vida do habitat residencial (certos cafés ou cervejarias; ir à missa ou a cerimónias religiosas; fazer compras; etc.) ou que, noutros casos, requerem um investimento em redes de sociabilidade de entes afectivamente próximos (embora em graus diferentes, com vínculos de intensidade distinta). Por outro lado, certos segmentos do espaço semi‑público apresentam um acesso diferencial, quer em termos de crenças (frequentar a Igreja, por exemplo), quer em volume de capital económico (ir almoçar ou jantar fora; ir a bares e discotecas; etc.), quer ainda em recursos culturais (por exemplo, ir ao cinema).
Quadro LVI - Frequência do espaço público por capital escolar de ego
|
Capital Escolar de Ego |
||||
|
Espaço Público |
Baixo N=23 (5,3%) |
Médio N=89 (20,4%) |
Alto N=325 (74,4%) |
|
|
|
Frequentemente N=2 (0,5%) |
|
|
0,6 |
|
|
|
Com Alguma Frequência N=73 (16,7%) |
26,1 |
25,8 |
13,5 |
|
|
|
Raramente/Nunca N=362 (82,8%) |
73,9 |
74,2 |
85,8 |
|
|
Ora, o
espaço público, por seu lado, caracteriza‑se por ser, à partida,
acessível a qualquer um e indiferente às redes de afinidades electivas
(efectivamente, no entanto, quanto mais fechada for uma sociedade e certos
recursos forem monopólio de grupos, classes, etnias ou sexo, mais o espaço
público tenderá a restringir‑se ou, no limite, a desaparecer). Como faz
notar Habermas, a origem clássica deste conceito remete‑nos para o
sujeito público, portador da opinião
pública e garante de uma esfera comum a todos os cidadãos livres (categoria que
na antiguidade greco‑latina era, ela própria, extremamente selectiva...)[1016]. Através da
conversação (lexis) e da prática
comunitária (praxis), desenvolve‑se
a identidade específica do espaço público: “tudo
se torna visível a todos”[1017]. Mas, mais do que
isso, os fundamentos da ordem social são discutidos e analisados, longe dos “gabinetes dos príncipes”, exercendo o
público um verdadeiro poder de supervisão: “a
totalidade do público constitui um tribunal que vale mais do que todos os
tribunais reunidos”.
Mas o
que acontece, hoje em dia, para tamanha desvitalização do espaço público?
Antes de
mais, devemos enfatizar o carácter relacional deste conceito. O público só
existe em função do privado e vice‑versa. Ora, o que tende a verificar‑se
actualmente é a omnipresença do privado, com a destruição do equilíbrio e da
tensão que entre ambos existia. Como refere Sennett, “tornamos o facto de estarmos em privado, a sós connosco próprios e com
a família e amigos íntimos, um fim em si mesmo”[1018]. Do mesmo modo, o
privado torna‑se o padrão de tudo: não só o auto‑conhecimento se
tornou uma obsessão, como a preocupação principal reside nas pessoas, na sua
psique e não nas suas acções ou projectos (veja‑se o que se passa na
esfera política, em que a natureza de classe do poder é mistificado pela crença
nas qualidades pessoais dos actores políticos, doravante o principal critério
de avaliação das suas acções). De certa forma, estamos a assistir a uma
obliteração do carácter social da existência humana. Tudo se torna um assunto
de âmbito pessoal e de resolução íntima. A vida social e os assuntos públicos
passam a ser tratados como sentimentos e emoções pessoais. O espaço privado, em
suma, deixa de estar confinado a barreiras precisas. A “tirania da intimidade” resulta, por isso, da redução da
complexidade da realidade social (e da sua divisão em classes...) a um só
princípio subjectivo: a autenticidade dos sentimentos de cada um. A grande
“armadilha” reside no aumento de expectativas face às recompensas pessoais. De
facto, na medida em que o self se
encontra num processo de auto‑absorção narcísica, aumenta a ansiedade e a
desordem emotiva; na medida em que o outro
perde o seu significado social e a sua própria especificidade, a interacção
desvaloriza‑se. Mais do que a sua identidade, procuramos saber o que o
interlocutor íntimo significa para nós. Este processo impede‑nos de “compreender o que pertence ao domínio do
self e da auto‑gratificação e o que lhe é exterior”[1019]. O mundo torna‑se
“um espelho de mim”[1020], superfície onde se
reflectem os contornos de um eu omnipresente. No fundo, perdemo‑nos na
busca perpétua de “quem somos”, negligenciando o significado social dos
encontros na esfera pública, por definição propiciadora de cruzamentos mais ou
menos aleatórios com estranhos; pessoas que avaliaríamos pelas suas acções
(gestos, posturas, discurso) através da “objectividade
dos signos expressivos”[1021] e não mediante a sua personalidade. O “mercado de troca de auto‑revelações”[1022] acaba, assim, por
destruir o espaço público. Toda a apresentação no espaço público (a começar
pela indumentária) acaba por ter um significado associado às características
humanas, psicologizando‑se. Desta forma, a sociedade íntima torna‑se
uma ameaça. Qualquer pormenor pode revelar a estranhos as nossas
idiossincrasias mais pessoais. O espaço público passa a ser um lugar de
passagem e não de encontro; de silêncio e não de diálogo; de “sentimentos
congelados” e não de expressividade; de observação e voyeurismo e não de
participação activa. A casa e a família emergem como refúgios moralmente
seguros e tornam‑se um claro contraponto à ordem pública. A sociedade
íntima condiz, afinal, ao isolamento.
Compare‑se
o quadro anterior com os que em seguida apresentamos, referentes às práticas
domésticas receptivas, de consumo e/ou fruição (Quadro LVII), essencialmente baseadas na cultura audiovisual, e às
práticas domésticas expressivas, de interacção e sociabilidade (Quadro LVIII) como ir a casa de amigos
e familiares ou recebê‑los em sua casa.
Quadro
LVII - Práticas domésticas receptivas de consumo e/ou fruição por capital
escolar de ego
|
Capital Escolar de Ego |
||||
|
Práticas Domésticas Receptivas, de Consumo e/ou Fruição |
Baixo N=28 (6,2%) |
Médio N=94 (20,7%) |
Alto N=332 (73,1%) |
|
|
|
Frequentemente N=331 (72,9%) |
71,4 |
63,8 |
75,6 |
|
|
|
Com Alguma Frequência N=117 (25,8%) |
28,6 |
36,2 |
22,6 |
|
|
|
Raramente/Nunca N=6 (1,3%) |
|
|
1,8 |
|
|
Ao
contrário do espaço público, desertificado, o espaço doméstico, locus por excelência do espaço privado,
revela‑se hiperpovoado, características transversal aos três níveis de
capital escolar e que se reflecte com especial incidência nas práticas
receptivas. Por outras palavras, para além do retraimento na esfera do “lar”,
nota‑se um maior centramento nas actividades que não requerem, por si sós,
o exercício da sociabilidade. Duplo retraimento, portanto.
Quadro
LVIII - Práticas domésticas expressivas, de interacção e sociabilidade por
capital escolar de ego
|
Capital Escolar de Ego |
||||
|
Práticas Domésticas Expressivas, de Interacção e Sociabilidade |
Baixo N=27 (5,7%) |
Médio N=101 (21,3%) |
Alto N=346 (73,0%) |
|
|
|
Frequentemente N=187 (39,5%) |
37,0 |
37,6 |
40,2 |
|
|
|
Com Alguma Frequência N=216 (45,6%) |
48,1 |
45,5 |
45,4 |
|
|
|
Raramente/Nunca N=71 (15,0%) |
14,8 |
16,8 |
14,5 |
|
|
A análise das
entrevistas torna esta constatação ainda mais clara. Como se pode observar pelo
Quadro LIX, as referências positivas
sobre o espaço doméstico (79.5%)
suplantam largamente as negativas (20.5%).
A casa surge como um manancial de imagens que sugerem uma idealização; uma
“âncora” que funciona como “bastidor” de uma “região de fachada” (para
utilizarmos conceitos caros a Goffman). Um local que permite o desvendamento, a
autenticidade, a segurança afectiva e o relaxamento, ao contrário do controlo
social e da vigilância presentes nas “regiões frontais” ou “fachadas”.
Quadro LIX — Imagens associadas à casa e a “estar em
casa
|
Positivas |
Nº * |
Negativas |
Nº * |
|
.As pessoas/a família .”O meu espaço” .”O meu quarto” .Refúgio .Relaxamento/descanso .Isolamento e introspecção .Conforto .Privacidade .Paz e tranquilidade .O local ideal .”Onde nos sentimos bem” “O ninho” |
16 13 13 12 10 9 9 6 6 3 3 2 |
.Um aborrecimento .Uma obrigação .Local de passagem .Solidão .Não fazer nada .O sítio onde se dorme |
9 5 4 3 3 3 |
|
Total |
105 |
Total |
27 |
* Número de ocorrências
Mas repare‑se
que a casa é, antes de mais, a célula familiar que, contra os discursos sobre o
seu “fim” iminente, persiste em revelar a sua centralidade. Perante a “selva”
exterior, a casa familiar assemelha‑se a um “baluarte” afectivo, embora
nada nos permita concluir da generalização de uma representação que a tende a
ver como um domínio “moralmente superior” em regime de autarcia. Aliás, a
oposição dominante afasta casa e trabalho/estudo (“o mundo de fora”); tempo de
desgaste e tempo de recuperação e repouso (“o mundo de dentro”), mostrando, uma
vez mais, a sua estreita ligação, e não directamente espaço público e privado.
Habermas acentua essa relação entre uma esfera profissional que se autonomiza e
a família que “se recolhe a si mesma”[1023]. De facto, parecem ser
extemporâneos os Requiems pelo fim do
trabalho e do seu carácter estruturador das rotinas diárias, o que não impede
que a habitação surja como “ponto fixo”
(o “pivot” das sociedades‑arquipélago[1024]) em contextos de
acentuada distância casa/trabalho e de crescente mobilidade sócio‑profissional[1025]:
“Ficar em casa é uma oportunidade de ficar
com a família. Normalmente passo o dia fora de casa e regresso à noite, por
isso só estamos juntos ao fim do dia. A casa é um refúgio”; “Ficar em casa é
mais para descansar e conviver com a família”; “A casa é o sítio onde nasci,
cresci e espero envelhecer e ficar em casa é passar uma noite agradável na
companhia de familiares ou de amigos”; “é
uma forma de refúgio, conforto, de esquecer o mundo cá fora e os problemas”.
Graham
Allan refere a este propósito a importância de que a casa se reveste para as
novas classes médias, enquanto local preferencial de sociabilidade e espaço
privilegiado onde se recebem os amigos. Desta forma, a casa torna‑se “um meio efectivo de descontextualizar e
alargar os parâmetros da sociabilidade”[1026], libertando as
amizades dos constrangimentos do círculo social onde nasceram. Assim, a
habitação surge como uma confortável arena privada e uma expressão da
identidade pessoal e social do seu proprietário[1027]. Transforma‑se
em signo e local de apresentação e representação (Allan analisa a este respeito
o papel ritual dos jantares de cerimónia[1028], enquanto ocasião
de dar a conhecer a versão pública do
espaço privado), ou, de acordo com a terminologia bourdiana, um exemplo de
capital cultural objectivado.
No
entanto, por vezes a dicotomia interior (casa)/exterior (cidade) remete‑nos
para as questões da (in)segurança e das patologias urbanas. Neste sentido,
Sennett fala de uma “sociedade
incivilizada” em que apenas uma minoria de favorecidos, morando em zonas
recatadas e seguras, pode usufruir da urbanidade.
“A casa é um refúgio do dia, do dia‑a‑dia,
da selva que é a cidade”; “Ficar em casa é um porto seguro”; “A casa é o
abrigo, o refúgio onde nos sentimos mesmo à vontade, é o reino”.
No
entanto, importa relativizar o papel de âncora da família. Existe uma
hierarquia interna que tende a privilegiar o quarto e a possibilidade de total
recolhimento e privacidade. Dentro do “lar”, as zonas comuns são muitas vezes
preteridas pelo espaço que mais directamente prolonga a intimidade, o que de
certa forma confirma tanto as análises de Sennet como as de Giddens e
Featherstone quando estes autores identificam, apesar de daí retirarem ilações
antagónicas, a busca de auto‑identidade enquanto traço característico da
contemporaneidade. Repare‑se na utilização recorrente do determinante
possessivo:
“Em
casa estou mais no quarto, é onde tenho mais privacidade”; “A casa...entendo
isso como o meu canto...o meu canto privado...mas também pode ser o meu
quarto”; “Apesar de viver com a minha namorada eu tenho um espaço meu, o meu
quarto, onde gosto muito de estar, sinto‑me lá bem...as minhas coisas
pessoais, as minhas brincadeiras...ouvir música, brincar com a viola”; “na casa
gosto do meu quarto, é o meu território (...) está tudo à minha medida, é o meu
espaço”, “ficar em casa é como encontrar um lugar para mim, para estar sozinha”.
Habermas
realça esta modificação em que a casa se torna menos um espaço familiar e mais
um espaço feito à medida do indivíduo, deixando de ser o prolongamento privado
do espaço colectivo: “Caso olhemos para o
interior de nossas moradias, então descobre‑se que o «espaço familiar», o
lugar de permanência em comum (...) tornou‑se cada vez menor ou
desapareceu por completo. Em compensação, os quartos privados de cada um dos
membros da família tornaram‑se cada vez mais numerosos, sendo decorados
de modo característico”[1029]. Um dos
entrevistados não podia ser mais explícito: “quando
estou em casa estou comigo”. Esta ênfase no recolhimento no interior do
espaço doméstico parece dar razão a Senett quando este autor refere a
necessidade de haver barreiras que protejam a intimidade das pessoas e impeçam
a vigilância e o controlo permanentes: “As
pessoas são tanto mais sociáveis quanto mais existam barreiras tangíveis entre
elas (...) Os seres humanos necessitam de alguma distância em relação à
observação íntima por parte dos outros, de forma a sentirem‑se sociáveis”[1030]. Esta necessidade
de protecção e de isolamento em relação ao “clã” familiar será ainda maior no
caso dos jovens que, devido ao prolongamento do período de moratória, são
obrigados a permanecer na dependência dos pais. Eles, mais do que as outras
categorias sociais, são os especialistas da construção de micro‑casas: a casa dentro da casa.
Existem
situações, inclusivamente, em que a casa se dissocia da família e em que os
modos de habitabilidade traduzem a necessidade de mobilidade associada a uma
vida independente, sem vínculos afectivos associados ao espaço residencial.
Quebra‑se, por isso, a imagem da casa como lugar identitário:
“Felizmente “barra” infelizmente vivo
acompanhado ... mas é engraçado ... é tipo uma comunidade franciscana...em que
as pessoas como têm horários completamente diferentes, praticamente nunca se
vêem...o que se passa é uma coisa extremamente cómoda...mas pronto, quando é
preciso pagar as contas ao fim do mês está toda a gente lá reunida para o bem e
para o mal. As pessoas lá de casa...um colega meu dedica‑se a orçamentar
estruturas móveis...aeroportos, estações de comboios. É engenheiro, um tipo
porreiro, mas é engenheiro...tenho outro colega meu que é de medicina
dentária...por isso tem o quarto extremamente bem decorado...tem lá nos frascos
umas dentaduras, umas coisas do género...uma mala cheia de brocas, parafusos
horríveis. Aquilo parece a tortura inquisitória. É um tipo agradável, para
contactar de quinze em quinze dias. Eu lá estou, de vez em quando...Estou em
casa sem ter casa” (Sexo masculino, 22 anos, gestor)
Mas o
significado da casa não deixa de ser ambivalente. Para uma minoria ela é
sinónimo de prisão e de tédio, de sociabilidades amorfas. A única função da
casa parece ser a de assegurar a passagem entre o dia que acaba e o que começa:
“A casa é o pousio, mas depende das idades, a
certa altura é só para comer e dormir”; “ficar em casa é uma monotonia”; “eu
fico em casa quando estou cansado, quando não estou saio (...) a casa é para
dormir”, “ficar em casa é pastar...”, “a casa hoje em dia é mais um local de
passagem, é um dormitório”
Esta
minoria constrói, igualmente, uma representação muito favorável das saídas
nocturnas e de todo o espaço‑tempo exterior à casa. Coincide, muitas
vezes, com pessoas que vivem sós ou fora do local onde habita a família.
Em
síntese, apesar da instituição familiar aparecer como núcleo‑duro da
afectividade, parece extremamente precipitado concluir que é em seu redor que
se estruturam os espaços‑tempos domésticos. A fuga para o quarto, a procura de introspecção e recolhimento, têm
necessariamente efeitos de diluição de uma pretensa omnipresença familiar.
Neste sentido, somos levados a reforçar a ideia já anteriormente avançada de
que os contextos de reprodução social extra‑familiares têm vindo a ganhar
importância, a par do desenvolvimento de uma cultura auto‑centrada que,
ao contrário do que muitos propagam, não se deve a motivos de índole
estritamente psíquica, encontrando‑se pelo contrário radicada nas
transformações sócio‑culturais mais amplas das sociedades contemporâneas.
Em suma, não se confirma uma desestruturação da família, tão‑pouco o seu
fim, mas também não existe uma reprodução inerte dos velhos modelos familiares.
François Ascher refere, neste âmbito, que “o
reforço dos laços familiares opera‑se igualmente num quadro de autonomia
crescente de cada um dos membros, o que exprime, também a este nível, o
processo de individualização, contribuindo para fazer dos parentescos sistemas
cada vez mais complexos”[1031].
O espaço
privado tende, aliás, a ser penetrado por influências cada vez mais distantes,
criando‑se uma espécie de “lugar
fantasmagórico”, segundo a expressão de Giddens, promovendo relações com
interlocutores ausentes, “distantes de
qualquer situação de interacção face‑a‑face”[1032]. Os mass media contribuem intensamente para
este esvaziamento do espaço e para a perda das relações de proximidade,
aumentando a “indiferença possível”
perante os outros que partilham a mesma unidade residencial. Como refere
Ascher, “os verdadeiros vizinhos
metapolitanos ignoram‑se”[1033], contrariando a “mitologia comunitária” do bairro da
cidade industrial.
Atente‑se
no Quadro LX referente às
actividades predominantes no espaço doméstico, de acordo com as declarações dos
entrevistados.
Quadro LX ‑Actividades Predominantes no
Espaço Doméstico
|
Dos entrevistados |
* |
Dos familiares |
* |
|
.Ver TV .Ouvir música .Ler .Trabalhar/estudar .Ver programas em vídeo .Dormir .Jogar no computador .Conversar .Tocar um instrumento .Jogar .Escrever .Lides domésticas .Falar ao telefone |
58 44 30 18 17 14 13 11 8 5 3 3 2 |
.Ver TV .Conversar .Ler .Sair com amigos .Ouvir música .Lides Domésticas .Trabalhar .Jogar no computador .Ver programas em vídeo .Ir ao café |
37 18 8 8 7 4 4 4 3 2 |
* Número de ocorrências
Ver TV é
sem sombra de dúvidas a actividade hegemónica. Podemos mesmo afirmar que existe
um nítido domínio da cultura audiovisual e da dupla som/imagem (ouvir música,
assistir a programas em vídeo, jogar no computador). Esse domínio é mais
visível nas práticas referentes aos próprios entrevistados, o que não será de
estranhar dada a grande juvenilidade (comprovada pelo inquérito) dos utentes
dos espaços em estudo. No entanto, não podemos deixar de realçar a importância
relativa das práticas de leitura, nem tão‑pouco a diversidade de
actividades mencionadas. O espaço doméstico não é atravessado por uma lógica
unidimensional de apropriação cultural, apesar do claro domínio televisivo.
Mesmo os usos que se fazem da televisão podem conduzir a práticas interactivas,
através de processos complexos de recepção cultural que contribuem para
interpretações social e culturalmente diferenciadas (ou mesmo divergentes)
sobre as mensagens transmitidas.
Habermas
tem, a este respeito, uma perspectiva claramente pessimista. Ao falar dos modos
de socialização “imediatos” que se imiscuem no espaço privado, desafiando o
papel tradicional da família, o autor alemão fala de consumismo e da
constituição de uma pseudo‑esfera pública (mass media) que se assemelha a uma “espécie de superfamília”: “Mesmo
ao se ir junto ao cinema, ao se escutar conjuntamente rádio ou a olhar televisão,
dissolveu‑se a relação característica da privacidade correlata a um
público”[1034]. O resultado é a
transformação do que seria um público numa massa, fenómeno agravado pela
dissolução dos contextos de comunicação pública “em actos estereotipados de recepção isolada”[1035]. A família deixa de
ser uma “esfera privada protectora e
sustentadora”[1036] e o indivíduo,
perante uma cultura que serve meramente como integração, “torna‑se um número no programa dos astros da rádio e da
televisão”[1037]. Algumas afirmações
dos entrevistados parecem dar razão à análise de Habermas, segundo a qual o
esvaziamento da função socializadora da família, entre outros factores,
contribui para uma mudança de paradigma do “homem
pensador de cultura” para o “homem
consumidor de cultura”:
“Se der um bom filme na TV vejo, senão posso
alugar um filme ou então vou para a cama”; “Quando fico em casa vejo TV, ouço música, pode ainda ser o computador,
o telefone para pôr a conversa em dia e jogar cartas. Às vezes, mesmo tendo
gente em casa procuro estar sozinha, nem sempre convivemos”; “ficar em casa é
deitar no sofá e ouvir música o dia todo”; “Trabalhar e dormir. Ao fim de
semana descansar ou passear pelos arredores”; “Os meus familiares vêem muita
televisão. Só se conversa à hora das refeições”; “Os meus familiares estão em
casa a dormir ou a ver televisão”; “A
minha mãe vê televisão ou está na lida da casa, o meu pai ou está com os
comboios dele ou está a ver televisão”.
Mas
muitos outros excertos demonstram a preocupação em diversificar os espaços‑tempos
domésticos, dotando‑os de um conteúdo convivial, expressivo e mesmo
criativo. Há também posicionamentos críticos em relação à programação
televisiva, o que vai contra a figura do consumidor passivo e adormecido
(próprias do sistema do “don't talk back”)
e da descrição que Habermas faz do público telespectador, sem a distância
necessária ao exercício das capacidades emancipadoras e sem a “oportunidade de poder dizer e contradizer”[1038]. Alguns
entrevistados denotam ainda uma tendência para uma certa especialização de
gostos e escolhas:
“Vejo filmes vídeo, a televisão não
presta...ler, muitas vezes ler, basicamente é isso”; “Ouço música, gosto de
ler, vejo às vezes filmes”; “Ouço
música, vejo filmes, converso com os amigos. A música é escolhida por mim”;
“televisão vejo cada vez menos, por
exemplo ao Sábado à noite há o Big Show Sic e coisas do género...”; “Fico
em casa e vejo um filme, convivo com os amigos, leio e escrevo”; “Costumo ler e pintar”.
Não
faltam igualmente referências às saídas nocturnas: “Os meus pais só ficam em casa para trabalhar, senão saem”; “Os meus pais saem à noite, conversam,
lêem...”.
Em
síntese, somos de opinião que, mesmo tendo em conta situações de potencial
reprodução de uma “ordem social negativa”
em que “integração e inanição deixam de
se distinguir com nitidez”, propiciando situações de “anomia implosiva”[1039], não se pode falar,
em relação a este conjunto específico de entrevistados (seleccionados em
situações de saída cultural nocturna,
com uma probabilidade eventualmente elevada de serem praticantes culturais
assíduos) de uma total subjugação a uma lógica unidimensional de consumo.
O que,
bem entendido, não invalida a constatação de hipertrofia do espaço público
urbano e de desvitalização dos valores de uma certa mundanidade e cosmopolitismo.
No entanto, importa salientar a inadequação
da teoria habermasiana da esfera pública às novas condições da cultura,
designadamente no que se refere à compressão do espaço‑tempo, tornada
possível, entre outros factores, pela globalização da informação e pelos novos
meios electrónicos de comunicação[1040]. Ao contrário da
concepção de esfera pública do autor alemão, baseada na interacção face‑a‑face,
as nossas sociedades são, cada vez mais, “sociedades‑arquipélago”,
marcadas por um maior conhecimento do longínquo face ao geograficamente
próximo: “Lá onde o camponês conhecia
cada detalhe de alguns hectares, nós, nós conhecemos alguns detalhes do planeta
inteiro”[1041]. O vizinho passa a
ser o desconhecido próximo de nós, ou, nas palavras de Viard, “o longínquo pode estar mais próximo do que
o próximo e o próximo mais longínquo que o longínquo”[1042]. Neste sentido,
modifica‑se, em especial para os agentes “multipolares e multi‑informados”, socialmente minoritários,
mas com reflexos em todo o tecido social, a representação do território e das
escalas de intervenção. Seguindo
Giddens, a actividade social e as relações sociais são “arrancadas” dos “contextos locais de interacção” e
reestruturadas “através de extensões
indefinidas de espaço‑tempo”[1043]. Consequentemente,
o território torna‑se descontínuo, fragmentário, baseado em redes e
fluxos. Em suma, “um imenso patchwork”
que resulta da montagem que cada um faz das suas deslocações na “cidade invisível”[1044] que em muito
ultrapassa os velhos limites materiais e administrativos da urbe. François
Ascher, a propósito da sua “Metapolis”,
conceito de urbanidade que substitui a metrópole, fala das “combinações múltiplas, flutuantes e relativamente diluídas” dos
modos de vida e das mentalidades urbanas.
Todos
estes contributos, no entanto, não nos devem fazer esquecer a necessidade de
preservação das condições de comunicação face‑a‑face. Se é verdade
que o distante e o próximo se interligam de forma complexa e que a mobilidade
está no centro das estratégias dos actores sociais (diferentemente mobilizável
consoante a distribuição de poder), não é menos verdade que a dissolução dos
encontros e cenários de co‑presença contribui para um enfraquecimento da
imaginação social e dos processos sociais de comunicação. Desenraizados face
aos contextos físicos de interacção, envoltos em sociabilidades e redes
virtuais ou intermutáveis, imbuídos da lógica das transacções distantes no
espaço‑tempo, os agentes perdem toda a riqueza da comunicação não‑verbal
e das suas componentes extralinguísticas. A gama possível de sinais expressivos e de variações de estilo[1045] reduzem‑se a um conjunto de procedimentos e
linguagens minimais (como o Basic English
da informática ou as abreviações e ícones da comunicação/conversa via Internet)
que não exploram as características de um ambiente específico rico em
pormenores que dignificam a comunicação, processo inserido numa “complexa trama histórica e social”[1046].
Outra
dimensão criticada em Habermas é o seu alegado elitismo, a lembrar o retrato
dos “intelectuais apocalípticos” traçado por Eco. A relação que estabelece com
a cultura de massas enquadra‑se na descrição que DiMaggio tece sobre
certas perspectivas teóricas que fazem a síntese das “preocupações liberais sobre a cidadania na era pós‑fascista com
as noções marxistas de alienação e um desprezo elitista pela cultura popular”[1047]. Nesta linha, Jim
McGuigan propõe que não se trate a esfera pública como uma entidade abstracta e
universal, mas sim como “uma referência
normativa assente nas suas formas plurais enquadradas em contextos específicos”[1048], sem deixar de lado
a arte, os media e as modalidades
afectivas e quotidianas de construção de sentido e de identidade. Em suma, uma
esfera pública adequada a uma realidade sócio‑cultural multidimensional.
4.4. Cultura e redes sociais.
Paul
DiMaggio é um dos autores que mais tem tentado relacionar a estruturação dos
campos culturais (ele apelida‑os de “sistemas
de classificação artísticos”) com a existência de redes de sociabilidade,
enquanto elemento fundamental de circulação de informação utilizada nos
processos sociais de construção do gosto e de reposicionamento social. A sua
proposta centra‑se na análise das “formas
através das quais as pessoas utilizam a cultura para estabelecerem contactos
entre si”[1049]. Por outras
palavras, o gosto cultural é simultaneamente causa e consequência de interacção
social e de mobilização de redes sociais relativamente extensas. Se os bens
culturais são signos, sistemas comunicantes que exprimem categorias e
classificações, o acto de os consumir, pelo seu carácter efémero e evanescente,
tornam‑se um “meio portátil e por
conseguinte potente, de troca interaccional”[1050]. Os interesses
culturais são, em suma, um tema de conversa que permite, nos contactos com
estranhos que se estabelecem na esfera pública e semi‑pública,
seleccionar os elementos que desejamos integrar nas nossas redes de
sociabilidade. Além do mais, a sua análise enquanto “sistema relacional” que estabelece uma mediação entre os contextos
e círculos sociais e o espaço pessoal
permite, como referem tanto Claire Bidart como Félix Requena Santos,
estabelecer um olhar transversal aos vários domínios do social (empresa,
família, amigos, saídas culturais, vida associativa, etc.) bem como articular
variáveis macrossociológicas (estrutura social, padrões culturais, variáveis
ecológicas como a densidade e dispersão da população, etc.) com análises
microssociológicas (personalidade, relações de amizade, estilos de vida, etc.)[1051].
No
inquérito e entrevistas que aplicámos, procurámos testar a validade e o potencial
heurístico da proposta de DiMaggio para os contextos em estudo. Atente‑se
por conseguinte no Quadro LXI. Os
amigos constituem os companheiros mais frequentes das saídas nocturnas em
qualquer dos espaços em análise, seguido do namorado(a) no B Flat e Praia da
Luz e do cônjuge no Rivoli. Apenas nesta última instituição têm algum relevo as
modalidades de aparecer acompanhado por familiares ou sozinho.
Quadro LXI - Modalidade em que costuma aparecer por espaço
|
Espaço |
||||
|
Costuma Frequentar este Espaço |
B Flat N=135 (30,3%) |
Praia da Luz N=80 (17,9%) |
Rivoli N=231 (51,8%) |
|
|
|
Só N=26 (5,8%) |
4,4 |
1,3 |
8,2 |
|
|
|
Acompanhado por Amigos N=272 (61,0%) |
71,9 |
65,0 |
53,2 |
|
|
|
Acompanhado por Familiares, Cônjuge/Namorado N=148 (33,2%) |
23,7 |
33,8 |
38,5 |
|
|
Claro que esta centralidade dos amigos está
ligada à juvenilidade da amostra e ao facto associado da existência de um
grande número de solteiros. Claire Bidart[1052] e François Héran[1053] salientam o facto
de a sociabilidade decrescer claramente com o aumento da idade e com
determinadas etapas do ciclo de vida, em particular o casamento e o nascimento
do primeiro filho. Aliás, o facto de ser celibatário retarda o retraimento na
disposição de estabelecer contactos com outros que se verifica com a idade.
Mas, mais importante ainda, a idade e o estado civil relacionam‑se
intimamente com a orientação das práticas sociabilidade. Com efeito, os novos e
solteiros possuem uma mais intensa sociabilidade externa, intimamente ligada à
cultura de saídas. Pelo contrário, a orientação endo‑domiciliar é reforçada
com o casamento (instituição que marca verdadeiramente o “fim da juventude”)
aumentando com a idade até um certo ponto, onde o grau do decréscimo depende
essencialmente da posição social[1054].
O
“efeito idade” na estruturação das saídas culturais encontra‑se bem
visível no Quadro LXII. Repare‑se
que o item “costuma aparecer acompanhado por amigos”, apesar de ser
extremamente expressivo em todos os grupos etários, decresce com a idade.
Quadro LXII - Modalidade em que costuma aparecer por escalão etário
|
Escalões Etários |
|||||
|
Costuma aparecer |
Até 20 N=61 (14,4%) |
21‑30 N=219 (51,5%) |
31‑40 N=73 (17,2%) |
Mais de 40 N=72 (16,9%) |
|
|
|
Só N=23 (5,4%) |
9,8 |
3,2 |
5,5 |
8,3 |
|
|
|
Acompanhado por Amigos N=263 (61,9%) |
67,2 |
66,7 |
58,9 |
45,8 |
|
|
|
Acompanhado por Familiares, Cônjuge/Namorado N=139 (32,7%) |
23,0 |
30,1 |
35,6 |
45,8 |
|
|
Quando
esta sobe, a partir dos 31 anos, aumentam também os inquiridos que se fazem
acompanhar pelo cônjuge:
“Geralmente vou com a minha namorada... há
certos casais com quem também nos damos, mas especialmente saímos muito os
dois”
(Praia da Luz; sexo masculino; 32 anos).
“Digamos que saio cinquenta por cento
sozinho, cinquenta por cento com grupos de amigos...é ao acaso...par hasard” (B Flat; sexo
masculino; 38 anos; director financeiro).
Importa,
por conseguinte, distinguir a amizade das relações familiares ou de parentesco.
À partida a amizade tem quatro características fundamentais: autonomia
(carácter voluntário da escolha de amigos — eleição mútua), informalidade,
pessoalização e vínculo emocional (não instrumental)[1055]. No entanto,
importa relativizar o significado destas dimensões. Sendo do domínio do íntimo,
do privado e da escolha pessoal, a amizade (assim como a sociabilidade em
geral) não deixa de estar situada em espaços sociais e imersa em constelações
de valores, símbolos, esquemas perceptivos, expectativas, modelos culturais,
etc. Mesmo o seu cariz mais elementar — a relação pessoal — é uma fonte de
aprendizagem social: “É no encontro e na
interacção com o outro que o indivíduo apreende as diferenciações sociais,
aprendendo a situar‑se, a filiar‑se, a negociar o seu lugar na
sociedade”[1056]. Assim, ao
contrário da aura “romântica” da amizade pairando acima das vicissitudes e
constrangimentos terrenos (que, não raras vezes, se associa a uma
psicologização reducionista da pesquisa), somos confrontados com um fenómeno
eminentemente cultural. Ao contrário de Simmel que concebia a sociabilidade e a
amizade como “sentimento puro” ou “forma lúdica”, entendem‑se aqui
esses processos relacionais como práticas culturais, formas de mediação entre o
social e o individual, intimamente associadas aos quadros de interacção (ou “círculos sociais”, para utilizar a
terminologia de Bidart[1057]) por sua vez
inseridos em contextos sociais mais vastos (profissionais, residenciais, institucionais,
etc.). Graham Allan defende a mesma ideia ao referir que a sociabilidade deve
ser analisada através de uma articulação entre as regularidades do “ambiente social imediato” e as
convenções culturais dominantes. Por outras palavras, exige‑se ao investigador
que analise as relações informais em relação com os aspectos estruturais da
vida em sociedade[1058], salientando a
inclusão das escolhas pessoais num campo mais ou menos restrito de
possibilidades. Neste sentido, a sociabilidade é aqui entendida, retomando o
seu significado primeiro, ou seja, enquanto “capacidade
de estabelecer relações sociais” em círculos e contextos determinados[1059].
No entanto, é preciso que fique claro que não
encaramos o capital relacional como mera variável dependente, desprovida de
qualquer autonomia e incapaz de produzir efeitos na distribuição do volume
global de capital. Pelo contrário, a proposta de DiMaggio salienta a utilização
instrumental da cultura através das redes de sociabilidade. Os usos sociais da
cultura não são neutrais e os seus veículos e suportes — as redes sociais —
também não. Assim sendo, importa considerar a “economia afectiva do intercâmbio recíproco”[1060] presente nas
relações de amizade e a sua combinação de aspectos expressivos (os mais
salientes em termos de senso comum) e instrumentais (revelados pela análise
social, mas igualmente explícitos em situações de conflito ou quebra de
vínculo). Como refere Graham Allan, sendo uma relação de igualdade (por
oposição às relações de mercado) a amizade exige uma equivalência de
transacções, tanto no plano material como emocional (mesmo não existindo um
cálculo explícito nem tão‑pouco uma obrigação de reciprocidade imediata).
Embora não visando o “lucro” ou a procura de vantagem, o equilíbrio relacional
requer um regular “give and take”[1061].
O
carácter distintivo da amizade reside ainda no carácter relativamente
voluntário da sociabilidade (em especial por oposição ao parentesco, mais
rígido e formal), no seu cariz não hierárquico (ao contrário, igualmente, do
que se passa na família, em que existe sempre uma distribuição diferencial da
autoridade e do poder) e menos ligado ao contexto do que o mero colega (de
trabalho ou de estudo) ou vizinho. Desta forma, funciona como uma relação
potencialmente mobilizadora da acção em conjunto, tanto mais que geralmente se
partilham códigos, valores e condutas. Esta mesma característica reflecte‑se
na organização das saídas culturais. Tínhamos já observado que a
indisponibilidade dos amigos para sair é um dos principais obstáculos ao deslocamento
para o exterior do espaço doméstico. Se analisarmos o Quadro LXIII constatamos precisamente que as redes de amigos
funcionam como circuitos privilegiados de informação e mobilização para a
frequência de locais e práticas culturais.
Quadro LXIII - Fonte através da qual tomou conhecimento do espaço frequentado
|
Espaço |
||||
|
Como tomou conhecimento do Espaço Frequentado |
B Flat N=119 (34,2%) |
Praia da Luz N=76 (21,8%) |
Rivoli N=153 (44,0%) |
|
|
|
Através das Redes de Sociabilidade N=255 (73,3%) |
84,0 |
93,4 |
54,9 |
|
|
|
Através dos Meios de Comunicação Social N=93 (26,7%) |
16,0 |
6,6 |
45,1 |
|
|
O Rivoli
parece ser a excepção, com uma maior fragmentação das respostas e uma
valorização relativamente superior dos mass
media, o que não é de admirar, já que é a única instituição a utilizar
esses veículos de divulgação. No entanto, se somarmos os índices respeitantes
aos vários tipos de relações de sociabilidade (amigos, colegas, familiares,
namorado, cônjuge) atingimos valores elevados.
De igual
modo, ao observarmos o Quadro LXIV concluímos
que o principal factor que motiva os inquiridos a estarem presentes para
assistirem a um determinado espectáculo, novamente com a excepção do Rivoli,
radica nas referências e convites oriundos das suas redes de sociabilidade. No
caso do Teatro Municipal o destaque vai para a familiaridade com os artistas e
suas obras. Recordemos o que anteriormente referimos sobre o perfil cultural
dos seus públicos: apesar da sua diversidade e ecletismo, dominava a imagem de
uma ligação privilegiada à cultura consagrada.
Quadro LXIV - Motivos para estar presente por espaço
|
Espaço |
||||
|
Motivos para estar presente no Espaço Frequentado |
B Flat N=86 (25,2%) |
Praia da Luz N=51 (14,9%) |
Rivoli N=205 (59,9%) |
|
|
|
Referências através dos Meios de Comunicação Social N=62 (18,1%) |
7,0 |
5,9 |
25,9 |
|
|
|
Referências através das Redes de Sociabilidade N=168 (49,1%) |
76,7 |
70,6 |
32,2 |
|
|
|
Familiaridade com os Artistas e a sua Obra N=112 (32,7%) |
16,3 |
23,5 |
42,0 |
|
|
Este novo indicador reforça a ideia de um
maior à‑vontade nos códigos e circuitos do campo artístico por parte de
uma fracção significativa desses públicos. Ou seja, na constituição do seu
universo simbólico continua a ser importante a aquisição de competências
específicas na esfera da alta cultura. Atentando agora num dos indicadores que
foram agregados na categoria “familiaridade com os artistas e sua obra”, neste
caso o “conhecimento do percurso e da obra do artista” (Quadro LXV), identificamos, precisamente, o cluster de inquiridos do Rivoli (representando 32%) que possivelmente constrói o seu gosto pela relação de
proximidade (se não mesmo de homologia) com a cultura “nobre” e que denota a
incorporação de uma disposição cultivada. No que se refere à idade (Quadro LXVI) confirma‑se uma vez
mais a tendência para a identificação ao pólo consagrado aumentar com a idade.
Quadro LXV - Conhecimento do percurso/obra do artista por espaço
|
Espaço |
||||
|
Conhecimento do Percurso / Obra do Artista ou Executante |
B Flat N=142 (28,0%) |
Praia da Luz N=84 (16,6%) |
Rivoli N=281 (55,4%) |
|
|
|
Sim N=102 (20,1%) |
8,5 |
|
32,0 |
|
|
|
Não N=405 (79,9%) |
91,5 |
100,0 |
68,0 |
|
|
Quadro LXVI - Conhecimento do percurso/obra do artista por escalão
etário
|
Escalões Etários |
|||||
|
Conhecimento do Percurso / Obra do Artista ou Executante |
Até 20 N=73 (15,0%) |
21‑30 N=243 (50,0%) |
31‑40 N=84 (17,3%) |
Mais de 40 N=87 (17,7%) |
|
|
|
Sim N=99 (20,3%) |
5,5 |
18,5 |
26,2 |
32,2 |
|
|
|
Não N=388 (79,7%) |
94,5 |
81,5 |
73,8 |
67,8 |
|
|
No
entanto, a imensa maioria, ainda mais esmagadora nos restantes espaços,
confirma a tese de DiMaggio segundo a qual a participação e o interesse pela
“alta cultura” não se associa necessariamente a um elevado conhecimento da
mesma. Já anteriormente tínhamos concluído pela disseminação de uma atitude de
falta de identificação com referências cruciais (autores e obras) da “alta
cultura”. Desta forma, o autor americano defende que as referências simbólicas
e culturais funcionam como recursos importantes nas situações de interacção em
redes sociais difusas. De facto, a maior complexidade social (traduzida por uma
diversidade na estrutura de papéis) requer repertórios alargados. Ou seja, a
móvel e novel classe média, necessita de manipular com habilidade (embora não
necessariamente com profundidade) uma gama vasta de referências culturais.
Assim se compreende que DiMaggio refira com acutilância que essa classe média
utiliza “interruptores” para ligar ou desligar um determinado discurso de
acordo com o círculo social a que se dirige. Ora, como refere François Héran, o
vínculo emocional dessas redes difusas sugere “laços fracos”, mas com um grande
raio de acção. Este tipo de redes são característicos das grandes cidades onde
a proliferação de subculturas se liga à grande diferenciação estrutural (em
grande parte derivada da especialização económica e espacial) patente na
diversidade de estatutos ocupacionais, de situações de classe, de estilos de
vida, etc.[1062]. Exigem, por isso,
uma acentuada multiplicidade de laços, tanto mais que tende a aumentar a
incongruência entre os papéis oriundos de diferentes contextos sociais (a
categoria ocupacional, por exemplo, pode não encontrar correspondência no stock disponível de recursos e
competências culturais e um elevado capital cultural institucionalizado —
capital escolar —, como de resto observámos, pode não se traduzir em capital
cultural incorporado). Daqui resulta, por sua vez, uma maior diferenciação nos
géneros artísticos, mas igualmente um maior conhecimento e cruzamento de
géneros diferentes, a par de um esbatimento das classificações rituais,
fronteiras e hierarquias, com o desenvolvimento de justaposições e combinações
ecléticas. Aliás, o alargamento do acesso aos patamares superiores do ensino,
em curso na sociedade portuguesa, contribui para consolidar esta tendência
aventada por DiMaggio, na medida em que reduz substancialmente o valor de
raridade do capital cultural, contribuindo para “uma mútua validação da legitimidade dos diferentes gostos”[1063].
Fischer
corrobora de certa maneira esta tendência para a des‑classificação
cultural e o ecletismo simbólico ao considerar que a diversidade subcultural
urbana aumenta a probabilidade de normas e gostos heterogéneos e desviantes
face a um padrão geral, ao mesmo tempo que a diversificação de fontes de
difusão de informação possibilitará “a
adopção por parte dos membros de uma subcultura das crenças e comportamentos de
outra”[1064]. O contraste entre
os vários círculos sociais, resultante da sua multiplicidade, origina não só
fenómenos de interdependência como também de competição e de conflito. Neste
contexto, mantém toda a pertinência a análise dos consumos culturais como marcadores
de status e de identificação/diferenciação identitária.
No entanto, esta tendência não nos parece
poder ser alargada a toda a estrutura social. Ela aplica‑se
essencialmente às novas classes médias em movimento, cuja posição social não é
facilmente assinalável de acordo com parâmetros clássicos e cujo destino social
virtual não se encontra nitidamente definido. Nos grupos menos móveis manter‑se‑ão,
assim o pensamos, padrões clássicos de familiarização ou distanciamento face a
classificações culturais mais tradicionais, embora nos pareça, dada a
proliferação de obras e consumos de fronteira,
que a dicotomia bourdiana distinção/destituição
deva ser substituída por um continuum que melhor ilustre a especificidade dos
posicionamentos face à cultura. Nesse aspecto, não queremos nem podemos ir
muito mais longe, dada a relativa homogeneidade sócio‑demográfica da
amostra em análise, que nos impossibilita a comparação entre comportamentos e
atitudes culturais representativos da globalidade da estrutura social.
Importa compreender um pouco melhor a
especificidade destas redes. Em primeiro lugar, são redes caracterizadas por
uma homofilia[1065] apenas relativa,
dada a incongruência das várias dimensões de posicionamento social. DiMaggio
salienta a sua abertura a trajectos sociais ascensionais, como é o caso de
segmentos privilegiados de minorias étnicas ou das classes trabalhadoras.
Graham Allan refere a este propósito, as características distintivas da nova classe operária, desenraizada das
suas comunidades de origem, habitando grandes conjuntos residenciais onde não
se desenvolvem fortes laços de pertença e se proporcionam contactos mais
heterogéneos e diversificados, em detrimento dos modelos tradicionais de
sociabilidade centrados na vizinhança e na família[1066]. Jan C. Rupp
salienta, igualmente, na sua teoria de um espaço social a duas dimensões
(económica e cultural), a existência de uma “fracção
cultural das classes populares” com investimentos em certos tipos de arte e
em determinados estilos de vida[1067]. Nestes casos, as
altas expectativas de mobilidade social suscitam uma participação em círculos
sociais onde os recursos culturais interaccionais são centrais. Claro está que
nas redes sociais difusas, próprias das novas
classes médias urbanas os “laços fracos” são “laços ricos”. Pretendemos
ilustrar com esta expressão a constatação de François Héran segundo a qual os
circuitos de interlocutores diversificados e distantes associam‑se,
todavia, a relações socialmente mais “rentáveis”,
fora dos círculos de parentesco e vizinhança, permitindo aumentar o repertório
cultural e informacional dos agentes neles inseridos. Por outras palavras,
redes sociais muito densas, com vínculos emocionais intensos, estão associadas
a um maior fechamento social e a uma elevada “estreiteza de relações”: “A
densidade das trocas no seio de um meio social não reside na densidade das
redes interpessoais mas sim, pelo contrário, na sua dilatação. As duas
densidades variam em sentido inverso”[1068]. Estas redes
funcionam com base nos contactos de “segunda
ordem”, de acordo com a terminologia utilizada por Barnes e retomada por
Félix Requena Santos[1069], ou seja,
interacções accionadas na rede extensa,
formada pelos conhecimentos dos elementos que constituem a nossa rede efectiva, a qual é constituída por
um círculo de pessoas estreitamente ligadas entre si. Ora, os agentes com um
elevado capital cultural e relacional caracterizam‑se pela vastidão da
sua rede extensa, pouco densa,
heterogénea, mas com ramificações em domínios sociais cruciais. A este
propósito alguns antropólogos falam do multiculturalismo presente na vida
quotidiana das sociedades hodiernas, extremamente ligado à crescente
especialização profissional que se desenvolve nessas sociedades. Assim, aumenta
a competência subcultural dos agentes, na medida em que apenas podemos
generalizar determinadas expectativas face a conjuntos limitados de outros. As
expectativas multiplicam‑se em ritmo paralelo à diversidade de situações,
papéis e relações sociais. Claro está que a profundidade dessa competência
multicultural depende do grau de poder desigual dos agentes. Existe, desta
forma, um acesso diferencial à variedade subcultural[1070].
Esta
multiplicação dos laços de sociabilidade e dos repertórios culturais (cada novo
conhecimento abre‑nos os seus pequenos
mundos) está bem patente no discurso de alguns entrevistados:
“Hoje vim assistir a este espectáculo com os
meus pais, mas podia ter vindo com um grupo de amigos que gostassem de música
clássica. Depende um pouco: se for com amigos que gostem de outro género de
música de que eu também goste, acabarei por ir também a concertos de música
brasileira, rock, sei lá, de tudo um pouco, música portuguesa também, porque
não, se houverem bons concertos...” (Rivoli; sexo masculino; estudante do ensino
superior).
“Quando é para o teatro há pessoas que gostam
mesmo, ou quando é para ir a um bar de jazz tem de se gostar mesmo, senão acham
uma seca, enquanto que para um bar alinham todos” (Rivoli; sexo feminino; 23
anos; estudante de um curso de tinturaria).
“Saio com a namorada ou com os amigos. Mas
também organizamos programas para sair no grupo da faculdade” (Praia da Luz; sexo
masculino; 22 anos; estudante do ensino superior).
Convém
no entanto frisar que as saídas nocturnas a lugares de consumo cultural parece
basear‑se mais no grupo de amigos relativamente próximos (na rede efectiva) e não tanto nos circuitos
difusos com interlocutores mais distanciados (rede extensa):
“A importância dos amigos é grande, a pessoa
só vai a um certo sítio se souber que estão lá amigos” (Praia da Luz; sexo
masculino; 25 anos; arqueólogo).
“Nós temos sempre o nosso grupo de amigos,
combinamos sempre e quando temos que sair, saímos sempre juntos. Eu só consigo
curtir a noite se estiver com os meus amigos” (Rivoli; sexo masculino;
estudante do ensino superior)
“A escolha do local depende dos amigos. Por
exemplo, sozinha não saio. Sou capaz apenas de ir ao teatro ou ao cinema
sozinha, mas com os amigos saio mais” (B Flat; sexo feminino; professora de
educação física).
Aliás,
esta constatação obriga‑nos a relativizar o papel das redes difusas de
sociabilidade. De facto, em redes de amigos relativamente homogéneas (a nível
etário, étnico, de status social e mesmo de género, como múltiplos estudos
comprovam[1071]) a informação
circulará ainda mais facilmente e a uma velocidade maior, dada a probabilidade
de existir um forte consenso sobre os pressupostos da comunicação evitando‑se
“ruídos” e facilitando‑se a comunicação. Por conseguinte, e apesar do “acréscimo da «mobilidade de sociabilidade»”[1072] não se pode
generalizar a ideia de uma permeabilidade interclassista isenta de obstáculos.
O estudo recente de Elísio Estanque e José Manuel Mendes indica, precisamente,
que as qualificações, na ligação ao capital cultural, são a dimensão menos
permeável das fronteiras de classe nas redes de amizade, chegando mesmo a
introduzir uma distância simbólica acentuada entre posições de classe
estruturalmente próximas. Concluem por isso os autores que “estamos perante uma estrutura social relativamente rígida também na
constituição de amizades, sendo as qualificações a dimensão estruturadora das
relações sociais de amizade”[1073]. Graham Allan
realça, com base em vários trabalhos anteriores, que a pressão dos círculos
sociais vai no sentido de se “defender” um determinado estatuto social através
do recrutamento de amigos com uma afinidade de habitus: “Claramente, é mais
fácil tratar como iguais aqueles que realmente são iguais”[1074]. Nos nossos dados
encontramos igualmente indícios de um certo fechamento nas redes sociais. De
acordo com o Quadro LXVII são em
valor residual os inquiridos que consideram que “conhecer pessoas novas” é um
dos motivos que os levam a frequentar espaços de vocação cultural. O que
contribui para a ideia de que as saídas culturais se enquadram em redes de
sociabilidade já estabelecidas e não funcionam como uma esfera propícia à sua
dilatação.
Quadro LXVII - Possibilidade de conhecer pessoas novas por espaço
|
Espaço |
||||
|
É a possibilidade de conhecer pessoas novas que o leva a frequentar este local? |
B Flat N=145 (26,5%) |
Praia da Luz N=98 (17,9,%) |
Rivoli N=304 (55,6%) |
|
|
|
Sim N=18 (3,3%) |
5,5 |
2,0 |
2,6 |
|
|
|
Não N=529 (96,7%) |
94,5 |
98,0 |
97,4 |
|
|
De
qualquer forma, as ressalvas anteriores não desmentem nem são incompatíveis com
os múltiplos estudos que apontam para uma cumulatividade por parte das classes
médias e superiores nas diferentes modalidades de sociabilidade. Estas não só
possuem redes mais vastas como, simultaneamente, desenvolvem ao máximo relações
de intimidade. Importante, ainda, é o facto dessas redes não consistirem em
contactos redundantes. Pelo contrário, fornecem uma renovação intensa do
capital informacional, e uma maior electividade. Na medida em que os circuitos
sociais são heterogéneos e assentes em várias esferas da actividade social,
diminui a evidência da pressão social, dando lugar ao desenvolvimento de
relações pessoalizadas. É de supor, por isso, que as saídas culturais não se
organizem sempre com os mesmos amigos já que, ao contrário das classes
populares, os encontros, embora diversificados, afiguram‑se pouco
frequentes e os amigos conhecem‑se menos entre si, ao mesmo tempo que
cada agente apenas revela uma parte do seu
self, aumentando por isso a sua privacidade. Em suma, as classes
privilegiadas ganham em vários tabuleiros: “possuem
mais laços fracos, mas igualmente mais laços reforçados, e mais amigos e
relações electivas não limitadas a um meio ou quadro de inscrição”[1075]. Dito por François
Héran, de uma forma bem mais expressiva, “em
matéria de relações sociais o capital atrai capital” (“Le capital va au capital”)[1076]. Esta maior
independência face aos contextos e quadros de interacção liga‑se
intimamente à noção de rede, distanciando‑se do conceito de “comunidade”,
próprio de segmentos tradicionais e doravante minoritários das classes
operárias[1077]. Esta vivência em
mundos sociais supra‑locais articula‑se, por sua vez, com a
importância de que se reveste a mobilidade social, em especial para as novas
classes médias urbanas: “As relações, tal
como os lugares de residência, constituem signos sociais”[1078], indicadores de
trajectos, referências e aspirações, portadoras de sentido e geradoras de
representações subjectivas, embora inscritas objectivamente no espaço social.
Finalmente,
importa precisar um pouco melhor o alcance (e os limites) das propostas de
DiMaggio para uma nova conceptualização das relações entre cultura e estrutura
social. O autor americano nunca o referiu com exactidão, mas as suas teses
aplicam‑se nitidamente (e essa é uma das suas limitações, como adiante
explicaremos) aos chamados “novos intermediários culturais” ou à fracção que
Bourdieu apelidou de nova pequena
burguesia e que nós temos vindo a designar, talvez com excesso de conforto,
por novas classes médias urbanas. No
entanto, ao contrário de Bourdieu, que vê na relativa indeterminação social
desta fracção de classe o resultado de uma “trajectória
interrompida”[1079], quer porque não se
conseguiram conservar as elevadas posições de origem (indivíduos em trajectória
descendente, oriundos da burguesia — “pequeno‑burgueses
desclassificados, pretendentes à reclassificação”[1080]), quer porque se
pretende rentabilizar o diploma obtido através de um processo ascensional,
pensamos que ela representa hoje em dia o pleno do capital cultural. O autor
francês associa os seus comportamentos culturais à tensa “pretensão à distinção”, muitas vezes exercida através do bluff cultural (em especial na sub‑fracção
caracterizada por trajectórias descendentes). No entanto, ao definir os seus
domínios profissionais (“apresentação e
representação”; “venda de bens e
serviços simbólicos”; “produção e
animação cultural” e profissões artísticas[1081]) Bourdieu
salientou, sem lhes reconhecer a devida importância, os poderosos recursos de
que esta fracção actualmente dispõe, em íntima associação com a “nova burguesia”[1082] e que lhe conferem um estatuto central na reprodução
social global.. O seu estilo de vida obedece, a nosso ver, a um padrão comum,
definido, precisamente, pela sua posição face quer à produção, quer ao consumo
simbólicos. Sem constituir uma surpresa, a argúcia analítica do autor francês
capta o essencial dos seus modos de vida: “A
nova burguesia é a iniciadora da conversão ética exigida pela nova economia da
qual retira a sua força e os seus lucros e cujo funcionamento depende tanto da
produção de necessidades e de consumidores, como da produção dos próprios
produtos. A nova lógica da economia substitui a moral ascética da produção e da
acumulação, fundada na abstinência, na sobriedade, na poupança, no cálculo, por
uma moral hedonista do consumo baseada no crédito, no gasto, na fruição. Esta
economia pretende um mundo social que julgue os homens de acordo com as suas
capacidades de consumo, o seu standing,
o seu estilo de vida, assim como pelas suas capacidades de produção”[1083]. O que os pós‑modernos
vêem como a desarticulação dos modelos fordistas[1084] em direcção a uma
pluralidade, dispersão e fragmentação libertadoras (causa e consequência da
novas formas de acumulação do capital, ditas flexíveis) e demarcadas de lógicas classistas (estilização das
experiências de vida; exploração lúdica do quotidiano, ligação das posturas
corporais e modos de apresentação à expressão do self; diluição de hierarquias e classificações; maior importância
dos códigos simbólicos do que do estatuto social e das pertenças de classe;
aumento do espaço pessoal e dos
repertórios de gosto; etc.) é analisado por Bourdieu como mera eufemização do habitus e simulacro de descontracção, de forma a tornar a dominação
mais doce e dissimulada: “Apenas os ingénuos podem ignorar, depois de
tantos trabalhos históricos sobre a simbólica do poder, que os modos
vestimentários e cosméticos são um elemento capital do modo de dominação”[1085]. A questão reside,
uma vez mais, na unidimensionalidade da perspectiva do autor francês ao colocar‑se
no extremo oposto da “ingenuidade”. Desta forma, apenas vê criticamente
dominação e imposição arbitrária onde podem existir dimensões existenciais não
negligenciáveis (autoexpressão, autorealização, projectos de vida) e lógicas
sociais mais complexas. Voltaremos a este ponto nas conclusões e reflexões
finais.
A nossa
amostra fornece‑nos informação limitada, indirecta e parcial, a respeito
da preponderância destas novas classes
sociais nos públicos de certas instituições culturais urbanas. De facto,
como já foi referido, escasseiam os dados sobre a profissão e a situação na
profissão dos inquiridos, por ausência de resposta. As nossas afirmações têm
essencialmente em conta os dados sobre a mobilidade social com base no capital
escolar[1086], bem como o volume
de que este se reveste. Realçamos, em particular, a intensidade das
trajectórias de mobilidade social ascendente em direcção a situações de posse
de grande volume de capital escolar como um indicador significativo. No
entanto, um inquérito realizado pela direcção do B Flat (e por nós tratado) fornece‑nos
alguma informação que em parte complementa a lacuna antes referida. Atentemos
no quadro seguinte:
Quadro LXVIII — Composição profissional
dos públicos do B Flat
|
Grupos Profissionais |
N |
% |
|
Dirigentes e quadros superiores |
24 |
5 |
|
Profissões intelectuais e científicas |
231 |
47.8 |
|
Profissões técnicas intermédias |
66 |
13.7 |
|
Empregados e outros assalariados do terciário |
45 |
9.3 |
|
Trabalhadores da agricultura e pescas |
1 |
0.2 |
|
Operários qualificados |
8 |
1.7 |
|
Desempregados, reformados e domésticas |
2 |
0.4 |
|
Estudantes |
106 |
21.9 |
|
TOTAL |
483 |
100 |
De
acordo com estes dados, e se somarmos o peso relativo dos dirigentes e quadros
superiores ao das profissões intelectuais e científicas, obtemos 52.8%. Necessitaríamos de desagregações
mais finas, mas muito provavelmente estaremos em presença do que Bourdieu
apelidou de nova burguesia e nova pequena burguesia e que outros
simplesmente apelidam de novos
intermediários culturais[1087] (designação também
presente em Bourdieu). Muitos dos estudantes presentes nesta amostra irão
certamente engrossar o peso desta categoria. Aliás, pela análise da composição
etária, a sua grande maioria frequenta o ensino superior. São estas as camadas
sociais que mais concentram as suas energias rotineiras na obtenção de capital
simbólico, mediante a produção, difusão e consumo de bens e serviços que
assentam o seu cariz distintivo na sua estrutura igualmente simbólica. Os seus
estilos de vida encontram‑se em íntima conexão com as tendências mais
“avançadas” do chamado capitalismo
tardio”: “A flexibilidade pós‑moderna,
por seu turno, é dominada pela ficção, pela fantasia, pelo imaterial
(particularmente do dinheiro), pelo capital fictício, pelas imagens, pela
efemeridade, pelo acaso e pela flexibilidade em técnicas de produção, mercados
de trabalho e nichos de consumo”[1088]. A “economia vodu” e as tendências
culturais mais visíveis e marcantes da contemporaneidade não estão, por
conseguinte, em dissociação. A dominância do estético e das dimensões
ontológicas encontram correspondências materiais e objectivas nos processos
sociais globais, embora fora de lógicas de determinação unilinear.
A
questão afigura‑se, por isso, bastante diferente do que habitualmente é
proposto. Sem negarmos a existência de amplos movimentos, ritmos e tempos
culturais contraditórios e assincrónicos (por exemplo a coexistência conflitual
da modernidade, da modernidade tardia
e da pós‑modernidade em vez da sua sucessiva superação e
incompatibilidade) e sublinhando a ambivalência de que se revestem, urge
aceitar, simultaneamente, a multiplicidade de factores que estão associados
(embora seja por vezes extremamente difícil saber em que medida funcionam numa
relação directa de causa e/ou efeito) à emergência e consolidação (por mais
paradoxal que possa parecer este termo, em tempos de ávida circulação/substituição
de referências) de novos modos de vida. Só assim conseguiremos localizar nos
planos social e espácio‑temporal, o grau de generalização e/ou
localização de significativas mudanças sócio‑culturais que aqui foram
sendo assinaladas. Nenhum conjunto de mudanças, por mais profundo e
revolucionário que seja, se furta à história e à geografia de uma dada formação
social.
CAPÍTULO XII
DA RECEPÇÃO CULTURAL
A Activista Cultural
O
passo decidido não acerta com o cismar do
palácio
O ouvido não ouve a flauta da penumbra
Nem
reconhece o silêncio
O
pensamento nada sabe dos labirintos do tempo
O
olhar toma nota e não vê
Sophia de
Mello Breyner Andresen in O Búzio de Cós
e Outros Poemas
1. A recepção, o corpo e os
seus contextos.
As
formas de ocupação dos cenários de interacção pelos agentes sociais e as
posturas corporais que lhes estão associadas traduzem uma determinada atitude
receptiva face ao ambiente social circundante. A análise das expressões
transmitidas mas sobretudos emitidas (“de
tipo mais teatral e contextual, de tipo preferencialmente não verbal e
aparentemente não intencional”[1089], como Goffman
sublinha) fornece importantes indícios de como os indivíduos percepcionam, a um
nível nem sempre consciente, por vezes mesmo quase inconsciente[1090], as linguagens dos
espectáculos que presenciam. Trata‑se, por assim dizer, de um espectáculo dentro do espectáculo,
uma representação de segunda ordem a que o investigador acede pela sua grelha
de análise. Como refere Serge Collet, “o
espectador é «actor» no seu corpo no próprio lugar do espectáculo”[1091].
Muitos
desses indícios (que são efectivamente formas
de comunicação) conseguem ser captados pelos produtores e programadores
culturais mais atentos às reacções e performances
dos públicos:
“P‑ Através de que
indicadores é que captas a adesão dos públicos?
R‑
Normalmente através das reacções que se observam nos intervalos ou no final dos
espectáculos. Em alguns casos só mesmo por observação, porque não conheço as
pessoas e elas não se dirigem a mim. Noutros casos conheço as pessoas e falo
com elas e há ainda outras que vêm ter comigo porque percebem que estou ligada
ao teatro e gostam de expor a sua opinião” (programadora cultural do
Rivoli).
Podemos seguir os modelos interaccionistas e afirmar que
grande parte dos significados não verbais captados pelo investigador no decurso
de um processo de observação directa fazem parte de uma intenção mais vasta de desempenho, por forma a alcançar, face
aos interlocutores e à audiência, um consenso
operacional sobre a situação de interacção[1092]. No entanto,
assistir a um espectáculo cultural constitui uma ocasião de relativa fuga à
rotina, considerando não só a raridade relativa das saídas culturais, como o
grau de ritualização e poder simbólico que exprimem, em particular em locais
como os que se encontram em estudo. Nesse sentido, a incorporação corporal de
hierarquias e sistemas de classificação, ou, pelo contrário, a sua transgressão
mais ou menos intencional, traduzem o processo mais vasto de socialização das posturas
e performances corporais. Assim,
apropriarmo‑nos analiticamente da apropriação social presente na
corporalidade, conduz‑nos à multiplicidade de actos perceptivos em
contextos de recepção cultural. Tal démarche,
por sua vez, obriga‑nos à abdicação de qualquer ponto de vista soberano,
patente nas versões mais etnocêntricas e logocênticas de um objectivismo que “constitui o mundo social como um
espectáculo que se oferece a um observador que adopta «um ponto de vista» sobre
a acção, retirando‑se para a observar”[1093]. É dessa visão “quase‑corporal” do mundo, “que não supõe nenhuma representação nem do
corpo nem do mundo”[1094] que nos propomos em
seguida falar, assumindo as posturas corporais e sensitivas como plenas
práticas culturais. No entanto, ao considerarmos a corporalidade como conceito
integrante do habitus, não
pretendemos reduzi‑la a uma mera representação interna de um mundo social
exterior. Ou seja, se é verdade que o “corpo
socialmente informado” não escapa “à
acção estruturante dos determinismos sociais”[1095] não é menos verdade
que ele transcende a mera exteriorização das aprendizagens sociais e das
estruturas simbólicas. Dito de outra forma, o corpo não será o produto de uma
simples domesticação social; ao tornar‑se, também ele, fonte e veículo
dos vínculos relacionais, intersubjectivos, produz e experimenta continuamente
o mundo. Ora, se não analisamos apenas as representações mentais e cognitivas;
se não nos quedamos somente pelos conceitos que os agentes produzem enquanto lay sociologists; se não nos contentamos
com o estudo da verbalidade e da escrita (as “práticas de inscrição”[1096]) somos obrigados
não só a relacionar o corpo com o corpo
social (lugar de memória social permanentemente actualizada) mas igualmente
a entendê‑lo como disposição afectiva. Como refere Vale de Almeida: “A experiência corporizada não pode ser
entendida só pelo cognitivismo e pelo modelo de significação linguística,
reduzindo o corpo ao estatuto de símbolo. O significado não pode ser reduzido a
um símbolo que existe num nível separado, exterior às acções do corpo (...) ao
cultivarmos o hábito é o nosso corpo que compreende”[1097]. Além do mais, a
emoção é também um estado cognitivo, uma forma de conhecimento e de mobilização
de atitudes[1098].
Pretendemos em seguida, de acordo com vários exemplos
extraídos das nossas incursões etnográficas, problematizar e ilustrar o que
anteriormente defendemos.
1.1. As palmas ou a ambivalência dos comportamentos.
“Bernard Dort escreveu um dia que os aplausos
são o fim de tudo. É, igualmente, o último momento do confronto entre actores e
público, o fim do seu diálogo silencioso”.
Cláudia de Oliveira, A Vida em Silêncios Comunicantes[1099]
Algumas
das situações que presenciamos traduzem com acutilância a ligação das posturas
corporais ao conjunto de convenções interiorizadas de forma socialmente
diferenciada de acordo com os meios sociais dos agentes. O bater de palmas
fornece‑nos, a esse respeito, interessantes pistas.
De
facto, bater palmas em diferentes momentos de um espectáculo é considerado uma
das formas mais visíveis (audíveis...) e socialmente reconhecidas de demonstrar
o (des)gosto e o grau de apreço pelo desempenho dos artistas. Ao mesmo tempo,
torna‑se um indicador precioso do carácter efémero, único e irrepetível,
de cada concerto, peça de teatro ou performance,
evidenciando a base instável e evanescente de transmissão de significados das
artes vivas.
Assistimos
a um momento em que convenções sócio‑culturais estabelecidas e
sedimentadas (institucionalizadas) foram subvertidas, não sem ambivalência, por
fracções significativas do público que assistia a um concerto em que Maria João
Pires interpretava Schubert, intercalada pela leitura de Eunice Muñoz de
fragmentos de O Viajante Magnífico.
Ora, ao sentarem‑se nos seus lugares, os espectadores eram confrontados
com um folheto onde se pedia expressamente para apenas se aplaudir no final do
concerto‑récita, excluindo‑se mesmo o momento de interrupção para
intervalo. No entanto, ao contrário de tal solicitação, as palmas irromperam
não só no final da primeira tarde, como depois da leitura particularmente
expressiva de alguns textos ou ainda posteriormente a cada andamento. Tal
comportamento suscitou interpretações ambivalentes por parte dos próprios
espectadores. Houve quem assumisse uma atitude iconoclasta de afronta a um
pedido tido como impertinente ou quase ofensivo (qualificando o folheto de “ridículo” e “desnecessário”. Weber e Bourdieu certamente que não deixariam de
descobrir aqui um efeito de “defesa de honra” que caracteriza certos grupos de
status. O autor francês quiçá iria mais longe e aventaria a hipótese de uma
reacção ao ultraje dos pergaminhos culturais de certas classes sociais. Afinal,
ensina‑se o padre‑nosso a quem tão bem sabe rezar e se movimenta
com sobejo à‑vontade nas liturgias culturais... Outras pessoas com quem
conversámos salientaram, pelo contrário, a incompetência cultural de boa parte
do público, pouco familiarizado, apesar da presença de várias figuras ilustres
do mundo da política e dos negócios, com os rituais e competências deste tipo
de espectáculo. Aliás, uma senhora não deixou escapar uma crítica implícita ao aggiornamento da etiqueta da “cultura
nobre”: “Aquelas pessoas que batem palmas
antes do tempo... Eu também fazia isso quando era criança e envergonhava muito
o meu pai”.
Alguns
registos de observação abonam a favor desta hipótese interpretativa que
enfatiza a relativa disjunção entre capital económico e cultural. Com efeito, o
cenário da ocasião afigurava‑se diferente das habituais soirées do Rivoli. Casacos de peles,
penteados cuidados, gravatas e laços surgiam com profusão, confirmando a
aparência sofisticada das formas de apresentação em cena. No espaço de entrada,
multiplicavam‑se os sinais de inter‑reconhecimento, como que a
confirmar o carácter restrito de um círculo social relativamente homogéneo,
onde destoavam fortemente alguns grupos minoritários de jovens com traje
informal ou “pormenores” provocadores (cabelos multicoloridos). As conversas
que conseguimos captar e registar remetiam para universos exteriores à cultura
cultivada, reenviando‑nos para um pequeno mundo mundano: os brinquedos
que o filho recebeu no Natal; a situação económica de uma determinada empresa,
o falar de alguém ausente que ainda no dia anterior foi reconhecido na missa.
Um comentário dissonante ficou ainda registado no diário de campo : “Hoje cheira muito a naftalina”.
Moral da
história: as palmas podem ter vários significados. No caso presente, oscilaram
entre a incompetência cultural de uma burguesia incapaz de converter
eficazmente o seu capital económico em capital cultural (o que mais uma vez nos
alerta para a heterogeneidade dos comportamentos das classes dominantes), pouco
socializada em saídas culturais frequentes e atraída pelo valor simbólico do
“nome” de Maria João Pires e Eunice Muñoz e a subversão momentânea das regras
por quem se sentiu ofendido pelo implícito questionamento da sua competência
cultural.
Um outro
caso relacionado com a exteriorização do gosto através do bater de palmas
ocorreu com a representação da peça de teatro Hotel Orpheu de Gabriel Gbadamosi. No final, e perante o pequeno
auditório dividido entre um grupo de jovens oriundo de escolas secundárias e um
outro de idosos, provenientes de instituições públicas, era nítido o agrado dos
primeiros, traduzido em palmas, e o embaraço dos segundos, denunciado pelo
silêncio. De facto, se tivermos em conta o realismo cru da peça, e em
particular de determinadas passagens, compreenderemos melhor esta recepção
diferencial. De facto, só para mencionar o exemplo talvez mais elucidativo, a
um dado momento, numa atmosfera algo claustrofóbica de um pequeno quarto de uma
pensão lisboeta, assiste‑se à preparação de uma dose injectável de
estupefacientes, com todos os utensílios que lhe estão associados: a colher, o
isqueiro, a seringa. Nada, como fazia notar uma das programadoras do Rivoli que
entrevistámos, que não caiba no universo de possíveis do jovem público. No
entanto, um quadro suficientemente afastado das categorias cognitivas dos
idosos para lhes causar estranheza, perplexidade, eventualmente repulsa. Dito
de outra forma, os códigos (sistemas de signos) transmitidos não se integravam
no seu “modo habitual de percepção”[1100].
Um
último exemplo. Numa espectáculo de jazz “experimental”,
com um forte grau de improvisação, a desatenção selectiva do público
generalizava‑se a grande parte da sala. Apenas uma minoria activa,
situada em frente ao palco (se é que se pode ainda falar de palco quando
existe, como é o caso do B Flat, uma total continuidade com a sala) aplaudia no
fim de cada “melodia”, trocando sorrisos cúmplices com os artistas durante as
actuações e escutando muitas as vezes a música de olhos fechados, em estado de
aparente sintonia receptiva. Se fizéssemos um travelling etnográfico pelo resto do espaço, depararíamos com muita
gente de pé, perto do balcão, a beber e a conversar, em especial homens,
totalmente abstraídos do espectáculo, sem sequer bater palmas. Numa mesa um
grupo de homens fala de negócios que envolvem “para cima de 700 contos”. Noutra mesa, um casal disserta
igualmente sobre dinheiro: “Para que
queres o dinheiro? Para gastar em coisas que te digam alguma coisa. Se calhar,
noutra altura da tua vida, tens filhos, uma casa. Agora não!”[1101]. Não deixa de ser
curioso constatar que, de facto, a maior parte dos presentes, naquela actuação
marcada “pela improvisação colectiva”,
pelo “risco e a urgência”, conforme
consta do folheto que publicita o espectáculo, não se encontra sintonizado e
sincronizado com os tempos da mesma. Enquanto que a “selectividade perceptiva” da minoria de espectadores
familiarizados com as regras sem regra da improvisação jazzística os leva a
evidenciar sinais corporais de atenção, distensão e prazer, a maioria da
clientela exibe desconhecimento, desinteresse, fuga (para locais distantes do palco
ou para temas de conversa totalmente dissonantes com a actuação). Não se trata
sequer da falta de inteligibilidade dos “melómanos
profanos”, que os conduz a atitudes de desorientação e perplexidade
perceptiva, nem tão pouco de sentimentos de “agressão
auditiva” de que nos fala Pierre‑Michel Menger[1102] e que Robert
Francès também regista em situações em que se rompe o equilíbrio entre os
códigos habituais da oferta e as competências treinadas do público homólogo[1103]. O que observámos
foram indícios de uma completa desatenção perceptiva, uma forma de recepção
pela não‑recepção, possível em espaços informais e conviviais como o B
Flat e a Praia da Luz, mas incompatível com a “rigidez” do teatro municipal.
1.2. Theatrum mundi ou o palco do público.
Cláudia
de Oliveira retoma Bernard Dort para defender a ideia de uma delimitação de
fronteiras entre espaços de representação distintos: o dos artistas e o dos
espectadores: “De facto, verificamos que
os espectadores têm no foyer o espaço de representação para um público
imaginário. Se a sala os “bane” da cena, eles encontram nesse recanto do teatro
a sua própria cena, onde se “representa” a peça do público (...) através das
observações desenvolvidas, tornou‑se explícito que o intervalo retirava
ao público o anonimato da sala, devolvendo‑lhe a possibilidade de usar o
seu corpo e a palavra”[1104]. Não poderíamos
estar mais de acordo, com excepção de um aspecto fundamental: o público‑alvo
desta representação “secundária” não é meramente imaginário. É um público real,
visível, quase palpável e sujeito a uma avaliação pragmática no contexto de
interacção. Os actores que são também o público do seu próprio espectáculo,
accionam uma panóplia de rituais e de competências avaliativas, assentes em
convenções culturais de apresentação em cena, que lhes permitem, mediante a
utilização desses sistemas codificados (linguísticos, gestuais, corporais no
sentido mais vasto), fazer referência a signos e valores ausentes da percepção
imediata (carácter simbólico da interacção)[1105], que remetem para
diferentes posições nos processos de construção social da realidade. Por isso,
sem deixar de compartilhar com a representação “primeira” qualidades “lúdicas, ficcionais e ilusórias” o jogo
social acarreta, igualmente, consequências reais e objectivas.
As
regras de cortesia tradicionais atingem nos intervalos de determinados
espectáculos do Rivoli que se realizam no grande auditório (em especial na
música e bailado clássicos) a sua expressão mais visível. Nos restantes espaços
do teatro municipal, na Praia da Luz e no B Flat a informalidade reinante
(embora por vezes estudada) permite a interacção entre artistas e público,
aliás muito próximos fisicamente. Há espectáculos no B Flat, em especial quando
se toca um tipo de jazz dançável, que
levam o público a uma grande exuberância de sinais, batendo palmas
sincopadamente com o ritmo. Esta constitui uma forma frequente de recepção
activa, apesar de não se manifestar verbalmente, de forma intelectual ou
analítica, modalidade frequente através dos comentários e das conversas em
comum, em que se desconstrói a pluralidade de conteúdos e de mensagens do
espectáculo a que se assistiu, de forma a integrá‑las, depois de
“trabalhadas” de acordo com o horizonte
de expectativa de cada agente, em modos
de percepção estabelecidos que são, eles próprios, objectos de uma
acumulação de repertórios e de capital informacional sujeitos a uma constante reprodução interpretativa[1106], de acordo com as
novas apropriações perceptivas. De facto, não há mimesis na recepção das obras, tão pouco mera interiorização
indiferenciada e mecânica dos seus significados. Tudo depende, a nosso ver, de
uma tríade fundamental: a estrutura da obra, o sistema de referências e o
projecto cultural do receptor (ou a sua ausência) e o cenário de interacção onde
se desenrola a apreensão da mesma. Frequentemente, esta cadeia de interrelações
e negociações, traduz‑se corporalmente em estados receptivos
exteriorizados e captados pelas grelhas analíticas do investigador. Um cantor
de um grupo de blues que salta repentinamente
para uma mesa, contaminando a assistência com a sua espontaneidade
(calculada?), quebrando e desmistificando (ainda que para a reforçar...) a
fronteira que divide artistas e audiência, teria grande probabilidade de ser
recebido com entusiasmo no B Flat, como de facto aconteceu, ou no café concerto
do Rivoli, mas encontraria barreiras físicas e cognitivas no grande auditório
do teatro municipal, onde o próprio conforto reinante convida a uma agradável
posição de espectador calmo e corporalmente menos activo.
Esta
questão leva‑nos a exprimir uma discordância face às teses
ultrapessimistas da teoria crítica de Richard Sennett sobre os comportamentos
na esfera pública e semi‑pública. De acordo com este autor, a sociedade
íntima destruiu a expressividade na arena pública, já que a moral da
autenticidade desenvolve uma relação hostil com a teatralidade dos papéis
sociais. Dito de outra forma, as máscaras, as convenções e as regras de
relacionamento são consideradas obstáculos ao processo mútuo de auto‑ desvendamento de que nos fala Giddens[1107]. Perde‑se,
ainda segundo Sennett, a criatividade existente na distância que existia entre
a representação e o self, outrora
mais resguardado. Sennett interpreta toda a teoria da interacção desenvolvida
por Goffman como um sinal de que os papéis sociais se tornaram meramente
acomodativos face à situação[1108]. Todavia, todo o
nosso trabalho de observação directa metódica e sistemática permitiu‑nos
registar uma grande variedade comportamental associada à componente contextual
da representação de papéis em que se mantêm distâncias significativas entre a
apresentação em cena e os domínios recônditos do self, bem como uma diversidade assinalável de reacções face à
definição da situação.
Serge
Collet defende que o espectador é ainda um actor “no momento de circulação das impressões e de julgamentos, de um
espectador a outro, de um espectador a um futuro espectador”[1109]. Reencontramos,
nesta afirmação, a ênfase que DiMaggio coloca na cultura como motivação para a
mobilização grupal e para a interacção colectiva, mesmo que tal se faça com
sacrifício dos seus significados intencionais. De facto, registamos centenas de
pequenas conversas que ocorriam no intervalo das actuações, ou após o seu fim,
transmitindo uma sensação que a nosso ver se aproxima do significado que Eco
pretendia com o conceito de “obra aberta”.
No entanto, as conversas direccionadas para o
debate e apreciação do espectáculo são apenas maioritárias no pequeno e grande
auditório do Rivoli, reenviando‑nos para um tipo de recepção mais
analítica e reflexiva, em que o receptor integra e relaciona várias dimensões,
desenvolvendo mesmo a competência de pensar sobre a sua própria percepção[1110]. Geralmente são os
espectadores mais familiarizados com o género artístico em questão, que
conhecem o percurso dos artistas e que acumulam informação de várias fontes, em
particular através da crítica especializada[1111]. No outro oposto do
continuum, temos a recepção feita corpo, ao nível da consciência prática e dos
juízos estéticos implícitos e não formulados discursivamente: “o espectador está preso ao que percepciona
(...) estabelece uma relação mais sentida que conceptualizada entre os
diferentes significantes do espectáculo e os seus significados”[1112]. De certa maneira
fora deste eixo está a não‑recepção que é, paradoxalmente, um tipo
específico de recepção (constitui um registo cognitivo, uma atitude) e que
encontra expressão adequada nas várias dezenas de registos de situações de
interacção em que os temas de conversa se desviavam totalmente do campo
semântico da representação, versando desde as insinuações sexuais mais ou menos
subtis (público adolescente da Praia da Luz); os comentários cosmopolitas e
mundanos sobre destinos de viagens (jovens adultos quer do B Flat, quer da
Praia da Luz[1113]); futebol (Praia da
Luz, adolescentes); percursos escolares (estudantes universitários, comum aos
três espaços); gastronomia requintada (adultos, B Flat); avaliações do grau de
diversão da noite anterior (Praia da Luz, adolescentes e jovens adultos);
apreciações sobre pessoas ausentes (comum aos três espaços e a todas as faixas
etárias); etc.
Em suma,
nos “palcos” em que os espectadores se tornam actores, antes mesmo de analisar
o tipo de recepção em eixos que podem ir da percepção imediata/espontânea, à
percepção analítica ou percepção do “esteta”
ou do “sábio” à da “gente comum”[1114], ou ainda da
percepção intelectual à percepção corporal/sensual[1115], importa considerar
o projecto cultural dos agentes em questão. Dito de outra forma, urge conhecer
a constelação e hierarquia de motivos que os levam a estar presentes num
determinado local para assistir a um determinado espectáculo: razões
intrínsecas ao mesmo (qualidade, curiosidade, familiarização preexistente,
etc.)?; impulso convivial, no quadro de uma ética de diversão?; desejo de
distinção e reconhecimento social?; vontade de “aprender” com o contacto com a
obra e os artistas, compensando um défice de formação cultural?; querer estar
na moda e manter‑se actualizado?; atracção pelo cenário onde decorre o
espectáculo; combinações entre estes e outros possíveis motivos?
O Quadro LXX fornece‑nos algumas
pistas a esse respeito. Com efeito, a escolha de um dos três locais em análise,
como se pode constatar, obedece, antes de mais (22.2%, se não contarmos com os inquiridos que assinalam vários
elementos) a factores extrínsecos ao próprio lugar e que têm a ver com as redes
de sociabilidade, o que confirma pistas interpretativas lançadas em capítulos
anteriores. Seguem‑se as dimensões intrínsecas ao espaço em questão e
apenas em terceiro lugar as motivações ligadas à aprendizagem e fruição
culturais. Ou seja, muitas das pessoas que frequentam os locais de espectáculo
fazem‑no também por outras razões que não as directamente ligadas à sua
vocação principal (com excepção da Praia da Luz, onde as apresentações
culturais aparecem como reforço da função principal de
bar/restaurante/esplanada). Podemos mesmo considerar que o peso relativo dos
“activistas culturais” é reduzido e minoritário. Por outras palavras, os usos
dos locais de cultura não se cingem às utilizações culturais no seu sentido
mais estrito e denunciam, igualmente, uma recomposição profunda do campo
cultural e das suas práticas.
Quadro LXX - Factores predominantes para a presença no local por
capital escolar de ego
|
Capital Escolar de Ego |
||||
|
Factores Predominantes para a presença no local |
Baixo N=24 (5,4%) |
Médio N=99 (22,5%) |
Alto N=318 (72,1%) |
|
|
|
Factores Intrínsecos N=82 (18,6%) |
8,3 |
15,2 |
20,4 |
|
|
|
Factores Extrínsecos de Sociabilidade N=98 (22,2%) |
12,5 |
38,4 |
17,9 |
|
|
|
Factores Extrínsecos de Cultura de Saídas N=57 (12,9%) |
25,0 |
13,1 |
11,9 |
|
|
|
Factores Extrínsecos de Aprendizagem e Fruição Cultural N=69 (15,6%) |
29,2 |
12,1 |
15,7 |
|
|
|
Factores Vários N=135 (30,6%) |
25,0 |
21,2 |
34,0 |
|
|
2. Recepção cultural e horizonte de expectativa.
Se
analisarmos o Quadro LXXI
constatamos que o espectáculo a que os inquiridos acabaram de assistir apenas
frustrou as expectativas para uma minoria. Para a maior parte dos indivíduos
que possuem um médio ou alto capital escolar, as expectativas foram correspondidas
e para um número significativo, ainda que menor, a exibição excedeu as
expectativas. Aliás, o mesmo aconteceu para a maioria dos inquiridos com um
baixo capital escolar.
Algumas
ilações podem ser retiradas a partir destes resultados. Por um lado, a relativa
adequação mútua entre o espectáculo e as expectativas criadas a seu respeito.
Tal poderá indicar um grau elevado de familiarização com o género em questão,
os códigos utilizados, a interpretação dos artistas ou o seu percurso. Não há
grande margem de manobra para surpresas, sejam elas agradáveis ou
decepcionantes. A recepção actua no horizonte de uma certa previsibilidade.
Quadro LXXI - Opinião sobre o espectáculo por capital escolar de ego
|
Capital Escolar de Ego |
||||
|
Opinião sobre o Espectáculo |
Baixo N=20 (5,1%) |
Médio N=84 (21,4%) |
Alto N=289 (73,5%) |
|
|
|
Excedeu Expectativas N=139 (35,4%) |
70,0 |
35,7 |
32,9 |
|
|
|
Correspondeu às Expectativas N=199 (50,6%) |
25,0 |
47,6 |
53,3 |
|
|
|
Frustrou as Expectativas N=40 (10,2%) |
5,0 |
15,5 |
9,0 |
|
|
|
Outra Resposta N=15 (3,8%) |
|
1,2 |
4,8 |
|
|
Como o
próprio Jauss refere, a recepção está em boa parte inscrita na própria obra e
na relação que o receptor estabelece com as obras antecedentes. Starobinski
acentua este aspecto, ao sublinhar que “que
uma obra (...) não se apresenta como uma novidade absoluta surgindo num deserto
de informação (...) o novo texto evoca para o leitor (ou auditor) o horizonte
de expectativas e de regras do jogo com o qual os textos anteriores o
familiarizaram”[1116]. Esta, no entanto, não esgota o campo de possíveis da
recepção. Repare‑se que, para a maior parte dos inquiridos com baixo
capital escolar, as expectativas foram ultrapassadas pela positiva.
Provavelmente estes inquiridos “usufruem” de uma maior liberdade e
indeterminação interpretativas na medida em que foram menos colonizados e
socializados pelas regras legítimas do jogo receptivo. Estas hipóteses
compreensivas não invalidam, bem entendido, que no conjunto dos que não foram
“surpreendidos” pela representação não coexistam atitudes receptivas
heterogéneas. O julgamento estético e a apropriação activa da obra, mesmo
actuando num sistema de referências ou guião preestabelecidos relativamente
rígido, não são isentos de novidade e modificação.
Conhece‑se
a este respeito o critério de qualidade estabelecido por Jauss. Sempre que a
obra confirma um determinado horizonte de
expectativa, ela aproxima‑se da “arte
culinária”, que preenche essencialmente funções de “simples divertimento”[1117]. Pelo contrário,
existindo um desvio ou hiato entre o horizonte
de expectativa do receptor e a obra, abre‑se o espaço à inovação e à “mudança de horizonte”, característica
seminal do artístico.
Ora,
seguindo à letra estes critérios, poderíamos um tanto ou quanto apressadamente
pensar que a maior parte dos inquiridos com médio e alto capital escolar se
confronta com um tipo de arte que cumpre perfeitamente “a expectativa suscitada pelas orientações do gosto dominante, satisfaz
o desejo de ver o belo reproduzido sob formas familiares, confirma a
sensibilidade nos seus hábitos”[1118]. E no entanto Jauss
pensa fundamentalmente na sociedade do espectáculo, aquela que “serve o «sensacional» sob a forma de
experiências estranhas à vida quotidiana (...) ou então levanta problemas
morais — mas apenas para os «resolver» no sentido mais edificante”[1119].
Se aqui
levantamos este paradoxo foi com a intenção de colocarmos em evidência algumas
das ambiguidades que a proposta de Jauss acarreta. Não só a dicotomia “arte culinária”/”verdadeira arte”[1120] se revela
reducionista como, para fazer sentido, deve ser aplicada às formas de recepção
competente da “arte legítima”, por parte de “públicos legítimos”. Por outras
palavras, se estes vêem mais ou menos confortavelmente (re)confirmado o seu “horizonte de expectativa”, então
estamos em presença de uma atitude receptiva que aponta para a presença de uma “arte culinária”, mesmo que se trate de
uma obra que joga com as disposições cultivadas (herdadas e/ou adquiridas em
diferentes níveis de aprendizagem e socialização) de determinadas audiências.
Neste mesmo sentido, os inquiridos que são surpreendidos pelo espectáculo (e
que são maioritários, convém não esquecê‑lo, entre os que possuem apenas
um baixo capital escolar) constituem supostamente o núcleo que experimentou
novas experiências estéticas, reconfigurando o seu sistema de referências.
A grande
vantagem da teoria da recepção de Jauss reside, a nosso ver, na síntese que
efectua entre as correntes que defendem a irredutibilidade do estético a
qualquer coordenada político‑ideológica ou histórico‑social
(defendendo que as questões estéticas essenciais são de todos os tempos e
espaços) e as que recusam a existência do valor estético em absoluto, apoiando‑se
no relativismo cultural e sociológico. De facto, o conceito de horizonte de expectativa reconcilia a
história da arte com as histórias de vida dos agentes sociais mas, ao mesmo
tempo, postula um critério de validade artística, ao distanciar a Arte “com
maiúscula” da frugal e banal “arte
culinária”. E se é verdade que as apreciações estéticas (do especialista ou
do leigo mais ou menos “competente”) são histórica e culturalmente contigentes,
não podemos expulsar o problema do valor do campo da discussão (voltaremos a
esta questão no último capítulo).
De
qualquer forma, em termos de eficácia da pesquisa científica, somos levados a
concordar com Nathalie Heinich quando a autora refere que a questão crucial em
termos de análise da percepção estética é: “O
que vê quem? O que vêem aqueles que vão ver, e em que condições o que eles vêem
(o que entendem, ou sentem, ou tocam) é por eles apreendido em termos de beleza
ou ausência de beleza?”[1121]. Neste âmbito,
nesta aproximação à percepção estética da gente comum, não pode haver qualquer
cedência a critérios ou julgamentos de valor sobre a qualidade das obras. Tão
pouco podemos aferir da qualidade das obras pela qualidade dos públicos e vice‑versa.
3. Representações sociais da recepção.
Atente‑se
no Quadro LXXII. Aparentemente ao
contrário do que anteriormente constatámos (veja‑se, por exemplo, o Quadro LXX e os comentários que tecemos
a seu respeito), a esmagadora maioria dos inquiridos declara que as principais
ideias e impressões que lhes foram transmitidas pelo espectáculo a que
assistiram se relacionam com características intrínsecas ao espectáculo[1122], próprias de uma
apreciação mais cuidada, intelectual e analítica, ao contrário da primeira
categoria que se associa claramente a uma dimensão emocional e vivida.
Como
explicar tal disparidade? A nosso ver, ela pode residir numa definição
“defensiva” de identidade face ao objecto “legítimo” de recolha de informação
que é o inquérito por questionário. Ou seja, tendo subjacente ou presente a
imagem ideal de si projectada pelas suas representações sobre o espectáculo,
poderá ter havido uma crença amplamente partilhada, ainda que a níveis pouco
conscientes da acção, de que a revelação de estados emotivos totalmente
subjectivos (“fez‑me sentir bem”;
“causou‑me incómodo e terror”,
etc.) seria um “atestado” de incompetência receptiva que a si mesmos passariam;
por outras palavras, constituiria uma confissão involuntária de actos
receptivos pouco elaborados, ingénuos, rudes. E se a incompetência cultural
destes públicos, como anteriormente registámos, é, em termos dos códigos e
referências da “cultura legítima”, relativamente baixa, nada nos garante que
ignorem o seu nível de ignorância. Ou seja, enquanto frequentadores de espaços
de fruição de cultura, inseridos em redes vastas de sociabilidade, é‑lhes
exigido o domínio de um mínimo
denominador comum cultural que sustente repertórios suficientemente ágeis,
ainda que superficiais.
Quadro LXXII - Ideias e impressões do espectáculo por capital escolar
de ego
|
Capital Escolar de Ego |
||||
|
Ideias/Impressões do Espectáculo |
Baixo N=13 (5,1%) |
Médio N=46 (18,0%) |
Alto N=197 (76,9%) |
|
|
|
Apropriação Pessoal do Espectáculo N=63 (24,6%) |
7,7 |
6,5 |
29,9 |
|
|
|
Características Intrínsecas ao Espectáculo N=193 (75,4%) |
92,3 |
95,5 |
70,1 |
|
|
Estaremos
assim eventualmente em presença de processos sócio‑cognitivos de auto‑categorização
social em que o domínio, ainda que aparente, de competências culturais se
revela central na reflexividade associada à definição de uma identidade real
e/ou imaginária. Como sustenta Jorge Vala, “a
identidade social pode ser concebida como decorrendo da resposta que os
indivíduos se dão à interrogação seguinte: «Quem sou eu?» (...) é provável que
uma parte da resposta a esta questão provenha de uma associação entre o eu e
diversas categorias sociais. Este processo de associação do eu a uma categoria
social (...) e a identidade que dele decorre são determinados tanto por
factores sócio‑estruturais como por fenómenos de comunicação, de
aprendizagem e de reflexividade”[1123].
É certo
que, para alguns, um público não chega a ser um grupo social[1124], mas em “situação de comunicação” falam uma “linguagem comum” e é essa linguagem que
faz dele “uma estrutura social, ainda que
muito amorfa”[1125]. Veja‑se o Quadro LXXIII.
Quadro LXXIII - Razões de sustentação
da opinião sobre o espectáculo por capital escolar de ego
|
Capital Escolar de Ego |
||||
|
Razões de sustentação da opinião sobre o espectáculo |
Baixo N=15 (5,6%) |
Médio N=54 (20,1%) |
Alto N=200 (74,3%) |
|
|
|
Conhecimento pessoal da obra/género N=59 (21,9%) |
20,0 |
22,2 |
22,0 |
|
|
|
Qualidade do Espectáculo N=124 (46,1%) |
66,7 |
53,7 |
42,5 |
|
|
|
Qualidade da Interpretação/Execução N=82 (30,5%) |
13,3 |
24,1 |
33,5 |
|
|
|
Apropriação Pessoal do Espectáculo e da Interpretação N=4 (1,5%) |
|
|
2,0 |
|
|
Uma vez
mais os inquiridos respondem maioritariamente (e com um peso relativo que se
torna mais elevado em razão inversa ao capital escolar) que o essencial para
justificarem o grau de adequação do espectáculo a que assistiram face às suas
expectativas é a qualidade intrínseca do próprio espectáculo. As razões
relativas à qualidade da interpretação e execução da obra (uma dimensão
particular da qualidade global da representação) aparecem a seguir. A
apropriação pessoal do espectáculo tem um valor insignificante. Ou seja, somos
levados a pensar que a apropriação dominante é de tipo estético, embora
possamos falar desta categoria em sentido amplo. Com efeito, como refere Russell
Belk, opondo a recepção estética à recepção propriamente artística, “a apreciação estética de um obra não requer
nem o conhecimento do seu contexto histórico, nem informações sobre outras
obras, enquanto que uma apreciação artística ou própria da história de arte se
funda sobre um tal saber, em vez de se referir unicamente às características
físicas, intrínsecas da obra”[1126]. Esta concepção
permite‑nos, uma vez mais, aproximar a análise das atitudes perceptivas
“leigas”, rejeitando qualquer tipo de etnocentrismo epistemológico. O que nos
causa perplexidade, no entanto, levando‑nos a falar de um efeito de construção de imagem com intuitos
comunicativos é a tão fraca ênfase colocada nos estilos cognitivos, ou seja, nas capacidades individuais de
tratamento da informação[1127], em favor de uma
aparente descodificação da estrutura da obra, o que, para além de se desligar
de uma componente afectiva, nos remete para processos de familiarização com a
educação artística. O que, aliás, surge contraditoriamente face a outras
respostas, em que as motivações ligadas à sociabilidade apareciam, com excepção
de um segmento minoritário, como a dimensão mais significativa de organização
das saídas culturais.
As teses
de DiMaggio podem, de novo, fornecer‑nos esclarecimentos adicionais. Se o
interesse pela “alta cultura”, enquanto tema de conversa, favorece as
interacções em grupos de status privilegiados, canalizando, inclusivamente,
aspirações de mobilidade social, uma vez mais a construção de uma fachada relativamente frágil de adesão a
essas expressões culturais se coaduna com tais expectativas.
Em suma,
a aproximação a um conjunto de representações sociais da recepção contribui
para a elaboração reflexiva de um conceito de self (simultaneamente real, ideal e social[1128]), ao mesmo tempo
orientado para si (auto‑identificação) e para os outros (componente
relacional). Os usos da recepção não são por isso neutros, obedecem ao valor de
signo dos consumos culturais e aos interesses do e no jogo social. O
mais curioso nestas representações consiste no afastamento face aos
estereótipos da doxa pós‑moderna de um consumo socialmente descentrado e
desinteressado, puramente hedonista, fragmentado, por vezes esquizofrénico,
assente numa desordem de significantes e sustentado pela emoção e afectividade
efémeras de quem pretende unir arte e vida. A recepção dominante revela, pelo
contrário, um entendimento surpreendentemente “estável” e coerente das
produções culturais, tomando‑as como objectos analisados intrinsecamente
e não a partir de estados flutuantes de espírito.
4. Televisão e fast thinking.
Vários
correntes e autores têm vindo a alertar para a necessidade de não analisarmos a
exposição aos mass media e em
particular à televisão sem considerar o efeito de filtragem de instâncias
mediadoras, como a família, os amigos e outros círculos sociais. A própria
noção de horizonte de expectativa
pode ser aplicada a este domínio, de forma a realçar a importância do
património cultural, vivencial e cognitivo dos receptores como variáveis
activamente implicadas nos processos de recepção e descodificação da mensagem
televisiva. Esta perspectiva contraria a visão largamente difundida que atribui
aos mass media um impacto directo
sobre a forma como as pessoas fabricam e imaginam o mundo social. Pierre
Bourdieu resvala para esta posição dramático‑fatalista ao considerar, por
exemplo, que “a televisão tem uma espécie
de monopólio de facto sobre a formação dos cérebros de uma parte muito
importante da população”[1129], acentuando o seu
potencial de “opressão simbólica” que
preenche “o tempo raro com vazio, com
nada ou quase‑nada”[1130], Bourdieu sugere a
universos orwellianos “em que o mundo
social é descrito‑prescrito pela televisão, em que esta se transforma no
árbitro do acesso à existência social e política”[1131].
Observemos, no entanto, o Quadro
LXXIV.
Quadro LXXIV - Comenta programas de TV por capital escolar de ego
|
Capital Escolar de Ego |
||||
|
Comenta Programas de TV com Colegas ou Amigos? |
Baixo N=29 (5,8%) |
Médio N=105 (21,1%) |
Alto N=364 (73,1%) |
|
|
|
Sim N=452 (90,8%) |
96,6 |
93,3 |
89,6 |
|
|
|
Não N=46 (9,2%) |
3,4 |
6,7 |
10,4 |
|
|
A esmagadora maioria dos inquiridos comenta
habitualmente os programas televisivos com colegas ou amigos, independentemente
do nível de capital escolar que possui. Quais as razões que justificam, segundo
os inquiridos, este comportamento tão claramente registado? De acordo com o Quadro LXXV, a resposta reside na
capacidade de criticar os conteúdos da programação, sujeita igualmente a debate
e troca de impressões.
Quadro LXXV - Razões por que comenta programas de TV por capital
escolar de ego
|
Capital Escolar de Ego |
||||
|
Razões da Resposta à questão: Comenta Programas de TV com Colegas ou Amigos? |
Baixo N=6 (2,2%) |
Médio N=56 (20,9%) |
Alto N=206 (76,9%) |
|
|
|
Troca de Impressões Sobre Programas N=14 (5,2%) |
16,7 |
3,6 |
5,3 |
|
|
|
Atenção à Vida Política e Económica N=4 (1,5%) |
|
|
1,9 |
|
|
|
Crítica dos Programas N=66 (24,6%) |
|
26,8 |
24,8 |
|
|
|
Dialogar/Trocar Opiniões N=31 (11,6%) |
|
14,3 |
11,2 |
|
|
|
Não Sabe/Não Responde N=104 (38,8%) |
83,3 |
41,1 |
36,9 |
|
|
|
Outras Respostas N=49 (18,3%) |
|
14,3 |
19,9 |
|
|
O ofício de recepção prolonga‑se,
assim, para além do momento imediato de apropriação, (re)trabalhando a mensagem
inicial, corrigindo‑a, acrescentando‑lhe novos contornos,
assimilando selectivamente conteúdos. Certamente que a hipótese de uma
reprodução acrítica e passiva não pode ser posta de lado, em particular se
pensarmos nos mais desapossados de capital cultural e socialmente isolados. A
nossa amostra, convém uma vez mais referi‑lo, é extremamente singular,
contendo uma notória sobrerepresentação das camadas sociais mais favorecidas.
Contudo, não podemos negligenciar os mecanismos micro‑sociais de
influência, de índole intragrupal, em particular quando as mensagens não são
unívocas, transmitindo vários significados possíveis. Como refere Robert Francès,
“a passagem a uma situação de grupo
acarreta pouco a pouco um aumento importante do número de respostas dos
indivíduos, suscitando interpretações que superam a banalidade”[1132]. O mesmo autor
acrescenta, mostrando a importância das redes de sociabilidade que “a influência micro‑social sobre a
percepção é mais intensa quando a vida em grupo é feita de trocas e de
interacções entre os seus membros”[1133]. Aliás, ao
verificarmos, com mais pormenor, o significado das categorias contidas no
quadro anterior, deparamos com respostas como “crítica à programação”, “crítica
à falta de qualidade”, “debate/troca
de ideias/discussão/comentários”, “atenção
à vida política e económica”, etc., sugerindo uma atitude activa de
negociação de significados.
Claro
que isto não significa que sejamos ingénuos ao ponto de negarmos um efectivo
poder de manipulação e “opressão
simbólica”, através de um trabalho técnico‑político de bastidores que selecciona conteúdos (implicando
mecanismos mais ou menos voluntários de censura) e constrói realidades
fictícias e fantasiosas. Diana Crane, por exemplo, fala de uma subrepresentação
dos trabalhadores manuais nos programas televisivos e de uma sobrerepresentação
das profissões liberais e empresariais, a par de uma forte tendência para a
produção de conteúdos reconfortantes e uma fraca inclinação à promoção do risco
e da novidade[1134]. No entanto, a
mesma autora salienta as diferentes formas de “ver” televisão, ao mesmo tempo
que sublinha as dificuldades das grandes sistemas organizacionais ligados à
comunicação de massas em percepcionar correctamente as suas audiências, factor
que os leva frequentemente a errar o “alvo” quanto ao perfil‑tipo dos
potenciais destinatários. Além do mais, contrariamente à visão extremamente
negativa que Bourdieu revela sobre os novos intermediários culturais, em
particular sobre os profissionais da comunicação, importa reintroduzir uma
perspectiva conflitual que exprima os conflitos de interesses e a ambivalência
do campo mediático (e as diferenças internas às novas classes), onde se confrontam e cruzam lógicas diferentes, não
se podendo erradicar, a priori a
possibilidade de expressão de mundividências emancipadoras.
O grande
contributo do estudo dos usos da cultura e das formas da recepção é,
precisamente, o de restituir a um objecto a sua multiplicidade, o seu cariz
plurívoco e conflitual, a sua íntima associação às novas formas mediadoras de
pensar e dizer o social.
CAPÍTULO XIII
DOZE CONCLUSÕES PARA UMA
TESE
“—
Gatinho Cheshire — começou Alice,
timidamente (...) — Diga‑me, por
favor, a partir daqui, que caminho é que devo seguir?
— Isso depende bastante do sítio para onde queres ir — respondeu o Gato.
— Pouco me importa para onde — disse Alice.
— Então não tem importância para que lado vais — disse o Gato.
— Contanto que vá dar a qualquer parte — acrescentou Alice, explicando‑se
melhor.
— Ah, isso é que vais, de certeza — disse o Gato —, se andares o suficiente...”
Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas
1.
Doze conclusões.
1.1.
Uma
das conclusões mais marcantes tem a ver com o alto grau de juvenilidade da
amostra, intimamente associada a grupos etários que, usufruindo também de um
estado civil liberto de compromissos familiares, possuem objectivamente maior
disponibilidade temporal para uma cultura de saídas relativamente intensa.
Prolongamento da escolaridade, dificuldade de ingresso no mercado de trabalho,
multiplicação dos estatutos híbridos, intermitentes e precários, adiamento da
formalização do laço conjugal, constituem peças interligadas de um mosaico em
que sobressai a dilatação do período de moratória que torna os jovens de certa
forma prisioneiros de um eterno estado de passagem. A gestão do provisório
passa, assim, por investimentos preferenciais no domínio do lazer, com
importantes consequências na configuração das identidades tendencialmente
desligadas da esfera do trabalho, da vizinhança e do parentesco e orientadas
para a fruição da vida quotidiana, em estilos que se traduzem por graus
diferenciados de informalização, altos níveis de consumo e por um individualismo
de tipo relacional, convivial ou mesmo festivo. São igualmente constituídos por
jovens os grupos relativamente restritos que demonstram, pela sua adesão a um consumo ostentatório e a uma ética
corporal de apresentação em cena, a vontade de transgredir as fronteiras entre
vida e arte, através de um novo projecto de dandismo,
assente em estilos de consumo distintivos. Dissimulando o valor de uso dos
bens, transformados em signos, a especificidade destes estilos juvenis seria
jogada numa espécie de “racionalidade
expressiva” que aposta tudo na comunicação[1135] e na
complexificação simbólica, mediantes processos de “colagem”, “importação‑exportação”,
descontextualização e recontextualização de estilos e mestiçagens várias.
Perante o argumento de que a estilização da vida (ou mesmo, segundo alguns, o
triunfo da arte sobre a vida) e a implantação de uma ordem artificial baseada
no consumo são fenómenos historicamente recorrentes, contrapõe‑se a
generalização actual de tais atitudes e comportamentos.
Todavia, não foi esse o grau de difusão que encontrámos.
Com efeito, tais grupos, como já referimos, não só se revelaram numericamente
restritos, como dominavam apenas pequenas regiões no interior dos espaços que
analisámos. Era notória, em várias ocasiões, a sua proximidade e familiaridade
com os artistas, o que nos leva a dizer que se trataria, de acordo com a
terminologia de Diana Crane (inspirada em Becker) de um tipo particular de Culture World: um trabalho artístico
orientado em rede, dotado de um relativo fechamento (Network‑oriented/isolated network[1136]), caracterizado,
precisamente, por uma grande familiaridade entre artistas e consumidores, com a
assimilação comum de convenções culturais iconoclastas, experimentais ou
emergentes, tal como aconteceu na Praia da Luz e no Café‑Concerto do
Rivoli, formando um estilo singular.
Na maior parte dos casos, porém, a
presença juvenil orienta‑se, em termos de apresentação pública, por uma
certa uniformidade informal, ligada à própria estrutura do consumo cultural nos
cenários de interacção, num descomprometimento aparente face a qualquer
narrativa da vida quotidiana de contornos excepcionais ou extraordinários, como
de certa forma se verificava nos pequenos grupos anteriormente referidos.
Dominam, assim, as imagens próprias de rotinas conviviais reproduzidas no dia‑a‑dia,
em vez da heroicização dos aventureiros
de espírito e de estilo das anti‑narrativas pós‑modernas[1137].
1.2. Verifica‑se
a existência de uma especificidade ou tipicidade juvenil, embora internamente
diferenciada entre públicos adolescentes e pós‑adolescentes. Os primeiros
aderem tendencialmente mais às práticas de abandono, ligadas, de novo, a um
quotidiano de pequenas narrativas aparentemente sem história, mas enunciadoras
de um espaço‑tempo difuso e distanciado de enquadramentos institucionais.
São igualmente praticantes assíduos do espaço semi‑público, em particular
na sua vertente convivial e expressiva, enquanto eventual possibilidade de
“fuga” ao controle endodomiciliar (acentuado pelo seu estatuto de grande
dependência económica face à família) e de experimentação de novos cenários de
interacção, num processo paralelo (e de mútuo reforço) ao aumento da oferta
urbana de lazer. Por outro lado, os segundos aderem mais às práticas receptivas
semi‑públicas, bem como às iniciativas eruditas de cariz informativo, o
que sublinha a existência de um patamar etário mínimo de recrutamento para
actividades que exigem a acumulação de um certo volume de capital informacional
e cultural. Da mesma forma, exigem ritmos desiguais de envelhecimento cultural.
Este afigura‑se mais precoce no campo das práticas criativas, favorecidas
quando existe uma maior disponibilidade de tempo, como é o caso dos
adolescentes. Poder‑se‑á ainda pensar que tais actividades serão
enquadradas e/ou motivadas por actividades paraescolares (como as que a
autarquia tem vindo a desenvolver nas áreas da criação e formação de públicos)
e ainda por uma necessidade de expressão de todo o trabalho de construção das
identidades e de conquista de autonomia, factor central para quem se encontra
envolvido em prolongados rituais de passagem.
1.3. Essa
tipicidade juvenil encontra ainda prolongamento numa particular estruturação e
orientação dos universos e mapas simbólicos. De facto, as faixas mais jovens demonstram
uma menor adesão às referências “clássicas” ou “patrimoniais”, fruto de um
mínimo denominador comum “oficial”, prescrito e difundido pelas instâncias
formais de ensino, com alianças mais ou menos espúrias na globalidade dos
discursos e aparelhos ideológicos tradicionais. Esta tendência, tantas vezes
associada a uma representação mortificadora do “declínio cultural e
civilizacional”, não significa tanto um “nivelamento por baixo”, mas muito mais
uma profunda mutação sócio‑cultural, ligada à mercantilização (em grau
diferencial) das várias franjas do campo cultural e artístico (doravante
colocado no centro da economia política do capitalismo
tardio da ordem mundial pós‑fordista) e à emergência nesse campo de
novas expressões que seguem vias alternativas de consagração e legitimação,
algumas estreitamente ligadas à cultura audiovisual e ao que Donnat apelida de
economia mediático‑publicitária. Por outro lado, a própria instituição
escolar não escapa ao cerne da discussão, na medida em que os novos universos
culturais se distanciam visivelmente (não de forma meramente dissimulada, tão‑pouco
com a consciência minoritária de um qualquer movimento contra‑cultural)
da norma escolar, colocando em cheque currículos, práticas pedagógicas e
políticas educativas. Além do mais, não parece desprovido de sentido falar de
um efeito‑família, já que, numa sociedade como a portuguesa, em que o
processo de massificação escolar é tardio e ainda incompleto, boa parte das
aquisições obtidas em sede escolar correm o risco de se diluir em meios sociais
distantes e pouco confiantes face à validade e utilidade da cultura escolar.
Finalmente, importa ter em consideração a importância das redes de
sociabilidade e dos grupos de pares, em boa parte responsáveis pela relativa
invasão juvenil do espaço semi‑público não erudito, enquanto agentes de
rápida circulação de valores e informação exterior à família e à escola,
amortizando a acção pedagógica dos grupos de pertença, das instituições e das
organizações associativas e propagando uma normativa e uma simbólica do
informal, do difuso, do individual relacional, da autoexpressão, da
autorealização e da multiplicação/fragmentação de referências.
1.4.
A
diferença de possibilidades de acção consoante o género encontra‑se bem
patente no desigual acesso ao espaço público e ao espaço semi‑público
organizado. De facto, as mulheres encontram‑se relativamente mais
arredadas da esfera onde a opinião pública se forma, se veicula e se controla,
bem como da acção colectiva organizada, própria do movimento associativo. Dito
de outra forma, as mulheres sofrem um défice de cidadania e de participação nos
quadros de mediação e regulamentação normativa, o que significa, igualmente, um
défice na utilização dos mecanismos comunicacionais que permitem a representação
dos seus interesses específicos e a discussão e o questionamento da ordem
oficial. Ultrapassada a barreira da escolaridade, vencido o desafio da entrada
no mercado de trabalho, resta ainda o muro que impede a expressão legítima de
uma identidade de género e de uma pluralidade de estilos de vida que lhe estão
associados. A política da vida,
sugerida por Giddens, símbolo da superestrutura de valores da modernidade tardia, necessita do
complemento activo das políticas
emancipadoras, estandarte de uma modernidade
inacabada.
1.5. Existe
uma certa homologia entre o perfil dos espaços que estudamos e o tipo de
públicos que os frequentam. Contudo, sob essa relação de correspondência,
afirmam‑se lógicas de transgressão de fronteiras e hierarquias simbólicas.
Os espaços possuem um cariz híbrido e multifuncional, ora na estrutura da sua
programação cultural; ora na sua configuração física, enquanto cenários de
interacção internamente regionalizados;
ora ainda pela pluralidade de funções que desempenham. Especifiquemos: o B
Flat, apesar de se dedicar a um género musical consagrado (o jazz), procura diversificar a sua oferta
através da exploração criativa de cruzamentos com outros géneros musicais (os
ritmos latino‑americanos, o rock, o techno, etc.), ao mesmo tempo que
funciona como sala de espectáculos e bar; o Rivoli, espaço plurifacetado,
oferece desde repertórios clássicos até projectos iconoclastas de
contracultura, assegurando igualmente funções de representação simbólica, lazer
e diversão; a Praia da Luz, finalmente, é esplanada, bar e restaurante e
consolida a sua clientela com expressões de novas tendências no campo cultural.
Todavia, a homologia
relativa existe. A identidade específica do B Flat remete‑nos para
públicos predominante adultos que gerem a sua apresentação em cena de forma
intencionalmente informal e desprovida de signos de consumo ostentatório, como
que a reforçar a sua concentração na percepção intelectual do espectáculo. O
seu perfil liga‑se de igual forma a uma elevada selectividade social,
traduzida por altos níveis de capital escolar.
O Rivoli, dada a sua assumida pluralidade, é um compósito
de subidentidades e de subculturas. No entanto, não exageraremos se afirmarmos
que sobressai a ligação à cultura “erudita”, quer de feição clássica e
consagrada, quer de referências contemporâneas estabilizadas, quer ainda de
tipo experimental, em vias de consagração. Ressalta, ainda, o aparato simbólico
necessário a um campo cultural local em vias de expansão, bem como o cerimonial
e a ritualização de uma instituição ligada ao poder.
A Praia da Luz, por fim, é o reino dos adolescentes
privilegiados, muitos deles acumulando “heranças”, outros recém‑chegados,
o que nos leva a falar de um fechamento social relativo. Esta jeunesse dorée afastada dos referenciais
clássicos e atenta à celebração de novas formas de expressão, apresenta‑se
predominantemente dentro de estilos informais e desportivos, embora
“elegantes”, o que de certa forma traduz disposições de uma ética hedonista
relativamente contida. Destacam‑se algumas “tribos” que fazem da transformação da vida numa obra de arte
o seu passaporte simbólico de entrada num universo que em nada se identifica
com as disposições ascéticas descritas por Weber e que, de uma forma difusa e
provavelmente inconsequente, traduzem o desejo de inverter o desencantamento de um mundo
secularizado, racionalizado e burocratizado.
1.6. Uma homologia imperfeita está subjacente na
diversidade das trajectórias da amostra analisada, reflectindo combinações
díspares da “componente clássica” e “moderna” do capital escolar,
complexificando as relações outrora mais transparentes entre classes sociais e
classes simbólicas, ou, se preferirmos, entre condições objectivas inscritas na
posição ocupada e práticas sociais. Dito de outra forma, a alta mobilidade
intergeracional revelada em particular através de trajectórias ascendentes que
partem de estratos baixos e médios, contribui, apesar de uma alta capacidade de
retenção das classes privilegiadas, para a coexistência, entre os detentores do
capital cultural institucionalizado, de relações relativamente desordenadas e dispersas com os universos de gosto.
Prova disso é o alto grau de incompetência cultural no
sentido estrito, bourdiano do termo. De facto, com a excepção de uma elite dentro da elite que mantém uma
postura de “familiaridade estatutária”
com a “alta cultura”, revelam‑se, de forma quase transversal, elevados
níveis de desconhecimento e/ou falta de identificação com os cânones da cultura
clássica consagrada. O título não só não se transforma em posto, como, pelo
estudo que nos ocupa, não assegura, através de qualquer quase‑automatismo,
um estatuto de nobreza cultural.
Caído o pano sob o mito da escolaridade como condição suficiente para o acesso
à cultura cultivada, talvez se compreenda, com acréscimo de lucidez, que,
entretanto, essa cultura, tal como era concebida, deixou de existir para uma
grande maioria dos diplomados, ou então tornou‑se apenas uma de muitas
possibilidades de fruição cultural, num alargamento efectivo do mercado
cultural. Transcrevendo o que anteriormente escrevemos, “haverá maior
probabilidade de complementaridade e/ou choque entre dimensões contraditórias
das condições objectivas de existência, associadas a uma diversificação das
vias e conteúdos de aprendizagem social e, consequentemente, dos percursos de
acesso a uma determinada posição na estrutura social. Ou seja, as homologias tenderão a ser menos rígidas e
unívocas e haverá a probabilidade de se cruzarem níveis diferentes de
legitimidade cultural”. O que, bem entendido, se nos permite falar da
necessidade de plasticização do
conceito de habitus, complementando‑o
com a pluralização dos papéis sociais e dos códigos e repertórios que lhes
estão associados, não nos confere, de forma alguma, o direito de defender o fim
da estrutura social e a morte das classes, apesar da sua recomposição e
mutação.
1.7.
As
redes de sociabilidade extensas, densas nas interacções que proporcionam,
apesar de se basearem em laços pouco intensos, são características de agentes
sociais com posicionamentos privilegiados na estrutura social, como é o caso de
boa parte da nossa amostra. Desta forma, consolidam‑se como instâncias de
mediação entre o “espaço pessoal” ou “ambiente social imediato” dos agentes,
os seus círculos sociais e os contextos estruturais mais vastos onde se
movimentam, permitindo‑lhes, através das regras de uma economia afectiva de intercâmbio, uma
rápida circulação e actualização da informação. Assim, a probabilidade de
modernização permanente do seu capital cultural afigura‑se elevada,
facilitando, deste modo, o alargamento de repertórios e o contacto com teias
complexas de papéis sociais, extremamente diversificados, inclusivamente para a
mesma pessoa.
De facto, sai‑se principalmente à noite com amigos
e a seu convite, em especial quando se é jovem e solteiro. O compromisso
conjugal significa, a maior parte das vezes, uma enorme restrição na
disponibilidade para sair, sendo encarado por muitos autores como o “fim da juventude”. De igual modo, o
divórcio, quando não é imediatamente seguido de uma recomposição familiar,
possibilita a recuperação mais ou menos provisória da condição juvenil que,
desta forma, cada vez se associa menos a uma idade particular. Aliás, as
representações da noite estruturam‑se em torno do eixo amigos/diversão, o
que acentua a dimensão mundana e convivial da fruição cultural, e a sua
importância como núcleo de mobilização e consolidação de redes sociais que se
expandem tentacularmente a diversos contextos de interacção, obtendo‑se,
dessa forma, inúmeras vantagens e benefícios sociais que reforçam e motivam
trajectórias sociais ascendentes (os “laços sociais fracos” em termos de
intensidade do vínculo, são os laços mais “ricos” em termos de recursos e
capitais).
Assim, apenas uma minoria relativamente escassa organiza
as suas saídas culturais em função da familiaridade com as referências e os
conteúdos intrínsecos de um determinado campo cultural. A centralidade das
redes de sociabilidade na definição dos modelos dominantes de consumo cultural
propicia uma legitimação de vários universos de gosto e das múltiplas formas
pelas quais se cruzam, permitindo que ancestrais fronteiras se des‑sacralizem
e des‑ritualizem. Ao mesmo tempo, e dado não existir uma concentração
exclusiva num único género, esfera ou nível cultural, aumenta a tendência para
um conhecimento superficial, embora ágil, de cada sistema de referências. Na
mesma linha, poderemos falar de uma cultura self‑service,
de combinações plurais, em que o repertório dominante depende, em boa parte, do
contexto social onde foram recrutados os amigos com quem se sai. Há amigos para
assistir a uma peça de teatro; amigos para passar a noite numa discoteca;
amigos para ver um filme; etc.
1.8.
Este
modelo cultural está, no entanto, longe de se encontrar generalizado ou
democratizado a toda a estrutura social. A sintonia de referências e a
sincronização de rotinas que estão subjacentes à eficácia comunicacional das
redes de sociabilidade requerem um certo nível de homogeneidade social, uma certa
afinidade de habitus. Por outro lado,
esta orientação e disponibilidade para o consumo e fruição culturais encontram
certamente correspondência no significativo acréscimo dos contigentes das novas
elites urbanas, localizadas em grupos socioprofissionais de perfil dirigente,
intelectual e científico, ligados à administração pública e ao terciário
superior e à franca, ainda que recente, expansão dos níveis mais elevados de
ensino. Estas classes sociais encontram‑se, aliás, intimamente ligadas a
funções de produção e intermediação cultural, ao mesmo tempo que difundem
estilos de vida baseados em padrões relativamente altos de consumo cultural. Em
suma, urge não perder de vista a localização específica no espaço social destas
novas tendências dos mundos da cultura.
O seu carácter frequentemente fragmentário, evanescente e efémero contribui
para dissipar a relação de mútuo reforço que estabelecem com os processos
emergentes de recomposição social e reestruturação económica.
1.9.
A
diversidade inerente às práticas culturais pode ainda ser analisada de um
ângulo substantivamente diferente, se partirmos dos usos da cultura patentes
nas actividades de percepção e recepção cultural. O enfoque na relação entre as
obras e os públicos leva‑nos a abordagens mais finas e de pendor
qualitativo, de forma a captar o que os
públicos fazem das obras que fazem os públicos. Dito de outra maneira,
importa superar a visão/ilusão de que os produtos culturais contêm em si mesmos
características objectivas suficientes e unívocas para a compreensão dos
universos simbólicos dos seus consumidores. Mais ainda, urge compreender que,
com a passagem do conceito de consumo (níveis de posse, de frequência, etc.)
para o de percepção/recepção, se opera uma mudança de paradigma que sublinha as
poderosas interacções estabelecidas entre a intenção do autor, a estrutura da
obra, o sistema de referências do receptor e o projecto cultural que o anima.
1.10. O agente cultural
revela‑se um “actor no seu próprio
corpo”, o qual supera, na sua expressividade e nas impressões que a partir
dele se captam, a interiorização passiva e mecânica de um conjunto limitado de
condições objectivas de existência. De facto, ao recusarmos um logocentrismo
arrogante, somos levados a compreender como, dentro de contextos específicos e
delimitados, o corpo se assume enquanto veículo e produtor de modos
particulares de percepção. O corpo em acção sublinha as dimensões cognitivas,
afectivas e existenciais de um self
activo e performativo.
Bater palmas, por exemplo, além de se traduzir por
diferentes modalidades consoante os cenários de interacção, tem implícitas
plurais imbricações com a praxis
social. Pode querer afirmar uma atitude iconoclasta e provocadora; assumir
formas celebratórias mais ou menos ritualizadas; exprimir graus diferenciais de
competência cultural e poder simbólico ou ainda níveis díspares de
selectividade perceptiva.
Através do corpo, o processo de reprodução interpretativa
da obra em interacção, não se esgota
em mimesis empobrecedora,
acrescentando significados ao significado, ou, se preferirmos, adicionando
história à obra. Da mesma maneira, os papéis sociais não se cingem a uma
simples acomodação a ordens normativas preexistentes ou previamente
codificadas. Cada papel social é também uma porta de entrada num mundo novo.
1.11.
Os
modos dominantes de recepção apresentam características aparentemente
contraditórias. Se é verdade que a eleição de um local de fruição cultural se
associa, antes de mais, a motivações conviviais ou pelo menos assentes nas redes
de sociabilidade, a apropriação das obras apresentadas é relacionada com
características que lhes são intrínsecas, nomeadamente critérios de qualidade.
Perante o contraste que se estabelece entre uma panóplia de discursos
(incluindo os corporais) que salientam a apropriação pessoal e idiossincrática
e uma recepção aparentemente artística (ou estética no sentido restrito),
analítica, intelectualizada (a referência a significados intrínsecos às obras)
e confirmadora do horizonte de
expectativas (ausência de surpresa, novidade e choque) dos públicos, e
tendo em conta ainda os elevados níveis de “incompetência cultural”
anteriormente registados, somos levados a enfatizar a existência de um eventual
efeito ou reacção de prestígio. De
facto, os públicos, apesar da dispersão e ecletismo dos seus universos de
gosto, continuam maioritariamente a imaginar a cultura em volta de esquemas,
classificações e hierarquias tradicionais. Por outras palavras, se as suas
práticas nos remetem para universos aparentemente desordenados (ecléticos,
feitos de cruzamentos e combinatórias várias, por vezes esquizofrénicos), as
representações continuam a fabricar um mundo de uma harmonia antiga, em que
sobressai, precisamente, o respeito por formas de legitimidade que julgávamos
ultrapassadas. Inquietante paradoxo.
1.12.
Espaço
público e espaço semi‑público organizado (associativo): duas terras de
ninguém, dois desertos que ferem de morte as crenças emancipatórias no poder
reflexivo da esfera colectiva. Desterritorialização e descontextualização da
acção social, fantasmagoria, compressão do espaço‑tempo, mediatização da
comunicação, são factores habitualmente associados a este fenómeno. A
desvitalização de ambos denuncia, igualmente, um mal‑estar profundamente
enraizado nas vivências urbanas. Ao contrário do que o discurso neo‑liberal
propaga, considerar a cultura no âmbito estrito do “marketing de cidade” não é suficiente para criar dinâmicas de
envolvimento colectivo. Os processos em curso de “enobrecimento e regeneração urbanos”, se é verdade que investem
culturalmente para uma modificação profunda da imagem de cidade, apostando no
estético como estratégia de atracção de capitais e “massa crítica”, nem sempre respeitam a especificidade e autonomia
de tal esfera. A cidade do Porto não é excepção. Ao lado de tentativas de
reanimação do velho centro da cidade, com a reabertura de espaços culturais
renovados, agudizam‑se tendências de privatização crescente das
sociabilidades, com o aumento em flecha da lógica segregacionista dos condomínios
privados (os ghettos dos ricos) e a
abundância dos mundos artificiais, selectivos e vigiados dos centros
comerciais. Os impulsos regeneradores da economia baseada na sociedade de
informação dos serviços e alta finança têm feito esquecer, sob a aparência da
explosão do simbólico e do consumo, os vastos “interesses materiais envolvidos na reconstrução da vida urbana na
época pós‑industrial”[1138]. A gentrificação é
amiúde sinónimo de yuppificação e
contribui para reificar as lógicas especulativas do mercado.
As tendências de crescente dissolução e privatização dos
espaços públicos tem efeitos corrosivos no ideal romântico da cidade errática,
onde, por mero acaso, estranhos se cruzam e se conhecem; onde a conversação e a
acção comunicativa transformam o público em sujeito de discurso; onde a
representação e a linguagem se politizam e a palavra se desprivatiza[1139]. Ora, o que está em
causa é, não só a despolitização, neutralização e esvaziamento da esfera
pública, mas igualmente “o esgotamento
das energias utópicas” numa situação de opacidade
em que “o futuro é ocupado negativamente”[1140], não se
vislumbrando as condições para uma “praxis
comunicativa do quotidiano”[1141]. A tirania da intimidade, que Sennett anuncia, com a
sua obsessão pelo privado e pelo ego e a sua espiral de auto‑revelações,
acaba por nos fazer perder a ideia da singularidade do Outro.
Em sociedades de intensa mobilidade, em que os lugares
públicos se atravessam de um só fôlego, com a energia do transitório e da mera
passagem, a casa surge como o único lugar habitado, uma espécie de baluarte
afectivo contra a pressão exterior e a vigilância; um prolongamento da pessoa e
da sua segurança ontológica e não tanto um espaço comum do clã familiar; uma
recusa da teatralidade pública e da ordem representativa, com o seu jogo de
papéis que oscila entre o secreto e o manifesto[1142].
No entanto, ao contrário de Sennett, não resvalamos para
o pensar fatalista que considera o voyeurismo e a banalidade como únicas
alternativas à ordem representacional da esfera pública. Os usos da casa e as
lógicas expressivas patentes na organização do espaço doméstico desmentem a
hegemonia absoluta de um real artificial e estereotipado. Da mesma forma, o
povoamento do espaço semi‑público, apesar da sua lógica selectiva,
legitima algum optimismo.
2. Uma tese: a (pós)modernidade num continuum.
“(...)
para os jovens e os ricos, para os educados e privilegiados, as coisas não
podiam ter sido melhores. O mundo dos imóveis, das finanças e dos serviços
cresceu, bem como a “massa cultural” dedicada à produção de imagens, de
conhecimento e de formas estéticas e culturais. A base político‑económica
e, com ela, toda a cultura das cidades foram transformadas.”
David Harvey, Condição Pós‑Moderna
“Imagine
por um momento que está num satélite, a grande distância para além dos actuais
satélites; você pode ver o “planeta Terra” a partir de um ponto distante e,
invulgarmente para alguém que apenas tem intenções pacíficas, você está
equipado com o tipo de tecnologia que lhe permite ver as cores dos olhos das
pessoas e os números das matrículas. Você pode ver todo o movimento e
sintonizar todas as comunicações que estão a decorrer. A maior distância estão
os satélites, depois os aviões, o longo caminho entre Londres e Tokyo e o salto
de S. Salvador à cidade da Guatemala. Uma parte desta paisagem são pessoas a
movimentarem‑se, outra é negócio interpessoal, outra ainda publicidade
mediática. Existem fax, e‑mails, redes de distribuição de filmes, fluxos
financeiros e transacções. Vendo de mais perto, lá estão os barcos e comboios,
comboios a vapor subindo laboriosamente uma colina algures na Ásia. Vendo ainda
de mais perto existem camiões e autocarros, e aproximando‑se mais do
chão, algures na África sub‑sahariana, uma mulher — entre muitas outras —
descalça, que passa ainda horas a fio a recolher água”.
Doreen Massey[1143]
Fomos confrontados, ao longo deste trabalho, com a
persistência de atitudes e conceitos ambivalentes e propiciadores de uma
multiplicidade de interpretações.
Para alguns autores, a época em que vivemos pode, do
ponto de vista cultural, ser correctamente apreendida por uma ampla
transformação societal que dá pelo nome de pós‑modernismo, termo
inicialmente circunscrito a uma elite de ensaístas (mormente na crítica
literária) e a áreas artísticas delimitadas (música, literatura, arquitectura),
mas rapidamente alargado ao debate sobre a mudança social contemporânea. Fala‑se,
então, da imaterialização e estetização da vida quotidiana e do conjunto das
transacções, incluindo as económicas; da morte de uma sociedade baseada em
classes sociais; da ascensão dos estilos de vida fluídos e plurais como base da
estratificação social; do fim da ideia de originalidade e de vanguarda (já se
disse tudo, já de tudo se viu e experimentou); do culto do corpo, das
sensações, do prazer e do irracional; da subversão das narrativas e da
linearidade pelo caos e pela desordem; da emergência do glocal, expressão de uma geografia imaginária de cruzamento do
global e do local; da negação da história ou pelo menos de uma direcção ou teleologia; do colapso do
público e do privado; do fim dos monopólios simbólicos; da compressão do
passado e do futuro num presente contínuo (nem origens, nem utopia, apenas
nomadismo); da negação dos heróis singularizados e das suas façanhas épicas em
favor do encantamento do anónimo e do quotidiano; da inversão da ética ascética
em ética hedonista e de uma reorientação da produção para o consumo, da ética
para estética; etc.; etc.[1144].
Outros autores, apesar de acentuarem e valorizarem as
mesmas tendências, adoptam aqui e ali uma atitude mais prudente, considerando
que a ideia de superação, subjacente ao conceito de pós‑modernidade, é um
paradoxo evidente (como falar em superação, se é colocada a ênfase na negação
de qualquer evolução ou direcção histórica?), preferindo defini‑la como o
conjunto de “possíveis transformações
para além das instituições da modernidade”[1145] e tirando ilações
políticas das novas configurações societais, em particular no que se refere ao
papel central da auto‑identidade reflexiva[1146], cerne do que
Giddens apelida de modernidade tardia
ou modernidade radicalizada.
Os críticos da pós‑modernidade, como Habermas, vêem
neste movimento uma expressão neoconservadora que dá prioridade ao mercado em
detrimento do Estado social e aposta num retorno “ao romantismo social do capitalismo”, sem compreender que as
formas de vida se encontram “ameaçadas
por uma colonização interna”[1147]. Perante tal
cenário, de desintegração de domínios como a escola, a família e a esfera
pública, Habermas apoia‑se na “modernidade
cultural” como “único fundo ao qual
poderíamos ir beber”[1148].
Sennett, já o sabemos, fala com pessimismo no fim do
homem público e da cidade, em favor de uma idolatria intimista em que a auto‑absorção
narcísica surge como o único princípio válido, em prejuízo da civilidade que
consiste na manutenção de uma ordem teatral através da qual a “máscara” e as
convenções nos protegem da “obrigação” de nos desvendarmos, bem como da
vigilância dos outros, condições necessárias para uma salutar sociabilidade[1149].
Lash, por seu lado, insiste igualmente na presença do
ego, mas distanciando‑se tanto das críticas ao excesso de narcisismo ou
egoísmo da cultura contemporânea (muitas vezes fundada em princípios morais
duvidosos), como das correntes que glorificam a concentração no self como fonte de auto‑realização
e auto‑descoberta (linha em que Giddens se situa). O autor caracteriza o
estado actual do ego como o de uma dependência face ao mundo imaterial do
consumo degradado, representando “a outra face” de um quotidiano laboral
igualmente degradado. De facto, a sobrevivência torna‑se o principal
motivo da existência, assente na gestão das impressões transmitidas, num mundo
em que tudo se transforma em imagens. Desenvolve‑se, assim, sob uma
pretensa possibilidade ilimitada de escolha (definida por Lash como “ideologia pluralista”[1150]), uma “dissolução do mundo das coisas
substanciais”[1151]. Desta forma, o
narcismo representa, afinal, uma estratégia de sobrevivência, fundada numa “tecnologia do ego” como única possibilidade
de escapar à desintegração e ao vazio. Ao contrário da procura reflexiva de
identidade, defendida por Giddens, verificar‑se‑ia uma nítida perda
de identidade, em que o “eu” se vê cercado e desprovido de referências
estáveis.
Perante este breve esboço de uma complexa polémica que
traduz, afinal, as múltiplas formas de interpretar o “espírito da época” e a dificuldade de obter um consenso sobre os
eixos significativos pelos quais se pauta a mudança social, somos levados a não
rejeitar, a priori, qualquer das
linhas de interpretação aqui traçadas. Não se trata, por conseguinte, de
delinear uma qualquer síntese (as famosas “terceiras” ou “quartas” vias), nem
tão‑pouco de rejeitar o esforço subjacente a uma opção nítida entre as
alternativas em presença. A nossa perspectiva analítica rejeita, pois, tanto a
opção de enfileirar por uma das correntes já existentes como a de criar ex abrupto uma nova linha teórica. Em
que consiste, então?
Antes de mais, em defender que existe um continuum e não uma dicotomia redutora
entre modernidade e pós‑modernidade. O que, desde logo, nos permite
escapar a posicionamentos por vezes essencialistas, que definem uma ou outra
como intrinsecamente positivas ou negativas, em função de determinados
critérios e juízos, nem sempre explicitados.
Existe, em nosso entender, uma realidade sócio‑cultural
tensa e contraditória, composta por ritmos espácio‑temporais desiguais. O
passado ainda não acabou e o futuro já começou. Por outras palavras, há
realidades em que se cruzam temporalidades distintas, numa coexistência de
assincronismos. Por outro lado, importa não renunciar à localização dos factos
sócio‑culturais no espaço e na estrutura social. É uma ilusão pensar, sob
a aparência de uma glorificação quotidiana da estética, que tal processo
significa o mesmo em todos os lugares, em todas as épocas e para todos os
grupos sociais. Não nos repugna, por isso, retomar a afirmação de David Harvey
segundo a qual “o grau de fordismo e
modernismo, ou de flexibilidade e pós‑modernismo, varia de época para
época e de lugar para lugar”[1152]. Acrescentamos: e
de grupo social para grupo social, no interior de uma mesma classe. Há que, por
isso, reconstituir essa totalidade em interrelação, provisória e situada, em
cujos esferas e domínios específicos podem ter validade os sistemas teóricos há
pouco esboçados, sem que se auto‑excluam previamente.
O estudo de públicos e das suas práticas que levamos a
cabo, permite, precisamente, reforçar esta tese. A população estudada reflecte
posicionamentos sociais privilegiados, com uma identidade comum (que não pode,
de forma alguma, ser alargada artificialmente a toda a estrutura social) mas
igualmente com pontos de divergência e heterogeneidade internas. Há uma minoria
que segue esquemas consagrados de familiarização com a “alta cultura”, mas,
para a maioria, altera‑se o significado de legitimidade cultural, diluído
em combinações eventualmente menos sólidas mas mais ágeis, na medida em que se
adaptam com facilidade à “pluralidade dos
mundos de vida” e ao complexo sistema de papéis sociais dos grupos urbanos
favorecidos. Traduzem, por isso, universos culturais relativamente actualizados
(modernos), embora superficiais. No entanto, o discurso, um passo atrás das
práticas, assenta ainda em representações de uma ordem cultural anterior.
Abandona‑se o espaço público, habita‑se a
casa, mas sai‑se à noite para fruir cultura em locais específicos. O
espaço semi‑público não morreu, está activo e recomenda‑se. Ele
torna‑se essencial para o accionar de complexas redes de sociabilidade,
fornece um “terreno comum” de entendimento, embora restrito e selectivo. E um
palco, uma cena, onde a apresentação de si, sob o signo da “máscara” ou da
“autenticidade” cumpre funções simbólicas de expressão de uma condição social
que reproduz heranças ou investe em trajectórias ascendentes.
Estes elementos constituem a dimensão dominante dos
universos culturais dos grupos sociais que estudamos e que podemos enquadrar no
que Bourdieu apelida de nova burguesia e
nova pequena burguesia e que, pela sua
constituição, desmentem quer a lógica de uma total autonomização da esfera
cultural, porquanto se associam a poderosas transformações económicas (peso
crescente dos serviços; elevado grau de imaterialidade da estrutura económica
actual; associação entre crescimento económico e circulação de informação;
importância da “destruição criativa” de bens e recursos tendo em vista a
implantação de novas necessidades, desejos e aspirações; reprodução da lógica
capitalista através da constante produção de novidade; etc.) quer a teoria dos
“espelhos” de um economicismo redutor e automático, já que as suas práticas
culturais, valores e estilos de vida são dificilmente enquadráveis em
categorias tradicionais, revelando igualmente um papel activo do sujeito na
apropriação, recepção e transformação das obras culturais. Para além de se
verificarem outras clivagens, baseadas na idade e no género, não menos
interessantes e que não podem ser reduzidas à mesma base material.
Admitir a possibilidade de graus diferenciais de modernismo
e pós‑modernismo, consoante o segmento geográfico, histórico e social —
eis a nossa proposta. O que permite, como faz Harvey, crítico marxista da
condição pós‑moderna, resgatar do cerne distintivo dessa condição,
elementos emancipadores: “um modo de
pensamento anti‑autoritário e iconoclasta, que insiste na autenticidade
de outras vozes, que celebra a diferença, a descentralização e a democratização
do gosto, bem como o poder da imaginação sobre a materialidade, tem de ser
radical, mesmo quando usado indiscriminadamente. Nas mãos dos seus praticantes
mais responsáveis, toda a bagagem de ideias associadas com o pós‑modernismo
podia ser empregue para fins radicais”[1153].
Na mesma linha, Jameson, outro crítico marxista a manter
uma relação simultaneamente crítica e ambivalente com o pós‑modernismo,
fala, em vários momentos, de “sobredeterminação”,
“sobreposição de modos de produção”, “interacção recíproca”; “descontinuidade histórica”, etc.
Tudo depende, por isso, do ponto de onde parte a análise
e da escala de observação. Visto de outro planeta, a Terra é uma unidade e
podemos cair em generalizações fáceis e abusivas, como falar de uma pós‑modernidade
generalizada a todas as classes sociais e a todos os espaços. Ou insistir na
mobilidade e na compressão do espaço‑tempo como traços distintivos do
“novo mundo”, esquecendo a sua variação de acordo com níveis de desigual acesso
ao poder. Mas, mudando de súbito o ângulo e a escala de análise, não nos
admiremos se encontrarmos uma impaciente fila de espera numa paragem de
autocarros (nada que se compare à circulação dos cibernautas ou ao tráfego do
ciberespaço...) ou aquela mulher que caminha há horas, na aridez sub‑sahariana,
à procura de umas gotas de água.
BIBLIOGRAFIA
1. Livros
AAVV, Dinâmicas
Culturais, Cidadania e Desenvolvimento Local, Lisboa, Associação Portuguesa
de Sociologia, 1994.
AAVV, Dinâmicas
Multiculturais. Novas Faces. Outros Olhares, Lisboa, Instituto de Ciências
Sociais, 1996.
AAVV, Économie et
Culture, Paris, La Documentation Française, 1987.
AAVV, Jeunes
d’Aujourd’hui, Paris, La Documentation Française, 1987.
AAVV, Jovens de
Hoje e de Aqui, Loures, Câmara Municipal de Loures, 1996.
AAVV, O que é
Governar à Esquerda?, Lisboa, Gradiva, 1997.
AAVV, Portugal
Hoje, Lisboa, Instituto Nacional de Admnistração, 1995.
AAVV, The Polity Reader in
Social Theory, Cambridge, Polity Press, 1994.
AAVV, Théâtre
Public- Le Rôle du Spectateur, nº 55, 1984.
AAVV, Viver (n)a Cidade, Lisboa, Grupo de
Ecologia Social (LNEC) e Centro de Estudos Territoriais (ISCET), 1990.
ADORNO, Theodor e HORKHEIMER, Max, Dialectic of
Enlightenment, New York, Continuum, 1993.
ALMEIDA, João Ferreira de et al., Exclusão Social. Factores e Tipos de Pobreza
em Portugal, Oeiras, Celta Editora, 1994.
ALMEIDA, Miguel Vale de, Corpo Presente, Oeiras, Celta Editora, 1996.
ALTHUSSER, Louis, Pour
Marx, Paris, La Découverte, 1996.
ANDRADE, Eugénio, Daqui Houve Nome Portugal- Antologia de Verso e Prosa sobre o Porto, Porto,
Oiro do Dia, s/data.
ASCHER, François, Metapolis- Acerca do Futuro da Cidade, Oeiras, Celta Editora, 1998.
AUGÉ, Marc, Não-
Lugares – Introdução a uma Antropologia da Sobremodernidade, Lisboa,
Bertrand Editora, 1994.
BANDEIRA, José Gomes, Rivoli- Teatro Municipal- 80 Anos de Espectáculo, Porto, Câmara
Municipal do Porto, 1993.
BARRETO, António, Situação Social em Portugal (1960- 1995), Lisboa, Instituto de
Ciências Sociais, 1996.
BECKER, Art
Worlds, Berkeley, University of California Press, 1982.
BELL, Judith, Como
Realizar um Projecto de Investigação, Lisboa, Gradiva, 1997.
BENAVENTE, Ana et al., A Literacia em Portugal. Resultados de uma Pesquisa Extensiva e
Monográfica, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1996.
BENJAMIN, Walter, “A obra de arte na era da sua
reproductibilidade técnica” in Sobre
Arte, Técnica, Linguagem e Política, Lisboa, Relógio d’Água, 1992.
BERGER, Peter, LUCKMANN,
Thomas, A Construção Social da Realidade,
Petrópolis, Editora Vozes, 1985.
BIDART, Claire, L’Amitié.
Un Lien Social, Paris, Éditions la Découverte, 1997.
BITTI, Ricci Pio e ZANI,
Bruna, A Comunicação como Processo
Social, Lisboa, Editorial Estampa, 1993.
BONDANELLA, Peter, Umberto
Eco e o Texto Aberto, Lisboa, Difel, 1998
BORJA, Jordi e CASTELLS,
Manuel et al., Las Grandes Ciudades en la
Década de los Noventa, Madrid, Editorial Sistema, 1990.
BOURDIEU, Pierre et al., Un Art Moyen. Essai sur les Usages Sociaux de la Photograhie, Paris,
Lés Éditions Minuit, 1965.
BOURDIEU, Pierre, La
Distinction. Critique Sociale du Jugement, Paris, Les Éditions de Minuit,
1979.
BOURDIEU, Pierre, Lição
sobre a Lição, Vila Nova de Gaia, estratégias Criativas, s/data.
BOURDIEU, Pierre, PASSERON, Jean- Claude, A
Reprodução. Elementos para uma Teoria Geral do Sistema de Ensino, Lisboa,
Editorial Veja, s/ data.
BOURDIEU, Pierre, Question
de Sociologie, Paris, Les Éditions Minuit, 1984.
BOURDIEU, Pierre, Raisons
Pratiques, Paris, éditions du Seuil, 1994.
BOURDIEU, Pierre, Réponses,
Paris, Éditions du Seuil, 1992.
BOURDIEU, Pierre, Sobre
a Televisão, Oeiras, Celta Editora, 1997.
CALVO, E. Gil, Los
Depredadores Audiovisuales- Juventud
Urbana y Cultura de Massas,
Editorial Tecnos, 1985.
CAUQUELIN, Anne, La
Ville et la Nuit, Paris, P.U.F, 1997.
CERTEAU, Michel de, L’Invention du Quotidien, l’Arts de Faire, Paris, Éditions
Gallimard, 1990.
CERTEAU, Michel de, La Culture au Pluriel, Paris, Éditions du Minuit, 1993.
CONDE, Idalina (coord.), Percepção, Estética e Públicos da Cultura, Lisboa, Acarte/ Fundação
Calouste Gulbenkian, 1992.
COSTA, Isabel Alves, Rivoli
Teatro Municipal: um Projecto Cultural, policopiado.
CRANE, Diana, The
Production of Culture. Media and the Urban Arts, Newbury Park, Sage
Publications, 1992.
CRESPI, Franco, Manual
de Sociologia da Cultura, Lisboa, Editorial Estampa, 1997.
CRUZ, Maria Antonieta, “Os Burgueses do Porto na Segunda Metade do Século XIX, Porto, Ed.
de Autor, 1994.
DOLLOT, Louis, Culture
Individuelle et Culture de Masse, Paris, P.U.F, 1993.
DONNAT, Olivier., Les Français Face à la Culture, Paris, Éditions La Découverte,
1994.
DORFLES, Grillo, Modas
e Modos, Lisboa, Edições 70, 1990.
DURKHEIM, Émile, As
Regras do Método Sociológico, Lisboa, Presença, 1984.
DURKHEIM, Émile, De
la Division du Travail Social, Paris, PUF, 1996.
DURKHEIM, Émile, Les
Formes Élementaires de la Vie Religieuse. Le Systéme Totémique en Australie, Paris,
P.U.F, 1979.
DURKHEIM, Émile, O
Suicídio, Lisboa, Editorial Presença, 1977.
ECO, Umberto, Apocalípticos
e Integrados, Lisboa, Difel, 1991.
ECO, Umberto, Obra
Aberta, Lisboa, Difel, 1989.
EPINAY, Christian Lalive de et al., Temps Libres- Culture de Masse et Culture de Classe Aujourd’hui,
Paris, Favre, 1982
ESTANQUE, Elísio e MENDES, José Manuel, “Classes
e Desigualdades Sociais em Portugal”, Porto, Edições Afrontamento, 1998.
FEARTHERSTONE, Mike, Consumer Culture & Postmodernism, London, Sage Publications,
1996.
FEATHERSTONE, Mike, Undoing Culture, London, Sage Publications, 1995
FERNANDES, António Teixeira, O Conhecimento Sociológico. A Espiral Teórica, Porto, Brasília
Editora, 1983.
FERNANDES, António Teixeira, O Social em Construção, Porto, Figueirinhas, 1983.
FERREIRA, Elisa, “Economia
Portuguesa Hoje: Mitos e Realidades”, Matosinhos, Contemporânea
Editora/Câmara Municipal de Matosinhos, s/data.
FERREIRA, Paulo Antunes, Valores dos Jovens Portugueses nos Anos 80, Lisboa, Instituto de
Ciências Sociais/Instituto da Juventude, 1993.
FORTUNA, Carlos (org.), Cidade, Cultura e Globalização, Oeiras, Celta Editora, 1998.
FOUCAULT, Michel, O
que é um Autor?, Lisboa, Veja, 1992.
FRANCÈS, Robert, La
Perception, Paris, Presses Universitaires de France, 1992.
FREITAS, Eduardo de et al., Hábitos de Leitura. Um Inquérito à População Portuguesa, Lisboa,
Publicações D. Quixote, 1998.
FREITAS, Eduardo de, SANTOS, Maria de Lourdes Lima dos, Hábitos de Leitura em Portugal. Inquérito Sociológico, Lisboa, D.
Quixote, 1992.
GASPAR, Jorge, Práticas
Culturais dos Portugueses, Lisboa, Direcção- Geral de Acção Cultural/Centro
de Estudos Geográficos, 1986/1987.
GAUDIN, Jean Pierre, Les Nouvelles Politiques Urbaines, Paris, Presses Universitaires de
France, 1993.
GEERTZ, Clifford, A Interpretação das Culturas, Rio de Janeiro, Zahar editores, 1978.
GIDDENS, Anthony,
Modernidade e Identidade Pessoal,
Oeiras, Celta Editora, 1994.
GIDDENS, Anthony, As
Consequências da Modernidade, Oeiras, Celta Editora, 1992.
GIDDENS, Anthony, Capitalismo e Moderna Teoria Social, Lisboa, Presença, 1984.
GIDDENS, Anthony,
Novas Regras do Método Sociológico, Lisboa, Gradiva, 1996.
GIDDENS, Anthony, Social Theory and Modern Sociology, Cambridge, Polity Press, 1990.
GIDDENS, Anthony, Sociology, Cambridge, Polity Press, 1993.
GIDDENS, Anthony, The Class Structure of Advanced Societies, London, Hutchinson,
1983.
GOFFMAN, Erving, A
Apresentação do Eu na Vida de Todos os Dias,Lisboa, Relógio d’Água, 1993.
GOLDMANN, Lucien, in A Criação Cultural na Sociedade Moderna, Lisboa, Editorial Presença,
1976.
GUICHARD, François, Atlas Demográfico de Portugal, Lisboa, Livros Horizonte, 1981.
GUICHARD, François, La Ville dans sa Région,
Paris, Fundação Calouste Gulbenkian/ Centro Cultural Português, 1992.
HABERMAS, Jurgen, Mudança
Estrutural da Esfera Pública, Rio de Janeiro, Edições Tempo Brasileiro,
1984.
HARVEY, David, Condição
Pós- Moderna, São Paulo, 1992.
HAUSER, Arnold, A
Arte e a Sociedade, Lisboa, Editorial Presença, 1984.
HERPIN, Nicolas, A Sociologia Americana, Porto, Edições Afrontamento, 1982.
HOBSBAWM, E. J., A
Era do Capital, Lisboa, Presença, 1979.
INGLEHART, Ronald, Modernization
and Postmodernization- Cultural Economic and Political Change in 43 Societies, Princeton
University Press, 1997.
JAMESON, Frederic, Espaço e Imagem- Teorias do Pós- Moderno e Outros Ensaios, Rio de
Janeiro, Editora Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1995.
JAUSS, Robert Hans,
Pour une Esthétique de la Recéption, Paris, Gallimard, 1978.
LEE, David J., TURNER,
Bryan S. (eds.), Conflicts about class.
Debating Inequality in Late Industrialism, London, Longman, 1996.
LIMA, Isabel Pires, Trajectos
do Porto na Memória Naturalista, Lisboa, Guimarães Editora, 1989.
LIPOVETSKY, Gilles, O
Império do Éfemero. A Moda e o seu Destino nas Sociedades Modernas, Lisboa,
Publicações D. Quixote, 1989.
LOPES, João Teixeira, Tristes
Escolas - Práticas Culturais Estudantis no Espaço Escolar Urbano, Porto,
Edições Afrontamento, 1997.
LYNCH, Kevin, A
Imagem da Cidade, Lisboa, Edições 70, 1990.
MAISONNEUVE, Jean, Les Rituels, Paris, Presses Universitaires de France, 1988.
MARCUSE, Herbert, Eros e Civilização, Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1968.
MARTINS, Gaspar Pereira, Famílias Portuenses na Viragem do Século (1880-1910), Porto,
Afrontamento, 1995.
MARX, Karl e ENGELS,
F., A Ideologia Alemã, Lisboa,
Editorial Presença/Livraria Martins Fontes, 1974.
MCGUIGAN, Jim,
Culture and the Public Sphere, London, Routledge, 1996.
MELO, Alexandre, Arte
e Dinheiro, Lisboa, Assírio e Alvim, 1994.
MELO, Alexandre, O
que é Arte, Lisboa, Difusão Cultural, 1994.
MONTEIRO, Paulo Filipe, Os Outros da Arte, Oeiras, Celta, 1996.
NAZARETH, Manuel, Princípios
e Métodos de Análise da Demografia Portuguesa, Lisboa, Presença, 1988.
NUNES, Adérito Sedas, “Sociologia e Ideologia do Desenvolvimento”, Lisboa, Moraes Editores,
1968.
NUNES, João Sedas, A
Terceira Margem do Rio- Um Exercício de Reflexividade Sociológica a Partir de
um Estudo sobre Práticas Culturais, Lisboa, Prova de Capacidade Científica
em Sociologia, 1996.
OLIVEIRA, Claúdia Marisa Silva de, A Vida em Silêncios Comunicantes. Análise
Sociológica da Criação e da Recepção de um Espectáculo Teatral, Porto, Faculdade de Letras, 1997.
PACHECO, Helder, Porto,
Lisboa, Presença, 1984.
PAIS, José Machado (coord.) et al., Práticas Culturais dos Lisboetas, Lisboa, Instituto de Ciências
Sociais, 1994.
PAIS, José Machado, Culturas Juvenis, Lisboa, Imprensa Nacional, 1994.
PAIS, José Machado, Juventude
Portuguesa. Situações. Problemas. Aspirações. V- Usos do Tempo e Espaços de
lazer, Instituto de Ciências Sociais/ Instituto da Juventude, sem data.
PARKIN, Frank, Max
Weber, Oeiras, Celta Editora, 1996.
PEREIRA, Gaspar Martins, O Porto de Camilo, policopiado.
PEREIRA, Gaspar Martins, PEREIRA, Luciano Vilhena, Álbum
de Memórias do Ateneu Comercial do Porto (1869-1994), Porto, Ateneu
Comercial do Porto, 1995.
PINTO, José Madureira, Ideologias: Inventário Crítico dum Conceito, Lisboa,
Presença/Gabinete de Investigações Sociais, 1978.
PINTO, José Madureira, Propostas para o Ensino das Ciências Sociais, Porto, Edições
Afrontamento, 1994.
PORCHER, Louis, A
Escola Paralela, Lisboa, Livros Horizonte, 1977.
POUJOL, G. e LABOURIE,
R., Les Cultures Populaires, Toulouse,
Edouard Privat Éditeur, 1979.
QUINTÃO, Carlota e OLIVEIRA, Paula, A
Participação Juvenil no Movimento Associativo em Matosinhos, Câmara
Municipal de Matosinhos/ Fundação Gomes Teixeira, 1997.
QUIVY, Raymond e CAMPENHOUDT,
Luc Van, Manual de Investigação em
Ciências Sociais, Lisboa, Gradiva, 1992.
RAMOS, António Oliveira, História do Porto, Porto, Porto Editora, 1994.
REIS, António (coord.), Portugal Vinte Anos de Democracia, Lisboa, Círculo de Leitores.
RÉMY, Jean e VOYÉ,
Liliane, A Cidade: Rumo a uma Nova
Definição?, Porto, Edições Afrontamento, 1994.
RIGAUD, Jacques (coord.), Orientations Générales pour une Réfondation, Paris, La
Documentation Française, 1996.
RONCAYOLO, Marcel, La
ville et ces Territoires, Paris, Gallimard, 1990.
SANTO, Manuela Espírito, O Teatro Baquet- no Centenário de uma Tragédia, Porto, Círculo de
Cultura Teatral, 1988.
SANTOS, Boaventura de Sousa, “ O Estado e a Sociedade em Portugal (1974-1988)”, Porto, Edições
Afrontamento, 1990.
SANTOS, Boaventura. Sousa., “Pela Mão de Alice. O Social e o Político na Pós-Modernidade”, Porto,
Edições Afrontamento, 1996.
SANTOS, Félix Requena, Amigos y Redes Sociales. Elementos para una Sociologia de la Amistad, Madrid,
Siglo XXI de España Editores, 1994.
SANTOS, Maria de Lourdes Lima dos (coord.), As Políticas Culturais em Portugal
(1985-1995), Lisboa, Observatório da Actividades Culturais, 1998.
SANTOS, Maria de Lourdes Lima dos, 10 Anos de Mecenato Cultural em Portugal, Lisboa,
Observatório da Actividades Culturais, 1998.
SANTOS, Maria de Lourdes Lima dos, Cultura e Economia, Lisboa, Instituto de
Ciências Sociais, 1995.
SANTOS, Maria Lourdes Lima dos, Para uma Sociologia da Cultura Burguesa em
Portugal no Séc. XIX, Lisboa, Presença/Instituto de Ciências Sociais, 1983.
SANTOS, Maria Lourdes Lima dos, Práticas Culturais dos Portugueses:
Configurações do Presente e Prefigurações do Futuro, policopiado.
SCHMIDT, Luísa, A
Procura e a Oferta Cultural e os Jovens, Lisboa, Instituto de Ciências
Sociais/Instituto da Juventude, 1993.
SCHUTZ, Alfred, The
Sructures of the Life- World, Evanston, Northwestern University Press,
1973.
SELGAS, Fernando J. Garcia, Teoria Social e Metateoria Hoy- El Caso de Anthony Giddens, Madrid,
Siglo XXI Editores, 1994.
SENNET, Richard, The Fall of Public Man, New York, Norton, 1992.
SENNETT, Richard, Narcisismo y Cultura Moderna, Barcelona, Editorial Kairós, 1980.
SILVA, Augusto Santos e JORGE, Vitor Oliveira (orgs.), Existe
uma Cultura Portuguesa?, Porto, Edições Afrontamento, 1993.
SILVA, Augusto Santos e SANTOS, Helena, “Prática e
Representação das Culturas: um Inquérito na Área Metropolitana do Porto,
Porto, Centro Regional da Artes Tradicionais, 1995.
SILVA, Augusto Santos, Entre a Razão e o Sentido, Porto, Edições Afrontamento, 1988.
SILVA, Augusto Santos, Tempos Cruzados: um Estudo Interpretativo da Cultura Popular, Porto,
Edições Afrontamento.
SIMMEL, Georg, “La Mode” in La Tragédie de la Culture”, Paris, Éditions Rivages, 1988.
SMITH, Neil e WILLIAMS,
Peter (eds.), Gentrification of the City,
London, Allen e Unwin, 1986.
SORKIN, Michael (ed.), Variations on a Theme Park, New York, Hill and Wang, 1992.
TOURRAINE, Alain, Carta
aos Socialistas, Lisboa, Terramar, 1996.
URFALINO, P., L’Invention
de la Politique Culturelle, Paris, La Documentation Française, 1996.
VEAUX, Scott De, Jazz
in America: Who’s Listening?, Carson, Seven Locks Press, 1995.
VIARD, Jean, La
Societé d’Archipel, Le Château ,
Éditions de l,Aube, 1994.
VIEGAS, José Manuel Leite e COSTA, António Firmino da, Portugal
que Modernidade?, Oeiras, Celta
Editora, 1998.
WANGERMEE, Robert, Évaluation
des Politiques Culturelles Nationales, Conseil de la Coopération Culturelle, 1992.
WEBER, Max, A Ética
Protestante e o Espírito do Capitalismo, Lisboa, Presença, 1983.
WEBER, Max, Economia
y Sociedad, Mexico, Fondo de Cultura Economica, 1944.
WEBER, Max, Essais
sur la Théorie de la Science, Paris, Plon, 1965.
WEBER, Max, Sobre a
Teoria das Ciências Sociais, Lisboa, Presença, 1976
YVES, Léonard (dir.), Culture et Societé. Cahiers Français, Paris, La Documentation
Française, nº 260, s/data.
2. Artigos
ADORNO, Theodor, “Culture industry reconsidered” in The Culture Industry:
Selected Essays on Mass Culture,
London, Routledge, 1991.
ALMEIDA, Bernardo Pinto de, “Alguns Olhares” in 3+3 Olhares sobre o Rivoli, Câmara
Municipal do porto, 1997.
ALMEIDA, Carla Maria, “Nunca se fez tanto teatro” in
Hei!, nº 2, Abril de 1997.
ALMEIDA, João Ferreira de et al, “Recomposição sócioprofissional e novos protagonismos” in
António Reis (coord.), Portugal- 20 Anos
de Democracia, Lisboa, Círculo de Leitores, 1994.
ALMEIDA, João Ferreira de,
“Evoluções recentes e valores na sociedade” in AAVV, Portugal Hoje, Lisboa, Instituto Nacional de Admnistração, 1995.
ALMEIDA, João Ferreira de, COSTA, A. Firmino da, MACHADO,
F. Luís, in A. Reis (coord.), Portugal
Vinte Anos de Democracia, Lisboa, Círculo de Leitores.
ALMEIDA, Miguel Vale de, “Antropologia do corpo e da
incorporação” in Miguel Vale de Almeida (org.), Corpo Presente, Oeiras, Celta Editora, 1996.
AZEVEDO, José, “Perspectivas
psicossociais no estudo da identidade” in Sociologia, Faculdade de Letras do Porto, Vol.II, 1992.
BABLET, Denis, “Le lieu, la scénographie et le
spectateur” in Le Rôle du Spectateur,
Théâtre Public, nº 55, 1984.
BANDEIRA, José Gomes, “ A última palavra em bom
gosto”, in Jornal de Notícias, 16 de
Outubro de 1997.
BANDEIRA, José Gomes, “O Rivoli de Maria Borges” in Jornal de Notícias, 16 de Outubro de
1997.
BANDEIRA, José Gomes, “O Teatro Nacional de 1913” in Jornal de Notícias, 16 de Outubro de
1997.
BANDEIRA, Mário Leston, “Teorias da População e
modernidade: o caso português” in Análise
Social, nº 135, 1996.
BARRETO, António, “Portugal na periferia do centro:
mudança Social, 1960 a 1995” in Análise
Social, nº 134, 1995.
BARRETO, António, “Três décadas de mudança social”
in A Situação Social em Portugal (1960-1995),
Lisboa, Instituto de Ciências Sociais, 1996.
BAUDRILLARD, Jean, “De la marchandise
absolue” in A. Melo (org.), Arte e
Dinheiro, Lisboa, Assírio e Alvim, 1994.
BAUMN, Zygmunt, “Modernity and Ambivalance” in AAVV, The Polity Reader in Social Theory, Cambridge, Polity Press, 1994.
BEAUREGARD, Robert, “ The chaos and complexity of gentrification”
in N. Smith e P. Williams (eds.), Gentrification
of the city, London, Allen e Unwin, 1986.
BELK, Russel W., “La consommation symbolique d’art et de
culture” in Économie et Culture, Paris
la Docummentation Française, 1987.
BENJAMIN, Walter, “A obra de arte na era da sua
reprodutilidade técnica” in Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política, Lisboa, Relógio d’Água, 1992.
BENJAMIN, Walter, “Paris, capital do séc.XIX” in
Carlos Fortuna (org.), Cidade, Cultura e
Globalização, Oeiras, Celta, 1997.
BIDART, Claire, “Sociabilités: quelques variables”
in Revue Française de Sociologie, nº
29, 1988.
BOURDIEU, Pierre, “ Le sens pratique” in Actes de la Recherche en Sciences Sociales, nº
1, 1976.
BOURDIEU, Pierre, “Élements d’une théorie
sociologique de la perception artistique” in Revue Internationale des Sciences Sociales, nº 4, 1968.
BOURDIEU, Pierre, “La «Jeunesse» n’est qu’un mot” in Question de Sociologie, Paris, Les
Éditions de Minuit, 1994.
BOURDIEU, Pierre, “Les trois états du capital
culturel” in Actes de la Recherche en
Sciences Sociales, nº 30, 1979.
BOURDIEU, Pierre, “Remarques provisoires sur la
perception sociale du corps” in Actes de
la Recherche en Sciences Sociales, nº14, 1997.
BOVONE, Laura, “Os novos intermediários culturais.
Considerações sobre a cultura pós-moderna” in Carlos Fortuna (org.), Cidade, Cultura e Globalização, Oeiras, Celta Editora, 1998.
CARRILHO, Maria José, PEIXOTO, João, “A evolução demográfica em Portugal entre 1981 e
1992” in Estudos Demográficos, INE,
nº 31, 1993.
CARVALHO, Paula, “Desfile na Praia da Luz” in Jornal de Notícias, 31/05/97.
CASANOVA, José Luís, “Uma avaliação conceptual do
habitus” in Sociologia- Problemas e
Práticas, nº 18, 1995.
COELHO, Eduardo Prado, “Os conteúdos das
indústrias” in Público, Leituras, 5 Julho
de 1997.
COELHO, Eduardo Prado, “Uma geração rasca” in
Jornal Público, 25/05/94.
CONDE, Idalina, “ Cenários de práticas culturais em
Portugal (1979-1995) in Sociologia-
Problemas e Práticas, nº 23, 1996.
CONDE, Idalina, “Contextos, culturas, identidades” in
José Manuel Leite Viegas e António Firmino da Costa(orgs.), Portugal, que Modernidade?, Oeiras,
Celta, 1998.
CONDE, Idalina, “O sentido do desentendimento nas Bienais
de Cerveira: arte, artistas e público” in
Sociologia- Problemas e Práticas, nº 2, 1987.
CONDE, Idalina, “Percepção, estética e públicos da
cultura: perplexidade e redundância” in Idalina Conde (coord.), Percepção, estética e Públicos da Cultura, Lisboa,
Acarte/Fundação Calouste Gulbenkian, 1992.
CONNOR, Justin O’, WYNNE, Derek, “Das margens para o centro. Produção e consumo de
cultura em Manchester” in Carlos Fortuna (org.), Cidade, Cultura e Globalização, Oeiras, Celta Editora, 1997
CORSARO, William A., “Discussion, debate and
friendship processes: peer discourse in U.S and Italian nursery schools” in Sociology of Education, Vol. 67, 1994.
COSTA, Alexandre Alves, “Noites de Sociologia do Porto-
II” in Sociologia- Revista da Faculdade
de Letras, nº 2, 1992.
COSTA, Isabel Alves, “ O desafio como método” in Jornal de Notícias, 16 de Outubro de
1997.
COUTINHO, Leonor, “Novas tendências do processo de
urbanização” in AAVV, Portugal Hoje, Lisboa,
Instituto Nacional de Admnistração, 1995.
CURVELO, António, “Bom jazz, má informação” in Público, 22/02/98.
DELEUZE, Gilles, “Como reconhecer o estruturalismo”
in François Châtelet (dir.), A Filosofia
do Século XX, Lisboa, Publicações D.Quixote, 1981.
DIMAGGIO, Paul, “Classification in art” in American Sociological Review, vol. 52, 1987.
DIONÍSIO, Eduarda, “As práticas culturais” in A. Reis
(coord.), Portugal Vinte Anos de
Democracia, Lisboa, Círculo de Leitores.
DOMINGUES, Álvaro, “Noites de Sociologia do Porto II”
in Sociologia Revista da Faculdade de
Letras da Universidade do Porto, nº 2, 1992.
ECO, Umberto, “Entre autor e texto” in Stefan Collini (dir.),
Interpretação e Sobreinterpretação, Lisboa,
Editorial Presença, 1993.
ESTEVES, António Joaquim e PINTO, José Madureira, “O envelhecimento na área metropolitana do
Porto” in Estatísticas e Estudos
Regionais, nº 14, 1997.
ESTEVES, António Joaquim, “A área metropolitana do
Porto: aspectos do estado recente da escolarização da sua população” in Estatísticas e Estudos Regionais, nº 10,
Janeiro/Abril, 1996.
EVRARD, Yves, “Les Déterminants des Consommations
Culturelles” in AAVV, Économie et
Culture, Paris, La Documentation Française, 1987.
FERNANDES, António Teixeira, “ Alguns desafios
teórico-metodológicos” in António Joaquim Esteves e José Azevedo (eds.), Metodologias Qualitativas, Porto,
Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras, s/data.
FERNANDES, António Teixeira, “Ensino e participação
democrática” in Saber Educar, nº 1,
1996.
FERNANDES, António Teixeira, “Espaço social e suas
representações” in Sociologia, Vol.II,
1992.
FERNANDES, António Teixeira, “Etnicização e racização
no processo de exclusão social” in Sociologia,
I Série, Vol. V, 1995.
FERRÃO, João, “Três décadas de consolidação do
Portugal demográfico «moderno»” in António Barreto (org.) A Situação Social em Portugal (1960- 1995), Lisboa, Instituto de
Ciências Sociais, 1996.
FERREIRA, Virgínia, “O inquérito por questionário” in
Augusto Santos Silva e José Madureira Pinto (coords.), Metodologia das Ciências Sociais, Porto, Edições Afrontamento,
1987.
FISCHER, Claude S., “Toward a subcultural theory of
urbanism” in Mark Baldassare, Cities and Urban
Living, New York, 1983.
FOREST, P., “Le concept contemporain de culture” in
Cahiers Français. Culture et Societé, Paris,
La Documentation Française, 1993.
FREITAS, Maria João, “Redes Sociais em meio urbano.
Dois bairros sociais da cidade de Lisboa em análise” in AAVV, Viver (n)a Cidade, Lisboa, Grupo de
Ecologia Social (LNEC) e Centro de Estudos Territoriais (ISCET), 1990.
GALLAND, Olivier, “Un statut indéfini et
indéfinissable” in Jeunes d’Aujourd’hui, Paris,
La Documentation Française, 1987.
GAMBONI, Dario, “L’iconoclasme contemporain:
agressions physiques contre des ouvres
d’art et perception esthétique” in Idalina Conde (coord.), Percepção Estética e Públicos da Cultura, Lisboa,
Acarte/ Fundação Calouste Gulbenkian, 1992.
GARFINKEL, Harold, “What is ethnomethodology?” in
AAVV, The Polity Reader in Social Theory,
Cambridge, Polity Press, 1994.
GIDDENS, Anthony, “Time, space and regionalisation”
in Derek Gregory e John Urry (eds.), Social
Relations and Spacial Structures, London, Macmillan, 1985.
GIRARD, Augustin, “As investigações sobre as práticas culturais” in Jean- Pierre
Rioux e Jean- François Sirinelli, Para
uma História Cultural, Lisboa, Editorial Estampa, 1998.
GODARD, Francis, “ Les rapports entre générations:
une approche historique” in AAVV, Jeunes
d’Aujourd’hui, Paris, La Documentation Française, 1987.
GOMES, Paulo, BACELAR,
Sérgio e SALEIRO, Emília,
“Contributo para a definição de uma tipologia socioeconómica da região Norte”
in Estatísticas e Estudos Regionais, nº
5, Maio/Agosto, 1994.
GOURDON, Anne- Marie, “Le public du thêatre et as
perception” inThêatre Public, nº 55,
s/data.
GROS, Marielle C. "Estratégias identitárias
num território desqualificado", in AAVV, Dinâmicas Culturais , Cidadania e Desenvolvimento Local, Lisboa,
Associação Portuguesa de Sociologia,
1994.
GUICHARD, François, “O Porto no século XX” in A.
Oliveira Ramos, História do Porto, Porto,
Porto Editora, 1989.
GUIMARÃES, Regina, “Sejamos crus como nos compete,
foda-se!” in Hei!, nº 2, Abril de
1997.
HABERMAS, Jurgen, “A nova capacidade: a crise do
Estado-Providência e o esgotamento das energias utópicas” in Revista de Comunicação e Linguagens,
nº2, 1985.
HABERMAS, Jurgen, “Entrevista com Jurgen Habermas: a
dialéctica da racionalização” in Revista
de Comunicação e Linguagens, nº2, 1985.
HAMILTON, Peter, “Nota da edição inglesa” in Frank
Parkin, Max Weber, Oeiras, Celta
Editora, 1996.
HEINICH, Nathalie, “Du jugement de gout la
perception esthétique” in Idalina Conde (coord.) Percepção Estética e Públicos da Cultura, Lisboa, Acarte/Fundação
Calouste Gulbenkian, 1992.
HÉRAN, François, “La sociabilité, une pratique
culturelle” in Économie et Statistique, nº
216, 1998.
HOLLANDS, R. G. “ As identidades juvenis e a cidade”
in Carlos Fortuna (org.), Cidade, Cultura
e Globalização, Oeiras, Celta Editora, 1998.
JAMESON, Frederic, “Transformações da imagem na pós-
modernidade” in F. Jameson, Espaço e
Imagem – Teorias do Pós-Moderno e Outros Ensaios, Rio de Janeiro, Editora
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1995.
JANKÉLÉVITCH, Vladimir, “Georg Simmel,
philosophe de la vie” in G. Simmel, La
Tragédie de la Culture, Paris, Éditions Rivages, 1988.
LASCH, Christopher, “Consumo, narcisismo e cultura de
massas” in Revista de Comunicação e
Linguagens, nº2, 1985.
LEENHARDT, Jacques, “Recepção da obra de arte” in
Mikel Dufrenne (org.), A Estética e as
Ciências da Arte, Amadora, Bertrand, 1982.
LOPES, João Teixeira, “ As escolas urbanas como cenários
de interacção” in Sociologia,Revista
da Faculdade de Letras, I Série,
volume V, 1995.
LOPES, João Teixeira, “A experiência estética como
prática social” in Cadernos Sociais, nº
18, 1998.
LOPES, João Teixeira, “Alguns contributos para (re)pensar
da noção de recepção cultural” in Cadernos
de Ciências Sociais, nº15- 16, 1996.
LOPES, João Teixeira, “Antropologia e sociologia: duas
disciplinas em diálogo” in Vitor Oliveira Jorge e Raúl Iturra, Recuperar o Espanto: O Olhar da
Antropologia, Porto, Edições Afrontamento, 1997.
LOPES, João Teixeira, “As estatísticas na área da
cultura: breve reflexão” in Sociologia-
Problemas e Práticas, nº 26, 1998.
LOPES, João Teixeira, “Estruturas espaciais e práticas
sociais- a inexistente opção entre o local e o global” in Sociologia,I Série, volume IV
1994.
LOPES, João, “Tempos e espaços de animação” in AAVV, Dinâmicas Culturais, Cidadania e
Desenvolvimento, Lisboa, Associação Portuguesa de Sociologia, 1994.
LOPES, José Silva, “O crescimento económico” in A.
Barreto (org.), A Situação Social em
Portugal (1960- 1995), Lisboa, Instituto de Ciências Sociais, 1996.
LYOTARD, Jean- François, “Apostila às narrativas” in O
Pós-Moderno Explicado às Crianças, Lisboa, Publicações D.Quixote, 1987.
MACDONALD, João, “Editores à mostra” in Hei!, Junho de 1997.
MACHADO, Fernando Luís, COSTA, António Firmino da, “Processos de uma modernidade inacabada.
Mudanças estruturais e mobilidade social” in José M. L. Viegas e António
Firmino da Costa (orgs.), Portugal, que
Modernidade?, Oeiras, Celta, 1998.
MARCEL, Jean- Christophe, “L’évolution des
pratiques culturelles des français” in
Yves Léonard (dir), Culture et Societé.
Cahiers Français, Paris La Documentation Française, nº 260, s/data.
MAROY, Christian, “A análise qualitativa de entrevistas”
in Luc Albarello et al., Práticas e Métodos de Investigação em
Ciências Sociais, Lisboa, Gradiva, 1997
MARTINS, Isabel, “Tendências demográficas na área
metropolitana do Porto” in Estatísticas e
Estudos Regionais, nº 10, Janeiro/Abril, 1996.
MARTINS, Moisés de Lemos, “A espistemologia do saber
quotidiano” in Revista Crítica de
Ciências Sociais, nº 37, 1993.
MARX, Karl, “Misère de la philosophie: réponse de la
misère de M. Proudhon” in Oeuvres, Paris,
Gallimard, 1969.
MEDEIROS, Fernando, “A formação do espaço social
português: entre a «sociedade- providência» e
uma CEE providencial” in Análise
Social, nº 118- 119.
MELO, Carla e SALEIRO,
Emília, “A Região Norte segundo alguns indicadores das contas regionais
portuguesas” in INE, Infoline- Estudos.
MENDES, Fernando Ribeiro, “Por onde vai a segurança
social portuguesa” in Análise Social, nº
131.
MENDES, Maria Filomena, CANDEIAS, Amável Calixto e MAGALHÃES,
Alexandra, “A evolução recente da família na área metropolitana do Porto” in Estatísticas e Estudos Regionais , nº
14, 1997.
MENGER, Pierre- Michel, “L’oreille spéculative.
Consommation et perception de la musique contemporaine” in Revue Française de Sociologie, XXVII, 1986.
MIRANDA, José Bragança de, “Modernidade, espaço
público e conflito de nomeações” in Revista
de Comunicação e Linguagens, nº2, 1985.
MOIGNE, P., “Les politiques culturelles de la
culture: du développement culturel au conditionement public (1977-1990)” in
AAVV, Jalons pour l’Histoire des
Politiques Culturelles Locales, Paris, Ministère de la Culture/La
Documentation Française, 1995.
MONTEIRO, Paulo Filipe, “Bourdieu e as críticas que
caíram ao chão” in Revista Crítica de
Ciências Sociais, nº 37, 1993.
MONTEIRO, Paulo Filipe, “Os públicos do teatro de
Lisboa: primeiras hipóteses” in Análise
Social, nº 129, 1994.
NAJAR, Sihem, “Comportement, vestimentaire et
identification au pluriel” in Societé, nº
50, 1995.
NUNES, João Sedas, DUARTE,
Maria Paula, “Usos do tempo e gostos culturais” in José Machado Pais (coord.), Práticas Culturais dos Lisboetas, Lisboa,
Instituto de Ciências Sociais, 1994.
OLIVEIRA, Eduardo de, “Sobre o Porto” in Eugénio de
Andrade (org.), Daqui Houve Nome
Portugal- Antologia de Verso e Prosa sobre o Porto, Porto, O Oiro do Dia,
s/data.
PAIS, José Machado, “ Éticas e estéticas do quotidiano”
in Maria de Lourdes Lima dos Santos (coord.), Cultura e Economia, Lisboa, Instituto de Ciências Sociais, 1995.
PAIS, José Machado, “Durkheim: das Regras do Método aos
Métodos Desregrados” in Análise Social, nº
131- 132.
PAIS, José Machado, “Nas rotas do quotidiano” in Revista Crítica de Ciências Sociais, nº
37, 1993.
PARMENTIER, Patrick, “Les genres et leurs lecteurs” in Revue Française de
Sociologie, XXVII, 1986.
PELLEGRINO, Pierre, in AAVV, Viver (n)a Cidade, Lisboa, Grupo de Ecologia Social (LNEC) e Centro
de Estudos Territoriais (ISCET), 1990.
PEREIRA, António Eduardo, “Estudos sobre o poder de
compra concelhio” in INE, Infoline-
Estudos.
PEREIRA, João Luís, “Ritmos” in Hei!, nº4, Junho de 1997.
PEREIRA, Virgílio Borges, “ Os índios e a vida
selvagem” in Sociologia. Revista da
Faculdade de Letras, Porto, nº4, 1994.
PEREIRA, Virgílio Borges, “Café com quê?!. Uma
análise sobre práticas semi- públicas de sociabilidade em espaços/tempos
intermediários da baixa portuense” in
Sociologia, nº 5, 1995.
PEREIRINHA, José, “Social exclusion in Portugal” in
José da Silva Lopes (ed.), Portugal and
EC Membership Evaluated, London, Pinter Publishers, 1993.
PERES, Cristina, "Isabel Alves Costa -
Rivolimania" in Expresso,
11/10/97
PINTO, José Madureira, “ Questões de metodologia
sociológica (I)” in Cadernos das Ciências
Sociais, nº1, 1984.
PINTO, José Madureira, “História da produção cultural e
percepção estética” in Cadernos de
Ciências Sociais, nº 18, 1998.
PINTO, José Madureira, “Intervenção cultural em espaços
públicos” in Maria de Lourdes Lima dos Santos (coord.) , Cultura e Economia, Lisboa, Instituto de Ciências Sociais, 1995.
PINTO, José Madureira, “Lados encobertos da iliteracia
(1)” in Jornal de Notícias, 23/01/96.
PINTO, José Madureira, “Lados encobertos da iliteracia
(2)” in Jornal de Notícias, 24/01/96.
PINTO, José Madureira, “Notas sobre o sofrimento na sala
de aula e possíveis modos de atenuar” in Território
Educativo, nº 1, 1997.
PINTO, José Madureira, “Questões de metodologia
sociológica (II)” in Cadernos de Ciências
Sociais, 2, 1984.
PINTO, José Madureira, “Questões de metodologia
sociológica (III)” in Cadernos de
Ciências Sociais, nº 2, 1984.
PINTO, José Madureira, “Uma reflexão sobre políticas
culturais” in AAVV, Dinâmicas Culturais,
Cidadania e Desenvolvimento Local, Lisboa, Associação Portuguesa de
Sociologia, 1994.
PINTO, José Madureira, Intervenção no painel “Mudam-se os
campos, mudam-se as cidades” in Sociologia,
nº 2, 1992.
PINTO, Maria Luís Rocha, “As tendências demográficas” in
A. Reis (coord.), Portugal, Vinte Anos de
Democracia, Lisboa, Círculo de Leitores.
PRESS, Andrea L., “The sociology of cultural reception:
notes toward na emerging paradigm” in Diane Crane, The Sociology of Culture, Cambridge, Basil Blacwell, 1994.
QUINTANA, Ignacio, “Politicas culturales en las
grandes ciudades” in Jordi Borja, Manuel Castells et al., Las Grandes Ciudades en la Decada de los Noventa, Madrid, Editorial
Sistema, 1990.
RODRIGUES, Adriano Duarte, “O público e o privado” in Revista de Comunicação e Linguagens, nº2,
1985.
RODRIGUES, Adriano Duarte, “Para uma sociologia
fenomenológica da experiência quotidiana” in Revista Crítica de Ciências Sociais, nº 37, 1993.
RODRIGUES, C. F., “Medição e decomposição da
desigualdade em Portugal (1980/81- 1989/90)” in INE, Infoline- Estudos (originalmente publicado in Revista de Estatística, nº 3, 1996).
RODRIGUES, Walter, “«Gentrification» e emergência de
novos estilos de vida na cidade” in AAVV, Viver
(n)a Cidade, Lisboa, Grupo de Ecologia Social (LNEC) e Centro de Estudos
Territoriais (ISCET), 1990.
RODRIGUES, Walter, “Urbanidade e novos estilos de
vida” in Sociologia Problemas e Práticas,
nº 12, 1992.
RONCAYOLO, Marcel, “As cidades e as identidades:
patrimónios, memórias e narrativas sociais” in Maria de Lourdes Lima dos Santos
(coord.), Cultura e Economia, Lisboa,
Instituto de Ciências Sociais, 1995.
RORTY, R., “O progresso do pragmatista” in Stefan Collini
(dir), Interpretação e
Sobreinterpretação, Lisboa, Editorial Presença, 1993.
RUPP, Jan C. C., “Les classes populaires dans un espace
social à deux dimensions” in Actes de la
Recherche en Sciences Sociales, nº 109, 1995.
SANTOS, Helena, “Dinamizações a partir das margens?
Observações sobre participação sócio- cultural a partir de algumas «produções
culturais»” in AAVV, Dinâmicas Culturais,
Cidadania e Desenvolvimento Local, Lisboa, Associação Portuguesa de
Sociologia, 1994.
SANTOS, Maria de Lourdes Lima dos, "Cultura,
aura e mercado" in Alexandre Melo (org.), Arte e Dinheiro, Lisboa, Assírio e Alvim, 1994
SANTOS, Maria de Lourdes Lima dos, “ Deambulação
pelos novos mundos da arte e da cultura” in Análise
Social, nº 125- 126, 1994.
SANTOS, Maria de Lourdes Lima dos, “«Cultura dos
ócios» e utopia” in M. L. L. S. (coord.), Cultura
e Economia, Lisboa, Instituto de Ciências Sociais, 1995.
SANTOS, Maria de Lourdes Lima dos, “Questionamento à volta de três noções (a
grande cultura, a cultura popular e a cultura de massas) “ in Análise Social, nº 101- 102, 1988.
SERÉN, Maria do Carmo, PEREIRA, Gaspar Martins, “O Porto oitocentista” in A. Oliveira Ramos, História do Porto, Porto, Porto Editora, 1994.
SILVA, Augusto Santos, “Cultura: das obrigações do Estado
à participação civil” in Sociologia-
Problemas e Práticas, nº 23, 1997.
SILVA, Augusto Santos, “Os lugares vazios do mapa
português” in Textos Datados com Motivo e
Causa, Matosinhos, Contemporânea/Jornal “Público”, s/data.
SILVA, Augusto Santos, “Políticas culturais municipais e
animação do espaço urbano. Uma análise de seis cidades portuguesas” in Maria de
Lourdes Lima dos Santos (coord.), Cultura
e Economia, Lisboa, Instituto de Ciências Sociais, 1995.
SILVA, Augusto Santos, BABO, Elisa, SANTOS,
Helena e GUERRA, Paula, “Agentes
culturais e públicos para a cultura: alguns casos ilustrativos de uma difícil
relação” in Cadernos de Ciências Sociais,
nº 18, 1998.
SILVANO, Filomena e NEVES, João, “Enraizamento e Cosmopolitismo: contributo uma análise
de recomposição urbana” in AAVV, Viver
(n)a Cidade, Grupo de Ecologia Social (LNEC) e Centro de Estudos
Territoriais (ISCET), 1990.
SIMMEL, Georg, “A metrópole e a vida do espírito”
in Carlos Fortuna (org.), Cidade, Cultura
e Globalização, Oeiras, Celta, 1997.
SMITH, Neil e WILLIAMS, Peter,
Alternatives to orthodoxy: invitation to a debate” in N. Smith e P. Williams
(eds.), Gentrification of the city, London,
Allen e Unwin, 1986.
SOCZKA, Luís, “Ecologia social do risco psicológico
em meio urbano” in Viver (n)a Cidade Psicologia, Vol. VI, nº 3, 1988.
SONTAG, Susan, “Sob o signo de Saturno”, Prefácio
às obras de Walter Benjamin, Rua de
Sentido Único e Infância em Berlim por volta de 1900, Lisboa, Relógio
d’Água, 1992.
TORRES, Sónia e SALEIRO, Emília, “Alguns números para a avaliação do emprego e
desemprego na área metropolitana do Porto” in Estatísticas e Estudos Regionais, nº 10, Janeiro/Abril, 1996.
TORRES, Sónia, “Caracterização sócioprofissional da
Região Norte” in Estatísticas e estudos
Regionais, nº 7, Janeiro/Abril de 1995.
UBERSFELD, ANNE, “Apprentissage et liberté” in Rôle du Spectateur, Théâtre Public, nº 55, 1984.
URFALINO, P., “A história da política cultural” in
Jean- Pierre Rioux e Jean François Sirinelli (dir), Para uma História Cultural, Lisboa, Editorial Estampa, 1998
UUSITALO, Luísa, “Sur la consommation de peinture”, L’Économie et Culture, Paris la
Docummentation Française, 1987.
VALA, Jorge, “As representações sociais no quadro dos
paradigmas e metáforas da psicologia
social” in Análise Social, nº 123- 124, 1993.
VALA, Jorge, “Representações sociais e percepções
intergrupais” in Análise Social, nº
140, 1997.
WALBY, Sylvia, “Post- postmodernism? Theorizing gender” in AAVV, The Polity Reader in Social Theory, Cambridge, Polity Press, 1994.
WARDE, Alan, “Intermediação cultural e alteração do
gosto” in Carlos Fortuna (org.), Cidade,
Cultura e Globalização, Oeiras, Celta, 1997.
WELSCH, Wolfgang, “A estheticization processes. Phenomena, distinctions and
prospects” in Theory, Culture et Society,
vol. 13, 1996.
WILLIAMS, P, “Class constitution through spacial reconstruction? A re- evaluation of gentrification in Australia,
Britain and the United States” in N. Smith et al., Gentrification of the city, London, Allen e Unwin, 1986.
ANEXOS
ANEXO I
|
Indicadores
Demográficos por NUTS I, II e III em 1996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NUTS I, II e
III |
Saldo Natural |
Saldo Migratório |
Acréscimo Populacional |
Taxa Crescimento Natural |
Taxa Crescimento Migratório |
Taxa Crescimento Efectivo |
Taxa Natalidade |
Taxa Mortalidade |
Taxa Mortalidade Infantil |
|
|
(milhares) |
|
|
(percentagem) |
|
|
(permilagem) |
|
|
|
PORTUGAL |
3,36 |
10,00 |
13,35 |
0,03 |
0,10 |
0,13 |
11,1 |
10,8 |
6,9 |
|
CONTINENTE |
2,20 |
9,27 |
11,47 |
0,02 |
0,10 |
0,12 |
11,0 |
10,8 |
6,6 |
|
Norte |
10,96 |
3,02 |
13,98 |
0,31 |
0,09 |
0,40 |
12,2 |
9,1 |
7,8 |
|
Minho Lima |
-0,65 |
0,80 |
0,15 |
-0,26 |
0,32 |
0,06 |
9,6 |
12,2 |
5,9 |
|
Cávado |
2,28 |
1,21 |
3,49 |
0,62 |
0,33 |
0,95 |
13,9 |
7,8 |
8,6 |
|
Ave |
2,84 |
0,34 |
3,18 |
0,60 |
0,07 |
0,67 |
13,4 |
7,5 |
8,4 |
|
Grande Porto |
3,39 |
0,54 |
3,93 |
0,28 |
0,05 |
0,33 |
11,8 |
9,0 |
8,2 |
|
Tâmega |
3,42 |
-0,60 |
2,82 |
0,64 |
-0,11 |
0,53 |
14,6 |
8,1 |
7,2 |
|
Entre Douro Vouga |
1,26 |
0,87 |
2,13 |
0,48 |
0,33 |
0,81 |
12,4 |
7,6 |
6,2 |
|
Douro |
-0,54 |
0,05 |
-0,49 |
-0,23 |
0,02 |
-0,21 |
9,4 |
11,7 |
5,9 |
|
Alto Trás Montes |
-1,03 |
-0,20 |
-1,23 |
-0,45 |
-0,09 |
-0,54 |
8,5 |
13,0 |
11,0 |
|
Centro |
-3,66 |
2,33 |
-1,32 |
-0,21 |
0,14 |
-0,08 |
10,0 |
12,1 |
5,3 |
|
Baixo Vouga |
0,65 |
1,46 |
2,11 |
0,18 |
0,41 |
0,59 |
11,8 |
10,0 |
4,9 |
|
Baixo Mondego |
-0,55 |
0,06 |
-0,49 |
-0,17 |
0,02 |
-0,15 |
9,8 |
11,4 |
6,0 |
|
Pinhal Litoral |
0,31 |
0,89 |
1,20 |
0,13 |
0,39 |
0,53 |
11,3 |
9,9 |
3,5 |
|
Pinhal Interior Norte |
-0,79 |
-0,12 |
-0,91 |
-0,59 |
-0,09 |
-0,68 |
9,4 |
15,3 |
4,0 |
|
Pinhal Interior Sul |
-0,50 |
-0,38 |
-0,88 |
-1,07 |
-0,82 |
-1,89 |
7,0 |
17,7 |
3,1 |
|
Dão Lafões |
-0,68 |
0,74 |
0,06 |
-0,24 |
0,26 |
0,02 |
9,8 |
12,2 |
5,8 |
|
Serra Estrela |
-0,34 |
0,02 |
-0,32 |
-0,64 |
0,03 |
-0,61 |
7,6 |
14,0 |
7,6 |
|
Beira Interior Norte |
-0,68 |
-0,27 |
-0,95 |
-0,60 |
-0,24 |
-0,84 |
8,2 |
14,2 |
7,5 |
|
Beira Interior Sul |
-0,66 |
0,14 |
-0,52 |
-0,84 |
0,18 |
-0,66 |
7,3 |
15,7 |
3,5 |
|
Cova Beira |
-0,42 |
-0,20 |
-0,62 |
-0,47 |
-0,22 |
-0,69 |
9,3 |
14,0 |
8,3 |
|
Lisboa E Vale Do Tejo |
-0,70 |
3,68 |
2,98 |
-0,02 |
0,11 |
0,09 |
10,7 |
10,9 |
6,0 |
|
Oeste |
-0,67 |
1,46 |
0,79 |
-0,19 |
0,40 |
0,22 |
10,4 |
12,3 |
6,4 |
|
Grande Lisboa |
1,24 |
-2,17 |
-0,93 |
0,07 |
-0,12 |
-0,05 |
11,0 |
10,4 |
6,6 |
|
Península Setúbal |
0,66 |
3,40 |
4,06 |
0,10 |
0,51 |
0,61 |
11,0 |
10,0 |
5,7 |
|
Médio Tejo |
-1,05 |
0,54 |
-0,51 |
-0,47 |
0,24 |
-0,23 |
9,0 |
13,7 |
2,0 |
|
Lezíria Tejo |
-0,89 |
0,46 |
-0,43 |
-0,38 |
0,20 |
-0,19 |
9,3 |
13,2 |
4,6 |
|
Alentejo |
-3,47 |
-1,50 |
-4,97 |
-0,67 |
-0,29 |
-0,95 |
8,4 |
15,0 |
5,3 |
|
Alentejo Litoral |
-0,58 |
-0,35 |
-0,93 |
-0,62 |
-0,37 |
-0,98 |
7,8 |
14,0 |
9,4 |
|
Alto Alentejo |
-0,95 |
-0,39 |
-1,34 |
-0,78 |
-0,31 |
-1,09 |
8,2 |
15,9 |
2,0 |
|
Alentejo Central |
-0,75 |
-0,22 |
-0,96 |
-0,44 |
-0,13 |
-0,57 |
8,9 |
13,3 |
5,3 |
|
Baixo Alentejo |
-1,19 |
-0,55 |
-1,74 |
-0,88 |
-0,41 |
-1,29 |
8,2 |
17,0 |
5,4 |
|
Algarve |
-0,93 |
1,73 |
0,80 |
-0,27 |
0,50 |
0,23 |
10,7 |
13,4 |
5,4 |
|
Algarve |
-0,93 |
1,73 |
0,80 |
-0,27 |
0,50 |
0,23 |
10,7 |
13,4 |
5,4 |
|
R. AUTÓNOMA AÇORES |
0,84 |
0,29 |
1,13 |
0,35 |
0,12 |
0,47 |
14,7 |
11,2 |
7,9 |
|
R. AUTÓNOMA MADEIRA |
0,32 |
0,43 |
0,75 |
0,13 |
0,17 |
0,29 |
11,7 |
10,5 |
11,9 |
|
Fonte: INE, Estimativas de População Residente, nº24. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
GUIÃO DE ENTREVISTA PARA INFORMANTES
PRIVILEGIADOS
1ª
Parte - Representações e opiniões sobre a
"noite" em geral
1. Tipos de actividades nocturnas que
desempenha.
2.
Significado pessoal da
"noite" e das saídas nocturnas.
3.
Carácter distintivo da
"noite" face aos outros espaços-tempos quotidianos, em especial os de
cariz doméstico.
4. Especificidade da "noite"
portuense.
5. Opinião sobre o binómio "noite como
profissão"/"noite como lazer".
2ª
Parte - Representações e opiniões sobre
os públicos da "noite"
1. Opinião sobre a eventual especificidade
das pessoas que frequentam assiduamente os espaços-tempos nocturnos.
2.
Opinião sobre a eventual
diversidade desses públicos e os seus critérios diferenciadores:
. de cariz social
. de cariz sexual
. de cariz etário
. de cariz étnico
. de cariz
estilístico (modos de apresentação pública, por exemplo)
. outros critérios
3. Relação entre espaços diferenciados e
tipos de públicos.
4.
Posição sobre uma
eventual evolução ao longo do tempo dos públicos nocturnos.
5.
Práticas desses públicos
("o que se faz à noite").
6.
Traços que distinguem
"os que saem à noite" dos que "ficam em casa".
GUIÃO DE ENTREVISTA AOS "PRATICANTES CULTURAIS" NOCTURNOS
1ª
Parte
1. Frequência/regularidade com que costuma
sair à noite *
2. Locais habitualmente escolhidos **
3. Companhia(s) habitual(ais)/importância
dos amigos na estruturação das "saídas nocturnas"
4. Significado (s) de "sair à noite" e da "cidade
à noite"
2ª
Parte
1. Quando se escolhe ficar em casa, quais
as actividades mais frequentes e os equipamentos *** mais utilizados
2. Actividades mais frequentes dos
familiares que compartilham a residência
3.
Significado de "ficar em casa" e da "casa"
3ª
Parte
1.
Obstáculos a uma maior
intensidade das "saídas", em especial as nocturnas
2. Vantagens e desvantagens de "sair" versus "ficar em
casa"
*
Todos os dias, algumas
vezes por semana, ao fim de semana, algumas vezes por mês, etc. **
Captar, para além do polo restaurantes/cafés/bares/ discotecas, a frequência de
espectáculos musicais, teatro, cinema, etc.
*** Televisão, vídeo, rádio, Hi Fi, etc.
ANEXO V
Quadro I
|
Escalões Etários |
|||||
|
Não Fazer Nada |
Até 20 N=75 (15,9%) |
21-30 N=243 (51,4%) |
31-40 N=80 (16,9%) |
Mais de 40 N=75 (15,9%) |
|
|
|
Frequentemente N=120 (23,0%) |
41,3 |
30,5 |
22,5 |
22,7 |
|
|
|
Com alguma frequência N=361 (69,3%) |
1,3 |
2,9 |
3,8 |
4,0 |
|
|
|
Raramente/Nunca N=21 (4,0%) |
57,3 |
66,7 |
73,8 |
73,3 |
|
|
Quadro II
|
Escalões Etários |
|
||||
|
Ouvir Música |
Até 20 N=77 (15,1%) |
21-30 N=257 (50,4%) |
31-40 N=87 (17,1%) |
Mais de 40 N=89 (17,4%) |
||
|
Frequentemente N=490 (96,1%) |
96,1 |
96,9 |
95,4 |
94,4 |
||
|
Com alguma frequência N=10 (2,0%) |
3,9 |
1,2 |
3,4 |
1,1 |
||
|
Raramente/Nunca N=10 (2,0%) |
|
1,9 |
1,1 |
4,5 |
||
Quadro III
|
Escalões Etários |
|
||||
|
Ir a Bares |
Até 20 N=76 (15,2%) |
21-30 N=254 (50,7%) |
31-40 N=85 (17,0%) |
Mais de 40 N=86 (17,1%) |
||
|
Frequentemente N=243 (48,5%) |
57,9 |
60,6 |
35,3 |
17,4 |
||
|
Com alguma frequência N=112 (22,4%) |
13,2 |
23,2 |
27,1 |
23,3 |
||
|
Raramente/Nunca N=146 (29,1%) |
28,9 |
16,1 |
37,6 |
59,3 |
||
Quadro IV
|
Escalões Etários |
|
||||
|
Ir a Discotecas |
Até 20 N=76 (15,1%) |
21-30 N=253 (50,3%) |
31-40 N=87 (17,3%) |
Mais de 40 N=87 (17,3%) |
||
|
Frequentemente N=111 (22,1%) |
36,8 |
25,3 |
12,6 |
9,2 |
||
|
Com alguma frequência N=110 (21,9%) |
21,1 |
24,5 |
18,4 |
18,4 |
||
|
Raramente/Nunca N=282 (56,1%) |
42,1 |
50,2 |
69,0 |
72,4 |
||
Quadro V
|
Escalões Etários |
|
||||
|
Escrever Poemas, Contos, etc. |
Até 20 N=76 (15,3%) |
21-30 N=250 (50,2%) |
31-40 N=86 (17,3%) |
Mais de 40 N=86 (17,3%) |
||
|
Frequentemente N=70 (14,1%) |
23,7 |
14,8 |
10,5 |
7,0 |
||
|
Com alguma frequência N=42 (8,4%) |
14,5 |
6,8 |
8,1 |
8,1 |
||
|
Raramente/Nunca N=386 (77,5%) |
61,8 |
78,4 |
81,4 |
84,9 |
||
Quadro VI
|
Escalões Etários |
|
||||
|
Visitar Museus, Exposições, etc. |
Até 20 N=76 (15,1%) |
21-30 N=252 (50,2%) |
31-40 N=87 (17,3%) |
Mais de 40 N=87 (17,3%) |
||
|
Frequentemente N=117 (23,3%) |
18,4 |
21,8 |
29,9 |
25,3 |
||
|
Com alguma frequência N=210 (41,8%) |
38,2 |
44,0 |
32,2 |
48,3 |
||
|
Raramente/Nunca N=175 (34,9%) |
43,4 |
34,1 |
37,9 |
26,4 |
||
Quadro VII
|
Escalões Etários |
|
||||
|
Ver Televisão |
Até 20 N=77 (15,2%) |
21-30 N=256 (50,4%) |
31-40 N=89 (17,5%) |
Mais de 40 N=86 (16,9%) |
||
|
Frequentemente N=422 (83,1%) |
87,0 |
80,9 |
83,1 |
86,0 |
||
|
Com alguma frequência N=5 (1,0%) |
1,3 |
1,2 |
1,1 |
|
||
|
Raramente/Nunca N=81 (15,9%) |
11,7 |
18,0 |
15,7 |
14,0 |
||
Quadro VIII
|
Escalões Etários |
|
||||
|
Ler Livros |
Até 20 N=77 (15,4%) |
21-30 N=251 (50,1%) |
31-40 N=86 (17,2%) |
Mais de 40 N=87 (17,4%) |
||
|
Frequentemente N=342 (68,3%) |
58,4 |
70,5 |
72,1 |
66,7 |
||
|
Com alguma frequência N=78 (15,6%) |
22,1 |
15,1 |
8,1 |
18,4 |
||
|
Raramente/Nunca N=81 (16,2%) |
19,5 |
14,3 |
19,8 |
14,9 |
||
Quadro IX
|
Escalões Etários |
|
||||
|
Ler Jornais |
Até 20 N=76 (15,1%) |
21-30 N=255 (50,6%) |
31-40 N=86 (17,1%) |
Mais de 40 N=87 (17,3%) |
||
|
Frequentemente N=396 (78,6%) |
53,9 |
79,6 |
86,0 |
89,7 |
||
|
Com alguma frequência N=38 (7,5%) |
17,1 |
7,1 |
3,5 |
4,6 |
||
|
Raramente/Nunca N=70 (13,5%) |
28,9 |
13,3 |
10,5 |
5,7 |
||
Quadro X
|
Escalões Etários |
|
||||
|
Ler Revistas |
Até 20 N=77 (15,5%) |
21-30 N=252 (50,7%) |
31-40 N=85 (17,1%) |
Mais de 40 N=83 (16,7%) |
||
|
Frequentemente N=396 (78,6%) |
70,1 |
69,8 |
64,7 |
66,3 |
||
|
Com alguma frequência N=38 (7,5%) |
16,9 |
20,6 |
28,2 |
20,5 |
||
|
Raramente/Nunca N=70 (13,5%) |
13,0 |
9,5 |
7,1 |
13,3 |
||
Quadro XI
|
Sexo |
|||
|
Ler Revistas |
Masculino N=182 (46,0%) |
Feminino N=214 (54,0%) |
|
|
|
Frequentemente N=18 (4,5%) |
5,5 |
3,7 |
|
|
|
Com alguma frequência N=265 (66,9%) |
68,1 |
65,9 |
|
|
|
Raramente/Nunca N=113 (28,5%) |
26,4 |
30,4 |
|
|
Quadro XII
|
Situação na Trajectória |
||||
|
Espaço Frequentado |
Trajectórias Ascendentes N=189 (42,8%) |
Situações de Reprodução N=224 (50,7%) |
Trajectórias Descendentes N=29 (6,6%) |
|
|
|
B Flat N=122 (27,6%) |
30,7 |
26,3 |
17,2 |
|
|
|
Praia da Luz N=79 (17,9%) |
12,2 |
21,9 |
24,1 |
|
|
|
Rivoli N=241 (54,5%) |
57,1 |
51,8 |
58,6 |
|
|
Quadro XIII
|
Espaço Frequentado |
||||
|
Música – Consagrados Modernos |
B Flat N=103 (26,2%) |
Praia da Luz N=63 (16,0%) |
Rivoli N=227 (57,8%) |
|
|
|
Nulo Grau de Identificação N=43 (10,9%) |
12,6 |
4,8 |
11,9 |
|
|
|
Baixo Grau de Identificação N=242 (61,6%) |
66,0 |
54,0 |
61,7 |
|
|
|
Médio Grau de identificação N=77 (19,6%) |
16,5 |
28,6 |
18,5 |
|
|
|
Alto Grau de Identificação N=31 (7,9%) |
4,9 |
12,7 |
7,9 |
|
|
Quadro XIV
|
Espaço Frequentado |
||||
|
Música – Não Consagrados |
B Flat N=103 (26,2%) |
Praia da Luz N=63 (16,0%) |
Rivoli N=227 (57,8%) |
|
|
|
Nulo Grau de Identificação N=180 (45,8%) |
49,5 |
22,2 |
50,7 |
|
|
|
Baixo Grau de Identificação N=190 (48,3%) |
45,6 |
65,1 |
44,9 |
|
|
|
Médio Grau de identificação N=22 (5,6%) |
3,9 |
12,7 |
4,4 |
|
|
|
Alto Grau de Identificação N=1 (0,3%) |
1,0 |
|
|
|
|
Quadro XV
|
Espaço Frequentado |
||||
|
Cinema – Consagrados Clássicos |
B Flat N=64 (22,9%) |
Praia da Luz N=53 (18,0%) |
Rivoli N=162 (58,1%) |
|
|
|
Nulo Grau de Identificação N=49 (17,6%) |
15,6 |
24,5 |
16,0 |
|
|
|
Baixo Grau de Identificação N=95 (34,1%) |
28,1 |
41,5 |
34,0 |
|
|
|
Médio Grau de identificação N=92 (33,0%) |
37,5 |
24,5 |
34,0 |
|
|
|
Alto Grau de Identificação N=43 (15,4%) |
18,8 |
9,4 |
16,0 |
|
|
Quadro XVI
|
Espaço Frequentado |
||||
|
Cinema – Consagrados Modernos |
B Flat N=64 (22,9%) |
Praia da Luz N=53 (18,0%) |
Rivoli N=162 (58,1%) |
|
|
|
Nulo Grau de Identificação N=53 (19,0%) |
9,4 |
22,6 |
21,6 |
|
|
|
Baixo Grau de Identificação N=157 (56,3%) |
65,6 |
62,3 |
50,6 |
|
|
|
Médio Grau de identificação N=50 (17,9%) |
18,8 |
11,3 |
19,8 |
|
|
|
Alto Grau de Identificação N=19 (6,8%) |
6,3 |
3,8 |
8,0 |
|
|
Quadro
XVII
|
Espaço Frequentado |
||||
|
Cinema – Não Consagrados |
B Flat N=64 (22,9%) |
Praia da Luz N=53 (18,0%) |
Rivoli N=162 (58,1%) |
|
|
|
Nulo Grau de Identificação N=67 (24,0%) |
25,0 |
17,0 |
25,9 |
|
|
|
Baixo Grau de Identificação N=140 (50,2%) |
56,3 |
50,9 |
47,5 |
|
|
|
Médio Grau de identificação N=45 (16,1%) |
15,6 |
18,9 |
15,4 |
|
|
|
Alto Grau de Identificação N=27 (9,7%) |
3,1 |
13,2 |
11,1 |
|
|
Quadro XVIII
|
Espaço Frequentado |
||||
|
Literatura – Consagrados Clássicos |
B Flat N=67 (22,4%) |
Praia da Luz N=50 (16,7%) |
Rivoli N=182 (60,9%) |
|
|
|
Nulo Grau de Identificação N=14 (4,7%) |
4,5 |
8,0 |
3,8 |
|
|
|
Baixo Grau de Identificação N=159 (53,2%) |
49,3 |
60,0 |
52,7 |
|
|
|
Médio Grau de identificação N=79 (26,4%) |
31,3 |
18,0 |
26,9 |
|
|
|
Alto Grau de Identificação N=47 (15,7%) |
14,9 |
14,0 |
16,5 |
|
|
Quadro XIX
|
Espaço Frequentado |
||||
|
Literatura – Consagrados Modernos |
B Flat N=67 (22,4%) |
Praia da Luz N=50 (16,7%) |
Rivoli N=182 (60,9%) |
|
|
|
Nulo Grau de Identificação N=13 (4,3%) |
6,0 |
4,0 |
3,8 |
|
|
|
Baixo Grau de Identificação N=164 (54,8%) |
53,7 |
56,0 |
54,9 |
|
|
|
Médio Grau de identificação N=97 (32,4%) |
34,3 |
32,0 |
31,9 |
|
|
|
Alto Grau de Identificação N=25 (8,4%) |
6,0 |
8,0 |
9,3 |
|
|
Quadro XX
|
Espaço Frequentado |
||||
|
Literatura – Não Consagrados |
B Flat N=67 (22,4%) |
Praia da Luz N=50 (16,7%) |
Rivoli N=182 (60,9%) |
|
|
|
Nulo Grau de Identificação N=189 (63,2%) |
65,7 |
58,0 |
63,7 |
|
|
|
Baixo Grau de Identificação N=89 (29,8%) |
31,3 |
32,0 |
28,6 |
|
|
|
Médio Grau de identificação N=18 (6,0%) |
3,0 |
8,0 |
6,6 |
|
|
|
Alto Grau de Identificação N=3 (1,0%) |
|
2,0 |
1,1 |
|
|
Quadro XXI
|
Capital Escolar de Ego |
||||
|
Ir ao Teatro |
Baixo N=30 (6,1%) |
Médio N=100 (20,4%) |
Alto N=360 (73,5%) |
|
|
|
Frequentemente N=79 (16,1%) |
13,3 |
17,0 |
16,1 |
|
|
|
Com alguma frequência N=128 (26,1%) |
20,0 |
22,0 |
27,8 |
|
|
|
Raramente/Nunca N=283 (57,8%) |
66,7 |
61,0 |
56,1 |
|
|
Quadro XXII
|
Capital Escolar de Ego |
||||
|
Ir a Concertos de Música Clássica |
Baixo N=29 (5,9%) |
Médio N=103 (20,9%) |
Alto N=362 (73,3%) |
|
|
|
Frequentemente N=48 (9,7%) |
6,9 |
7,8 |
10,5 |
|
|
|
Com alguma frequência N=108 (21,9%) |
17,2 |
18,4 |
23,2 |
|
|
|
Raramente/Nunca N=338 (68,4%) |
75,9 |
73,8 |
66,3 |
|
|
Quadro XXIII
|
Capital Escolar de Ego |
||||
|
Visitar Museus, Exposições |
Baixo N=29 (5,9%) |
Médio N=104 (21,1%) |
Alto N=361 (73,1%) |
|
|
|
Frequentemente N=118 (23,9%) |
20,7 |
19,2 |
25,5 |
|
|
|
Com alguma frequência N=204 (41,3%) |
24,1 |
34,6 |
44,6 |
|
|
|
Raramente/Nunca N=172 (34,8%) |
55,2 |
46,2 |
29,9 |
|
|
Quadro XXIV
|
Capital Escolar de Ego |
||||
|
Fazer Fotografia (sem ser em festas ou férias) |
Baixo N=29 (5,9%) |
Médio N=104 (21,0%) |
Alto N=363 (73,2%) |
|
|
|
Frequentemente N=77 (15,5%) |
|
17,3 |
16,3 |
|
|
|
Com alguma frequência N=78 (15,7%) |
20,7 |
9,6 |
17,1 |
|
|
|
Raramente/Nunca N=341 (68,8%) |
79,3 |
73,1 |
66,7 |
|
|
Quadro XXV
|
Capital Escolar de Ego |
||||
|
Ir ao Cinema |
Baixo N=28 (5,7%) |
Médio N=103 (20,9%) |
Alto N=363 (73,5%) |
|
|
|
Frequentemente N=265 (53,6%) |
25,0 |
38,8 |
60,1 |
|
|
|
Com alguma frequência N=155 (31,4%) |
53,6 |
41,7 |
26,7 |
|
|
|
Raramente/Nunca N=74 (15,0%) |
21,4 |
19,4 |
13,2 |
|
|
Quadro XXVI
|
Capital Escolar de Ego |
||||
|
Artes Plásticas (Pintar, Desenhar) |
Baixo N=28 (5,7%) |
Médio N=105 (21,3%) |
Alto N=361 (73,1%) |
|
|
|
Frequentemente N=97 (19,6%) |
10,7 |
21,0 |
19,9 |
|
|
|
Com alguma frequência N=39 (7,9%) |
21,4 |
2,9 |
8,3 |
|
|
|
Raramente/Nunca N=358 (72,5%) |
67,9 |
76,2 |
71,7 |
|
|
Quadro XXVII
|
Capital Escolar de Ego |
||||
|
Escrever Poemas, Contos |
Baixo N=29 (5,9%) |
Médio N=103 (21,0%) |
Alto N=361 (73,1%) |
|
|
|
Frequentemente N=68 (13,8%) |
24,1 |
14,6 |
12,8 |
|
|
|
Com alguma frequência N=42 (8,6%) |
10,3 |
9,7 |
8,1 |
|
|
|
Raramente/Nunca N=381 (77,6%) |
65,5 |
75,7 |
79,1 |
|
|
Quadro XXVIII
|
Capital Escolar de Ego |
||||
|
Ver Televisão |
Baixo N=29 (5,8%) |
Médio N=105 (21,1%) |
Alto N=364 (73,1%) |
|
|
|
Frequentemente N=413 (82,9%) |
93,1 |
82,9 |
82,1 |
|
|
|
Com alguma frequência N=5 (1,0%) |
3,4 |
1,0 |
0,8 |
|
|
|
Raramente/Nunca N=80 (16,1%) |
3,4 |
16,2 |
17,0 |
|
|
Quadro XXIX
|
Capital Escolar de Ego |
||||
|
Ler Livros |
Baixo N=29 (5,9%) |
Médio N=102 (20,7%) |
Alto N=361 (73,4%) |
|
|
|
Frequentemente N=338 (68,7%) |
62,1 |
56,9 |
72,6 |
|
|
|
Com alguma frequência N=77 (15,7%) |
17,2 |
22,5 |
13,6 |
|
|
|
Raramente/Nunca N=77 (15,7%) |
20,7 |
20,6 |
13,9 |
|
|
Quadro XXX
|
Capital Escolar de Ego |
||||
|
Ler Jornais |
Baixo N=28 (5,7%) |
Médio N=105 (21,2%) |
Alto N=362 (73,1%) |
|
|
|
Frequentemente N=390 (78,8%) |
67,9 |
69,5 |
82,3 |
|
|
|
Com alguma frequência N=36 (7,3%) |
7,1 |
11,4 |
6,1 |
|
|
|
Raramente/Nunca N=69 (13,9%) |
25,0 |
19,0 |
11,6 |
|
|
Quadro XXXI
|
Situação na Trajectória |
||||
|
Cinema – Consagrados Clássicos |
Trajectórias Ascendentes N=98 (41,7%) |
Situações de Reprodução N=117 (49,8%) |
Trajectórias Descendentes N=20 (8,5%) |
|
|
|
Nulo Grau de Identificação N=39 (16,6%) |
15,3 |
17,1 |
20,0 |
|
|
|
Baixo Grau de Identificação N=77 (32,8%) |
31,6 |
29,1 |
60,0 |
|
|
|
Médio Grau de identificação N=80 (34,0%) |
32,7 |
38,5 |
15,0 |
|
|
|
Alto Grau de Identificação N=39 (16,6%) |
20,4 |
15,4 |
5,0 |
|
|
Quadro XXXII
|
Situação na Trajectória |
||||
|
Cinema – Consagrados Modernos |
Trajectórias Ascendentes N=98 (41,7%) |
Situações de Reprodução N=117 (49,8%) |
Trajectórias Descendentes N=20 (8,5%) |
|
|
|
Nulo Grau de Identificação N=45 (19,1%) |
21,4 |
20,5 |
|
|
|
|
Baixo Grau de Identificação N=126 (53,6%) |
50,0 |
53,0 |
75,0 |
|
|
|
Médio Grau de identificação N=46 (19,6%) |
19,4 |
20,5 |
15,0 |
|
|
|
Alto Grau de Identificação N=18 (7,7%) |
9,2 |
6,0 |
10,0 |
|
|
Quadro
XXXIII
|
Situação na Trajectória |
||||
|
Cinema – Não Consagrados |
Trajectórias Ascendentes N=98 (41,7%) |
Situações de Reprodução N=117 (49,8%) |
Trajectórias Descendentes N=20 (8,5%) |
|
|
|
Nulo Grau de Identificação N=64 (27,2%) |
30,6 |
25,6 |
20,0 |
|
|
|
Baixo Grau de Identificação N=117 (49,8%) |
44,9 |
53,0 |
55,0 |
|
|
|
Médio Grau de identificação N=34 (14,5%) |
16,3 |
11,1 |
25,0 |
|
|
|
Alto Grau de Identificação N=20 (8,5%) |
8,2 |
10,3 |
|
|
|
Quadro
XXXIV
|
Situação na Trajectória |
||||
|
Literatura – Consagrados Clássicos |
Trajectórias Ascendentes N=113 (43,5%) |
Situações de Reprodução N=132 (50,8%) |
Trajectórias Descendentes N=15 (5,8%) |
|
|
|
Nulo Grau de Identificação N=11 (4,2%) |
3,5 |
5,3 |
|
|
|
|
Baixo Grau de Identificação N=143 (55,0%) |
59,3 |
50,8 |
60,0 |
|
|
|
Médio Grau de identificação N=71 (27,3%) |
24,8 |
31,1 |
13,3 |
|
|
|
Alto Grau de Identificação N=35 (13,5%) |
12,4 |
12,9 |
26,7 |
|
|
Quadro
XXXV
|
Situação na Trajectória |
||||
|
Literatura – Consagrados Modernos |
Trajectórias Ascendentes N=113 (43,5%) |
Situações de Reprodução N=132 (50,8%) |
Trajectórias Descendentes N=15 (5,8%) |
|
|
|
Nulo Grau de Identificação N=13 (5,0%) |
2,7 |
5,3 |
20,0 |
|
|
|
Baixo Grau de Identificação N=138 (53,1%) |
52,2 |
53,8 |
53,3 |
|
|
|
Médio Grau de identificação N=71 (32,3%) |
31,9 |
33,3 |
26,7 |
|
|
|
Alto Grau de Identificação N=35 (9,6%) |
13,3 |
7,6 |
|
|
|
Quadro
XXXVI
|
Situação na Trajectória |
||||
|
Literatura – Não Consagrados |
Trajectórias Ascendentes N=113 (43,5%) |
Situações de Reprodução N=132 (50,8%) |
Trajectórias Descendentes N=15 (5,8%) |
|
|
|
Nulo Grau de Identificação N=161 (61,9%) |
59,3 |
65,9 |
46,7 |
|
|
|
Baixo Grau de Identificação N=83 (31,9%) |
31,9 |
29,5 |
53,3 |
|
|
|
Médio Grau de identificação N=15 (5,8%) |
8,0 |
4,5 |
|
|
|
|
Alto Grau de Identificação N=1 (0,4%) |
0,9 |
|
|
|
|
Quadro
XXXVII
|
Situação na Trajectória |
||||
|
Música – Consagrados Clássicos |
Trajectórias Ascendentes N=142 (42,9%) |
Situações de Reprodução N=165 (49,8%) |
Trajectórias Descendentes N=24 (7,3%) |
|
|
|
Nulo Grau de Identificação N=44 (13,3%) |
16,9 |
10,3 |
12,5 |
|
|
|
Baixo Grau de Identificação N=133 (40,2%) |
43,0 |
38,2 |
37,5 |
|
|
|
Médio Grau de identificação N=71 (21,5%) |
16,9 |
24,8 |
25,0 |
|
|
|
Alto Grau de Identificação N=83 (25,1%) |
23,2 |
26,7 |
25,0 |
|
|
Quadro XXXVIII
|
Situação na Trajectória |
||||
|
Música – Consagrados Modernos |
Trajectórias Ascendentes N=142 (42,9%) |
Situações de Reprodução N=165 (49,8%) |
Trajectórias Descendentes N=24 (7,3%) |
|
|
|
Nulo Grau de Identificação N=33 (10,0%) |
10,6 |
10,3 |
4,2 |
|
|
|
Baixo Grau de Identificação N=201 (60,7%) |
58,5 |
61,8 |
66,7 |
|
|
|
Médio Grau de identificação N=69 (20,8%) |
22,5 |
19,4 |
20,8 |
|
|
|
Alto Grau de Identificação N=28 (8,5%) |
8,5 |
8,5 |
8,3 |
|
|
Quadro
XXXIX
|
Situação na Trajectória |
||||
|
Música – Não Consagrados |
Trajectórias Ascendentes N=142 (42,9%) |
Situações de Reprodução N=165 (49,8%) |
Trajectórias Descendentes N=24 (7,3%) |
|
|
|
Nulo Grau de Identificação N=159 (48,0%) |
46,5 |
49,7 |
45,8 |
|
|
|
Baixo Grau de Identificação N=152 (45,9%) |
43,7 |
47,3 |
50,0 |
|
|
|
Médio Grau de identificação N=19 (5,7%) |
9,2 |
3,0 |
4,2 |
|
|
|
Alto Grau de Identificação N=1 (0,3%) |
0,7 |
|
|
|
|
ÍNDICE
INTRODUÇÃO
- FUGA E PARTITURA OU UMA METÁFORA PARA UMA DISSERTAÇÃO
CAPÍTULO
I - ITINERÁRIO TEÓRICO EM TORNO DA PRODUÇÃO DOS FENÓMENOS SIMBÓLICOS
Ponto de partida: a trilogia dos
fundadores...................................................p. 14
1.1.
Karl
marx e o materialismo histórico.............................................................p. 14
1.2.
Émile
Durkheim e a tendência para a reificação da sociedade...................p. 20
1.3.
Max
Weber e a produção de
sentido..............................................................p. 28
1.4.
Breve
balanço.....................................................................................................p.
33
2.
Tendências
actuais da sociologia no estudo da cultura..................................p.
35
2.1. A análise da vida quotidiana:
fenomenologia social, etnometodologia e interaccionismo simbólico
2.2. A sociedade como totalidade:
funcionalismo, estruturalismo e pós-estruturalismo
2.3. Breve balanço e
reencaminhamento em direcção à complexidade..............p. 51
2.4. Algumas "teorias de
síntese"............................................................................p.
57
2.4.1. Clifford Geertz e a concepção
semiótica de cultura....................................p. 58
2.4.2. Peter Berger e Thomas
Luckmann - a construção social da realidade
2.4.3. Pierre Bourdieu e o
conhecimento prático do mundo................................p. 63
2.4.4. Anthony Giddens e a teoria da
estruturação...............................................p. 68
3. Novo ponto de partida em direcção a uma análise pluriperspectivada dos fenómenos
culturais
CAPÍTULO
II - O LUGAR DOS
PÚBLICOS......................................................p. 80
2.1. De um modelo estático e hierarquizado
dos níveis de cultura a um modelo dinâmico e plural
2.2. Diferentes olhares sobre o
lugar dos públicos e os gostos culturais............p. 92
2.2.1. A lógica das
homologias..................................................................................p.
92
2.2.2. Perspectivas complementares
e/ou alternativas - a questão pós-moderna
3.
Transformações
na esfera das identidades....................................................p.
111
CAPÍTULO
III - Os públicos em acção ou o ofício de receptor........................p.
114
1.
Análise
da recepção cultural como prática
social.........................................p. 114
2. A resistência cultural e as classes
populares....................................................p. 127
3. Diferentes tipos de recepção cultural e o
papel da animação sócio-cultural
4. Os contextos da
recepção....................................................................................p.
138
5. O estético no quotidiano e a dupla função
da moda
CAPÍTULO
IV - A CULTURA N(D)A CIDADE
1. A cidade e os comportamentos humanos:
diferentes perspectivas
2. A cidade e a apropriação do espaço
3. Redução semântica versus explosão do simbólico
4. Intervenção cultural em espaço urbano
CAPÍTULO V - POLÍTICAS E PRÁTICAS CULTURAIS
EM PORTUGAL: PONTO DE SITUAÇÃO E GRANDES TENDÊNCIAS
1.Uma visão de conjunto
1.1.
A
domesticidade e a sedentarização cultural
1.2.
O peso
do capital escolar
1.3. A juvenilidade das práticas culturais
1.4. Distinções segundo o género
2. Uma exclusão amplamente partilhada
3. Uma política cultural inexistente?
CAPÍTULO
VI - BREVE RETRATO DA SOCIEDADE PORTUGUESA NOS ANOS 90
1. Da necessidade de contextualizar as
práticas culturais
2. Evolução demográfica e reordenamento do
território
3. Reordenamento do território e assimetrias
regionais: retrato de um país a várias velocidades
3.1.
A sociedade
dualista
3.2.
A
complexificação do xadrez territorial
3.3.
O
modelo de desenvolvimento português: rupturas e permanência
CAPÍTULO
VII - O PORTO DOS ANOS 90
1. O Norte no conjunto do país
2. A área metropolitana do Porto no conjunto
do Norte
3. O Porto no conjunto da área metropolitana
4. Novo ponto de partida
CAPÍTULO VIII - DO PORTO ROMÂNTICO À CIDADE
DOS CENTROS COMERCIAIS. BREVE VIAGEM PELO TEMPO
I. O Porto de Oitocentos
1. A burguesia triunfante
2. Vida cultural, sociabilidades e estilos de
vida da «boa sociedade»
3. O reverso da «boa sociedade»
II. O novo século
1. As novidades
2. Uma nova realidade: a metrópole
3. Um período de discrição e
semiclandestinidade
4. Uma nova fase: a aplicação de uma política
cultural autárquica
5. As novas faces da cidade
CAPÍTULO
IX - ESTRATÉGIAS DE PESQUISA
1. Elogio do ecletismo metodológico
2. Breve reflexão sobre as técnicas
utilizadas
2.1. Análise documental de fontes
estatísticas
2.2. Entrevistas exploratórias
2.3. O inquérito por questionário
2.4. As entrevistas semi-directivas
2.5. A observação directa
3. Um estudo de casos comparativo
4. Uma nova grelha de classificação das
práticas culturais
CAPÍTULO
X - ESPAÇOS E TEMPOS DE UMA INVESTIGAÇÃO
1.Rivoli: a fénix renascida
1.1.
Breve historial
1.2.Um
novo modelo organizacional e de programação cultural
1.3. As expectativas do campo cultural portuense
2. A esplanada da Praia da Luz
2.1. Uma certa cultura mundana
2.2. A programação: uma ilustração da expansão do
campo cultural
3. B Flat: um clube de jazz?
3.1. Um francês em Portugal
4. As «vozes» da noite
4.1. Os lugares da noite
4.2. A noite e os seus paradoxos
CAPÍTULO
XI - DOS PÚBLICOS, DA CULTURA E DAS SUAS PRÁTICAS
1. Caracterização genérica
1.1. Uma «cultura jovem»
2. Género: o fim do «duplo padrão» de comportamento?
3.1. Espaços, perfis de públicos e
formas de apresentação
3.1.1. Praia da Luz ou a cidade e a
moda: em direcção a um habitus
plasticizado?
3.1.2. B Flat: ecletismo, mas
3.1.3. Rivoli
3.2. Espaço, competências e modelos
simbólicos dos públicos
3.4. Breve síntese8
A) Praia da Luz
B)
B Flat
C) Rivoli
4. Capital escolar, trajectórias sociais e práticas culturais
4.1. Estrutura do capital escolar: o peso da origem
social e a correcção da trajectória
4.2. Da insuficiência do capital escolar como
princípio explicativo
4.3. Da desertificação do espaço público e suas
consequências
4.4. Cultura e redes sociais
CAPÍTULO
XII - DA RECEPÇÃO CULTURAL
1. A recepção, o corpo e os seus contextos
1.1. As palmas ou a ambivalência dos comportamentos
1.2. Theatrum mundi ou o palco do público
2. Recepção cultural e horizonte de
expectativa
3. Representações sociais da recepção
4. Televisão e fast thinkin
CAPÍTULO
XIII - DOZE CONCLUSÕES PARA UMA TESE
1. Doze conclusões
2. Uma tese: a (pós)modernidade num continuum
BIBLIOGRAFIA
1. Livros
2. Artigos
ANEXOS
Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V